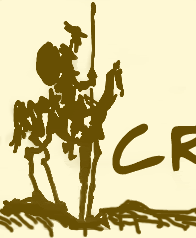


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quarta-feira, fevereiro 26, 2014
FIERRO, DE RELANCINA
Tenho uma definição muito pessoal de gaúcho. Se interpelar alguém com os primeiros versos de Martín Fierro e se meu interlocutor não continuar a sextilha, não é gaúcho. Pode ser até rio-grandense, mas gaúcho não é. Não se pode confundir este personagem ligado à pampa e ao cavalo, com seres urbanos nascidos no asfalto.
Em algum final de noite dos anos 90 em Paris, encontrei uma uruguaia que vivia na Noruega, em Oslo, e se dizia gaúcha. Dei o santo:
Aqui me pongo a cantar
al compás de la vigüela,
Ela deu a senha:
que el hombre que lo desvela
una pena estrordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.
Era gaúcha, sem dúvida alguma. O mesmo eu não poderia afirmar das centenas de pessoas que encontrei em meus dias de Porto Alegre. Pois o poema maior que o continente latino-americano deu à literatura universal, de um modo geral, é desconhecido pelos habitantes da capital de um Estado que se pretende gaúcho.
Alguns anos antes da reunificação alemã, estive em Berlim Ocidental, em plena "Semana Martín Fierro". Era hóspede de uma estudante de Letras de origem italiana, nascida no Rio Grande do Sul. Ela não sabia se José Hernández era açougueiro ou alfaiate. Quando soube que o poema começara a ser escrito no exílio do senador argentino em Santana do Livramento, achou que eu delirava. Foi consultar uma enciclopédia literária alemã, lá estaria a verdade. Pois lá estava a verdade: os dicionaristas concediam várias páginas a nosso vizinho e o comparavam – nada mais, nada menos – a Homero.
Em Paris, quando defendia uma tese de doutorado em Literatura Comparada, tive a honra de ter no júri M. Paul Verdevoye. A parte de ser um dos grandes divulgadores da literatura latino-americana na Europa, era o tradutor do poema de Hernández ao francês. Tradução a meu ver inviável. Mas - diz-se entre tradutores - se traduzir é impossível, traduzir também é necessário:
Ici je m'mets a chanter
aux accords de ma guitare.
L’homme que tient éveillé
une peine extrardinaire,
comme l’oiseau solitaire,
en chantant peut s’consoler.
E já que estamos falando do impossível, não resisto à tentação de reproduzir o esforço de Folco Testena. Por inusitado que soe, a tradução italiana parece ser uma das mais próximas do poema de Hernández:
Incomincio qui a cantare
pizzicando la mandola.
L'uomo, si anche di una sola
pena in cuor sente il rovello,
come solitario augello
con il canto si consola.
Tive ainda um outro reencontro com estes versos de minha infância lá no outro lado do Atlântico. Em Las Palmas de Gran Canaria, encontrei um professor universitário, arabista de renome, cuja pedra de toque era o conhecimento do poema argentino. Naquela ilha vulcânica, batida pelos ventos da África, tão estranha à pampa gaúcha, o homem deslumbrava platéias canarinas recitando a saga de Fierro.
Gaúcho de Livramento, nasci embalado pelas sextilhas hernandianas. Nas madrugadas lá da Linha, na fronteira seca entre Uruguai e Brasil, antes de buscar as vacas em meio à cerração, sempre se tomava um mate ao redor do fogo no galpão. Enquanto eu chorava com a fumaça de algum cavaco de madeira verde, meu pai recitava as coplas de Fierro.
Chamavam-no de Canário. Não era homem de Letras. Se lhe perguntassem onde ficava a Europa, meu pai diria sem vacilar: “é lá pras bandas de Passo Fundo”. No que não deixava de ter razão. Vista de um homem postado em Livramento, a Europa fica sem dúvida para os lados de Passo Fundo. No entanto, conhecia de cor centenas de versos de Fierro. Não sei se ouvira falar de Hernández. E aqui se revela o milagre da grande arte: como no Quixote, o personagem acaba por matar o autor. Fierro, para os gaúchos da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, era um índio vago que por ali havia passado, sempre lutando para defender seu pelego. Talvez até mesmo estivesse vivo, sempre fugindo de “la polecía”.
José Hernández, nuestro vecino, terá sido um dos raros poetas a sentir, ainda em vida, a ventura de ter sido morto pelo personagem que criou. Antes mesmo da publicação da segunda parte do poema, já era conhecido como Martín Fierro: “Soy un padre al cual le ha dado su nombre su hijo”, costumava dizer. Ao morrer, um jornal de La Plata deu-lhe a honra deste necrológio:
Ha muerto el senador Martín Fierro
Deslumbrados pelos brilhos teóricos emanados de Paris ou Moscou, os donos da cultura no Rio Grande do Sul, intelectuais porto-alegrenses que nada conheciam do homem do campo, ajoelharam-se em direção ao norte e deram as costas para o Prata. Pelo que ouvi em minhas universidades, raros são os acadêmicos que têm notícias deste poema maior da América Latina. A intelligentsia - ou talvez melhor disséssemos burritzia - da capital, arrinconada nos CTGs, preferiu criar uma caricatura, o “centauro dos pampas”, esse personagem ridículo e fanfarrão que nada tem a ver com o gaúcho, originalmente um pobre diabo do campo, esquecido, humilhado e massacrado pelo poder central.
Os rio-grandenses não são nada originais quando ignoram Martín Fierro, esta atitude é nacional. Ao norte do rio Uruguai, raras pessoas o conhecem. Em Florianópolis, ao propor um curso sobre o poema, os PhDeuses que me cercavam julgaram que eu estava falando grego. Hoje, em São Paulo, tenho fascinado não poucos amigos recitando as coplas de Hernández. Jamais haviam ouvido falar do homem ou da obra. Em algum momento da estruturação da literatura rio-grandense, almofadinhas da capital impuseram fronteiras culturais onde não há fronteiras: na pampa brasileira, uruguaia e argentina, geografia homogênea que produz o mesmo tipo de homem e o mesmo modo de sentir.
Com os mesmos argumentos com que Hernández foi expulso de nossa literatura, foi abafada a obra de outro grande escritor gaúcho, Aureliano Figueiredo Pinto. “Memórias do Coronel Falcão”, romance escrito em 1937 e só publicado postumamente em 1973, foi jogado às gavetas pelos donos da cultura de então, por “conter espanholismos”. Ora, se fossemos cortar do vernáculo todos os estrangeirismos adquiridos pelo português através dos séculos, ainda estaríamos falando galego.
Mas volto ao poema nascido nesta geografia de fronteira, esquecido e desprezado pelos intelectuais brasileiros, mas com prestígio nos mais importantes centros culturais do Ocidente. Em seu poema, em um castelhano rude e estropeado, Hernández canta valores eternos, pouco considerados neste século dominado por ideologias: o valor pessoal, a coragem física, a amizade, a confraternização no infortúnio. Mexe com a alma de todo homem livre o encontro de Fierro com o sargento Cruz. Quando a “polecía” o cerca, Fierro a enfrenta com a coragem da fera acuada. Cruz, que tinha a missão de aprisionar Fierro, troca de banda:
Tal vez en el corazón
lo tocó un santo bendito
a un gaucho, que pegó el grito
y dijo: “¡Cruz no consiente
que se cometa el delito
de matar ansí un valiente!
Não será fácil encontrar, na literatura universal, momento tão dramático de admiração mútua por dois homens que jamais se haviam visto e que, além disso, lutavam em campos contrários. As lutas de Fierro com o negro, com os índios e com a polícia sempre encantaram qualquer encontro que reunisse dois ou mais gaúchos. A luta com um negro em um baile é um dos momentos mais citados do poema: Fierro, embriagado - con la mamúa -, vê chegar ao baile um negro com uma negra na garupa do cavalo:
Al ver llegar la morena
Que no hacia caso de naides,
Le dije con la mamúa
"Va...ca...yendo gente al baile".
La negra entendió la cosa Y no tardó en contestarme - Mirandomé como a un perro - "Más vaca será su madre" Y dentró al baile muy tiesa
Con más cola que una zorra,
Haciendo blanquear los dientes
Lo mismo que mazamorra.
"Negra linda"... dije yo -
"Me gusta pa la carona"-
Y me puse a talariar
Esta coplita fregona:
"A los blancos hizo Dios,
A los mulatos San Pedro,
A los negros hizo el Diablo
para tisón del infierno".
Daí à luta com o negro é um passo e Fierro acaba por matá-lo. Desata as rédeas de seu cavalo e entra na noite da pampa. “Esforcei-me” - escreve Hernández - “sem saber se o consegui, em apresentar um tipo que personificasse o caráter de nossos gaúchos, concentrando o modo de ser, de sentir, de pensar e de expressar-se que lhes é peculiar; dotando-o com todos os jogos de sua imaginação cheia de imagens e de colorido, com todos os ímpetos de sua altivez, imoderados até o crime, e com todos os impulsos e arrebatamentos, filhos de uma natureza que a educação não poluiu”.
Hernández também canta a luta do indivíduo contra a adversidade, a solidão do gaúcho ante o verde da pampa, a rebelião do paisano contra as determinações da urbe. Fugindo do poder federal, Fierro, com seu súbito amigo Cruz, ao final do poema, se enfurna no deserto. É sofrida a travessia da fronteira pelos dois desertores:
Y cuando la habian pasao,
una madrugada clara,
le dijo Cruz que mirara
las últimas poblaciones;
y a Fierro dos lagrimones
le rodaron por la cara.
Y siguiendo el fiel del rumbo
se entraron en el desierto.
Estes “dos lagrimones” prometem, é claro, uma “Vuelta”, onde um Hernández mais maduro e filosófico, dará arremate ao poema. Temos então novos vultos, cada vez melhor delineados, entre estes o velhaco Viscacha, e Picardia, o filho do sargento Cruz. Se a obra começara como poema, assume agora novos personagens e sua característica definitiva de romance narrado em estrofes. Os conselhos do velho Viscacha, antes de chegar nos salões de Buenos Aires, terão aquecido as noites de muito peão de estância - o que restou do gaúcho - em torno a um fogo de chão:
El primer cuidao del hombre
es defender el pellejo;
lleváte de mi consejo,
fijáte bien lo que hablo:
el diablo sabe por diablo
pero más sabe por viejo.
Hacéte amigo del juez,
no le dés de qué quejarse;
y cuando quiera enojarse
vos te debés encojer,
pues siempre es güeno tener
palenque ande ir a rascarse.
Nunca le llevés la contra
porque él manda la gavilla;
allí sentao en su silla
ningún güey le sale bravo:
a uno le dá con el clavo
y a otro con la cantramilla.
No andés cambiando de cueva,
hacé las que hace el ratón:
conserváte en el rincón
en que empesó tu esistencia:
vaca que cambia querencia
se atrasa en la parición.
Y menudiando los tragos
aquel viejo como cerro,
“No olvidés, me decía, Fierro,
que el hombre no debe crer,
en lágrimas de muger
ni en la renguera del perro.”
“No te debés afligir
aunque el mundo se desplome:
lo que más precisa el hombre
tener, sigún yo discurro,
es la memoria del burro
que nunca olvida ande come.”
A naides tengás envidia;
es muy triste el envidiar;
cuando veás a otro ganar
a estorbarlo no te metas:
cada lechón en su teta
es el modo de mamar.
Si buscás vivir tranquilo
dedicáte a solteriar;
mas si te querés casar,
con esta alvertencia sea:
que es muy difícil guardar
prenda que otros codicean.
Nesta segunda parte do poema, Fierro trova com um moreno. Não por coincidência, seu adversário de payada é irmão do negro que há anos matara em uma pulperia. Neste nosso Brasil 97, a definição de lei proposta pelo contendor de Fierro, há mais de século, é de uma atualidade surpreendente:
La ley es tela de araña,
en mi inorancia lo esplico:
no la tema el hombre rico,
nunca la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enrieda los chicos.
Es la ley como la lluvia:
nunca puede ser pareja;
el que la aguanta se queja,
pero el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo:
no ofiende a quien lo maneja.
Le suelen llamar espada,
y el nombre le viene bien;
los que la gobiernan ven
a dónde han de dar el tajo:
le cai al que se halla abajo
y corta sin ver a quien.
Este poema universal, tão próximo de nós - sejamos gaúchos ou apenas nascidos no Rio Grande do Sul - e ao mesmo tempo tão distante, é o cerne da reflexão que proponho hoje em uma mesa redonda em Cascavel, Paraná.
Yo sé el corazón que tiene
el que con gusto me escucha.
![]()
terça-feira, fevereiro 18, 2014
OLHA E PASSA!
Quando me perguntam por minha cidade, tenho de explicar que nem em cidade nasci. Nasci no campo, em época em que não havia rádio nem televisão, e jornais obviamente não chegavam lá. Nasci longe de qualquer informação. As escassas notícias que recebíamos do mundo, tínhamos de buscá-las no município mais próximo, Dom Pedrito. Onde tampouco havia muitas notícias do mundo. Nasci, em verdade, em um deserto de informação.
Discutindo o tal de FIB, índice de Felicidade Interna Bruta, achado do Butão que está em célere implantação pela Fundação Getúlio Vargas, eu falava há algumas semanas das vantagens de morar em São Paulo em relação aos que habitam Santa Maria. Conheço as duas cidades e a mim não ocorreria compará-las. Se falei em ambas foi por ter sido o exemplo proposto pela FGV. Dizia um de meus interlocutores que, sendo cidadão do mundo, eu teria de aceitar que em Sampa me sinto mais confortável, mas se morasse em Santa Maria “não deixaria de ser o cara viajado e aberto aos bares do mundo como ele se declara”.
Sim e não. Nada impede que um santa-mariense seja um trota-mundos. Mas sempre lhe faltará informação. (Ou melhor, me corrijo: lhe faltava informação. Os tempos mudaram e a Internet nos transporta ao mundo todo. Ocorre que eu falava dos dias pré-internéticos, aqueles em que nasci e me criei). O grande drama da cidade pequena, como também do campo, sempre foi a falta de informação. E de comunicação, diria. Falo da comunicação entre pessoas. Os homens d'antanho buscavam as cidades para ouvir mais vozes.
Faltando informação, não há muito a comunicar. Neste sentido, a cidade pequena continua carente. A cidade grande tem mais opções e, conseqüentemente, amplia a mente de seus habitantes. E as ambições, é claro. Isso sem falar nas coisas que a Internet não transmite. Gastronomia, por exemplo. Para quem vive em São Paulo, sem ir mais longe, Santa Maria é um breve contra a gula. Restaurantes escassos e precários, que deixam de servir às duas da tarde e comida sem muita elaboração.
Aqui perto de casa, na praça Vilaboim, em uma extensão de cento e poucos metros, há um restaurante francês, dois italianos, um alemão, dois japoneses, um brasileiro, um mexicano, um americano, um árabe, uma sorveteria da Häagen Dazs. E mais uma padaria, lembrando que padaria em São Paulo é mais uma loja de delikatessen que padaria. Muitas são restaurantes. Ali, tenho oito opções de culinária a poucos metros de distância uma da outra. Isso sem falar em meu bairro e – last but not least – na São Paulo toda. Talvez daqui a um século, Santa Maria chegue lá. (Ao nível da Vilaboim, saliento).
Certo dia, em Santa Maria, fui almoçar no Augustus com uma sobrinha. Devo ter chegado lá pelas 13h30. Como não como sem antes aperitivar, lá pelas duas ainda não havia pedido o prato. A los dos en punto de la tarde, o restaurante se esvaziou. Um garçom me olhava angustiado no balcão. Chamei-o. Escuta aqui, companheiro, queres ir embora, não é isso? É! Então faz o seguinte: me serve, me abre um vinho, me passa a conta e vai tratar de tua vida. Eu fecho o restaurante. Ele topou. Gostei da fórmula. Dia seguinte, fui lá de novo, com outra amiga. Fiz a proposta já na chegada. Conversando, a gente se entende.
Se as pessoas podem ser felizes em Santa Maria? Claro que podem. Até em Dom Pedrito há pessoas felizes. Minha professora de francês dos dias de ginásio – hoje perto dos 80 e com uma vitalidade extraordinária – vive feliz em Dom Pedrito. Não diria que totalmente feliz, porque considera a cidade muito grande e muito agitada. Gostaria de se refugiar em cidade menor. Quando passo por lá, em três dias me entedio como uma ostra em sua concha. Preciso ir a Rivera para respirar um pouco e comer algo decente. O que estou afirmando, no fundo, é que é mais confortável viver em cidade grande. Abre mais os horizontes. Uma criança nascida e educada aqui, obviamente tem mais cancha que outra nascida e educada no interior do Rio Grande do Sul.
Se eu morasse em Santa Maria me sentiria muito desconfortável. Sem falar em gastronomia, não teria imprensa que preste. Hoje temos Internet, mas nem sempre foi assim. Muito menos a diversidade de livrarias, cinemas e teatros daqui. (Verdade que não vou a teatro, mas é bom que tenha). Filmes e livros que chegam aqui jamais chegarão em Santa Maria. Aí – onde aliás tenho dois ramos de minha família e amigos dos tempos de faculdade - a fauna humana tampouco é diversificada. Há algum tempo, em meu boteco, eu conversava com um correspondente internacional da Folha de São Paulo. Dali a pouco, chegou um professor de grego da USP. Mais alguns minutos, e reuniu-se ao grupo um professor de latim. Todos jovens. Perguntei ao professor de grego porque fizera aquela opção. “Porque queria ler Platão no original”. Temos de convir que encontros assim, ao sabor do acaso, são inviáveis em Santa Maria.
Outra grande vantagem de São Paulo é que não preciso ir a São Paulo para embarcar para Paris. Santa Maria está estrangulada pela escassez de transportes. Por avião, só aqueles teco-tecos da NHT, que fazem, creio, três vôos por semana. Os professores da UFSM se constrangidos quando, ao trazerem algum professor estrangeiro, têm de buscá-lo de carro em Porto Alegre. Ou jogá-lo em um ônibus. Para uma cidade que se pretende universitária, isso é muito pouco. Quando eu vivia aí, meu horizonte máximo era Porto Alegre. Talvez São Paulo. Depois, era o fim do mundo. Hoje, o mundo termina bem mais longe.
Sim, se eu morasse em Santa Maria, talvez tivesse viajado muito. Mas não tanto. Certamente seria aberto aos bares do mundo, mas esses bares estariam bem mais longe de mim do que estão hoje. Ainda há pouco, a Veja trazia em suas páginas amarelas entrevista com o urbanista Edward Glaeser, intitulada “Quanto mais gente melhor”. Entrevista que, obviamente, jamais seria feita por um repórter de A Razão, o vibrante matutino santa-mariense. Perguntava o repórter:
— Como o senhor rebate a turma que o considera um idealista do indefensável, a qualidade de vida nas grandes cidades?
Responde Glaeser:
— Ao contrário desses que se deixam levar por uma visão romanceada da vida longe das zonas urbanas, eu prefiro olhar os números. Eles mostram claramente que, sob diversos aspectos essenciais para a vida humana, não há lugar melhor para viver do que uma grande cidade. Pois é justamente em ambientes de enormes aglomerações que os mais variados talentos podem viver e aprender entre si, potencializando ao máximo sua capacidade criadora e inovadora. Aumentam assim, exponencialmente, as chances de ascender, ganhar mais e ter mais acesso ao que há de mais avançado. No passado, cidades como Nova York, Londres e Tóquio viviam de suas fábricas e de seu comércio. Hoje, são principalmente impulsionadas pelas idéias concebidas por seus milhões de habitantes. Jovens empreendedores de toda parte não querem fincar seus escritórios no campo ou em uma cidade bucólica, mas no Vale do Silício, para esbarrar com executivos do Google e se beneficiar da intensa rede de contatos que brotará daí. Nos formigueiros humanos é que está a riqueza.
Assino embaixo. Não pretendo negar as reservas de humanidade do homem que vive na cidade pequena. Nelas há mais tempo para a reflexão. Tampouco somos atocaiados pelos pássaros ávidos da fama. Há também mais tempo para a vida familiar, o que a mim pouco ou nada diz. Considero a família uma fortaleza de egoísmo, como dizia Alberto Moravia, onde os pais são os generais e os filhos são os soldados. Tenho uma acepção distinta de família. Para mim, são os amigos que reuni ao longo de minha vida, e hoje vivem mais esparramados que filhotes de perdiz. Minha família exige espaço para respirar.
Diga-se de passagem, encontro um encanto particular nas cidades pequenas. Não nas nossas, relativamente jovens e muito sem graça. Mas sempre procuro visitar, quando ando por perto, cidades como Toledo, Salamanca, Ronda, Cuenca, Siena, Amalfi, Taormina. São prenhes de história, o passado pinga de suas paredes.
Gosto de visitá-las, mas rapidinho. No máximo, esquento banco por dois dias. Mais do que isso, me entedio. Nas metrópoles, cada esquina é uma novidade. Em 86, morei por um curto período em Montparnasse, em Paris. Tentei um dia traduzir, em um texto, uma esquina do bairro. Não consegui. A diversidade era tal e tamanha que exigiria um livro. Konstantinos Kaváfis (1863 – 1933) é um poeta grego, nascido na Alexandria, Egito. Tem obra curta, 154 poemas reelaborados durante a vida inteira, que unem citações eruditas à fala cotidiana. Pouco conheço da obra de Kaváfis, mas um verso dele para mim constitui divisa:
— A cidade pequena, olha e passa.
* Abril 09, 2012. Hoje Santa Maria tem um vôo direto partindo de Campinas.
![]()
segunda-feira, fevereiro 17, 2014
ALÁ, MEU BOM ALÁ! QUE
FALTA DE CURIOSIDADE!
De um leitor, recebo:
Prezado Janer
Em janeiro deste ano, conheci um brasileiro que, tendo morado cerca de dez anos na França, veio passar este semestre no Brasil, para acertar problemas pessoais.
Ele é falante e como nos encontramos praticamente toda semana em um "espetinho de rua" (em Recife, é comum pessoas venderem "espetinhos de gato", mas com qualidade!, nas ruas, em carrocinhas; na verdade, já vendem em reboques puxados por carros, um incremento diante do sucesso desse tipo de empreendimento, apesar da recente perseguição da Prefeitura contra esses vendedores), tenho tomado ciência de muito costume francês.
Claro que já perguntei sobre os contatos sexuais e a fama das francesas de pouco apego a banhos. Mas fiquei impressionado quando ele me falou de contatos que ele teve com muçulmanos na França.
Parece você falando sobre o assunto, inclusive sobre problemas criados com a imposição da cultura muçulmana no país. Por exemplo, já foi a uma festa em que os homens comiam com as mãos no mesmo prato e, só depois, é que era a comida franqueada às mulheres.
Mas ele chegou a um detalhamento: as moças muçulmanas praticam sexo antes do casamento, apesar de serem virgens. Sim, porque ele já dormiu com duas que, peremptoriamente, se negaram ao sexo vaginal, "recebendo-o" sem dificuldades, sem dificuldades mesmo, ante a repetição da prática, pelo sexo anal.
Nada de novo sob o sol, meu caro. Nem o recurso é exclusivamente muçulmano. É possível que as muçulmanas tenham se inspirado nas francesas.Na França, temos as demi-vierges, palavra cunhada no final do século XIX por Marcel Prévost, em seu romance homônimo, de grande sucesso na época. São as meninas que têm relações sexuais com homens usando diversos métodos, mas preservando o hímen, o precioso tesouro que quando se perde não mais se encontra. Se bem que, com os milagres da cirurgia plástica, todo hímen é reciclável. Lá nos pagos onde nasci, e nos bordéis de Dom Pedrito, usava-se pedra ume para simular a virgindade. Parece que funciona.
(Pausa antes de ir adiante. Comer com as mãos é hábito em vários países muçulmanos. Já os vi em restaurantes, usando os dedos da mão direita com uma habilidade espantosa. Daí decorre outra consequência. É preciso usar a esquerda para a higiene anal, para não tornar impura a xepa).
Voltando a Prévost. O autor pintou com traços fortes os estragos que a vida parisiense e a educação moderna produziam nas jovens. O romance, publicado em 1894, foi logo encenado no ano seguinte e a palavra, no linguajar comum, passou a designar uma jovem livre mas virgem.
Pasme o leitor: em 2009, tivemos passeatas opondo o sexo anal ao capital. De Porto Alegre, recebi este mail:
Caro:
com relação ao teu artigo sobre gel lubrificante, na última edição do Fórum Social Mundial em Porto Alegre (até deves te lembrar), conforme noticiado por várias fontes, houve o dia em que um grupo marchou pelado entoando o grito de guerra: "Sexo anal derruba o capital!”
"Criança, não verás...".
Abraços.
Marco Loss
Confesso que esta eu desconhecia. Provavelmente não estava no país quando o insólito aconteceu. Com esta intrepidez da brava gauchada Marx não contava. Vai ver que se empunhasse esta bandeira, ao invés da anódina palavra de ordem “Proletários de todo mundo, uni-vos!”, o marxismo teria maior sobrevida. Só para conferir, fui dar uma olhadela na rede. Só no Google, encontro 3.610 ocorrências. Por exemplo:
O Fórum Social Mundial começou em passeata pelas ruas de Porto Alegre. Mais de 200 mil pessoas. Vieram para Porto Alegre cerca de 120 mil pessoas. Todos querendo “a construção de um outro modelo de globalização”.
A esquerda marxista marcou presença: “Marcha anticapitalista!”. Não foi hegemônica. A esquerda petista fez mais barulho: “Fora, fora daqui, Palocci, Meirelles e o FMI!”. Feministas de todas as tradições: “A nossa luta é por respeito. Mulher não é só bunda e peito”. Todas as tribos reunidas. Os gays saltitantes: “O sexo anal derruba o capital!”. Militantes petistas de todas as tendências estiveram desfilando bandeiras vermelhas à beira do Guaíba...
Esta luta renhida por um mundo melhor resultou em uma dissertação de mestrado em Antropologia Social defendida na Unicamp, em 2002, o livro Sopa de Letrinhas - Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90, de Regina Facchini, que reconstitui a trajetória do movimento homossexual no Brasil, sobretudo de meados dos anos 80, buscando situar este movimento no interior das abordagens teóricas sobre movimentos sociais e terceiro setor. A obra foi lançada pelo CLAM e pela Editora Garamond, em São Paulo, na mesma semana da 9ª Parada do Orgulho GLBT, evento que levou mais de dois milhões de pessoas à Avenida Paulista. Em entrevista publicada na rede, a autora fala de lutas e conquistas do movimento e da importância das paradas para a visibilidade homossexual.
Os grupos mais influentes no período se apresentavam como grupos de afirmação homossexual ou de ação em favor dos homossexuais. Nas passeatas era possível ouvir palavras de ordem como “o sexo anal derruba o capital”.
Eu pensava que fosse piada. Não era. Ora, que tem o dito com o capital? Na ânsia de criar um slogan de fácil memorização, as doidivanas se enganaram rotundamente. Sexo anal só favorece o capital. O movimento tomou tais proporções no mundo, que hoje movimenta desde redes hoteleiras, agências de turismo, cruzeiros, sistemas de transporte, vôos fretados, restauração, turismo especializado, até a indústria da indumentária, particularmente do couro. Os Estados Unidos, pragmáticos como todo país capitalista, há muito descobriram este mercado fabuloso e nele investem fortunas. Os homossexuais são em geral solteiros, têm alto padrão econômico e não têm filhos nem mulher a sustentar. Ou seja, constituem excelente alvo para a indústria do lazer.
Não era pois, de todo descabida, minha proposta de fornecer gel lubrificante a esta brava moçada que luta por um mundo melhor, livre das imposições do capital. A estratégia pode ser errada. O propósito era sublime.
Mas a melhor notícia me veio do Barhein. Amiga gaúcha que lá reside, contou-me que um casal de muçulmanos, intrigados por que não podiam ter filhos, foram consultar um médico. Que descobriu, para ser espanto, que o marido conhecia apenas o sexo anal. E nunca ousou explorar outra possibilidade logo ali ao lado.
Alá, meu bom Alá! Que falta de curiosidade.
![]()
domingo, fevereiro 16, 2014
GOVERNADOR PROÍBE DROGA,
PREFEITO FINANCIA CONSUMO
Decididamente, a polícia é a última a saber dos crimes. Não se espera que seja a primeira. Os primeiros são criminoso e vítima. Mas não devia ser a última. O caso do mensalão - que segundo o promotor Pedro Abi-Eçab, em entrevista para o Estadão de hoje, mostra que “deixam de existir intocáveis, o patrimônio do povo passa a ser resguardado, os mecanismos de poder se alteram” – não foi revelado pelo Ministério Público ou pela polícia, mas pela Folha de São Paulo. Não fosse uma entrevista da jornalista Renata lo Prete, no distante 2005, até hoje os mensaleiros estariam comprando leis.
Quando se trata de drogas, polícia e governo só se mexem depois de ler os jornais. Foi preciso que o Estadão revelasse hoje uma nova cracolândia no centro da cidade, para que Geraldo Alckmin descobrisse que há uma feira de drogas mais sofisticada na capital, a quatro quadras da Avenida Paulista.
O jornal flagrou ação de traficantes que abordam adolescentes na Rua Peixoto Gomide para vender maconha, cocaína, LSD e ecstasy, em reportagem com fotos onde os traficantes exercem – e não é de hoje – seu comércio. Vendedores circulam entre carros e dominam área durante as madrugadas. A polícia diz que já fez operações de repressão na região. Se fez, não faz mais.
Desta vez não se trata de um pedaço degradado da cidade, como no caso da cracolândia. Mas de zona nobre, situada na rua Peixoto Gomide, adjacências da Augusta, nas proximidades do Sírio-Libanês e de um dos cartões postais de São Paulo, o MASP, cujo vão – em prosa e verso cantado – há muito é ponto de consumo da droga que você quiser.
Segundo o jornal, os traficantes circulam entre os carros com as mãos carregadas de pinos de cocaína. Na calçada, quem passa é abordado por vendedores que oferecem maconha, comprimidos de ecstasy, cartelas coloridas de LSD e gotas de GHB - anestésico também usado como estimulante sexual. O comércio é feito em voz alta e, para atrair turistas, eles arriscam até palavras em inglês.
"Cocaína, balinha (ecstasy), doce (LSD), lança-perfume, GHB em gotas, iPhone 5S desbloqueado", gritam vários jovens ao mesmo tempo. Os traficantes têm como clientela cativa três públicos: menores de idade que bebem nas ruas, o público GLS de boates da região e turistas estrangeiros. O pino de cocaína custa R$ 20 e a cartela com 20 ácidos (LSD), R$ 200.
Assim como ambulantes que tentam vender seus produtos em pontos turísticos do Brasil, os traficantes param qualquer pedestre sem cerimônia, seja ele um menor de idade ou um adulto com mais de 50 anos. Não há restrições.
"Olha o pino, três por quatro só agora hein, cheinho até a boca", grita um dos jovens que vendem droga. Ele também carrega um tubo de adoçante com GHB. "Me dá R$ 30 e eu coloco cinco gotonas ‘servidas’ na sua boca já", oferece um traficante à reportagem do Estadão.
E ainda há quem pretenda que o consumo de drogas é ilegal no Brasil. Pior ainda, há quem pretenda descriminá-lo. Como se descriminado não estivesse. Geraldo Alckmin reagiu ainda hoje pela manhã à reportagem, afirmando que vai reforçar o combate ao tráfico de drogas na região.
Mês passado, quando a Polícia Civil e o Denarc intervieram na região, Haddad criticou o governo do Estado, afirmando que manteria o programa de reabilitação de dependentes químicos na região. Chama-se “Operação Braços Abertos”, e consiste em dar hotel, cama, comida e roupa lavada, emprego de quatro horas, e salário de R$ 15 por dia aos dependentes. Mais ainda: para entrar no programa, não precisa largar o crack.
- Pode espernear – disse então Haddad -. Nós vamos fazer o programa acontecer. O programa vai funcionar.
Alckmin retirou os cavalinhos da chuva. Agora os dependentes recebem salário para comprar mais drogas. E a polícia municipal garante o tráfico e consumo do crack. Dia seguinte à declaração de Haddad, aconteceu o que era previsível: a droga subiu de preço. A diferença foi financiada pela prefeitura.
Como dizia o promotor Pedro Abi-Eçab, “deixam de existir intocáveis, o patrimônio do povo passa a ser resguardado, os mecanismos de poder se alteram”. Se alteram mesmo. Intocáveis agora são os traficantes de drogados.
Alckmin vai reforçar o combate ao tráfico na Peixoto Gomide? Vai ser muito engraçado. A quatro ou cinco quilômetros dali, a prefeitura zela pela tranquilidade dos cracômanos.
![]()
sábado, fevereiro 15, 2014
QUANDO JOVENS
VIRAM HOMENS
Alguém ainda lembra quando Dona Dilma, em junho do ano passado, apressou-se em dizer que depredar ônibus, carros e bancos eram manifestações pacíficas próprias da democracia?
“O Brasil hoje acordou mais forte. A grandeza das manifestações de ontem comprovam (o plural é dela) a energia da nossa democracia, a força da voz das ruas e o civismo da nossa população. É bom ver tantos jovens e adultos, o neto, o pais, o avô juntos com a bandeira do Brasil cantando o hino nacional, dizendo com orgulho ‘eu sou brasileiro’ e defendendo um país melhor. O Brasil tem orgulho deles”, disse então a presidente.
Temos então que o Brasil se orgulha de seus baderneiros. Fernando Henrique Cardoso, que de seu glorioso climatério assiste de camarote os distúrbios de rua, perdeu uma ocasião única de ficar calado. Desqualificar os protestos dos jovens em São Paulo e outras capitais "como se fossem ação de baderneiros" constitui, na avaliação do ex-presidente, "um grave erro". Para ele, "dizer que essas manifestações são violentas é parcial e não resolve. É melhor entendê-las, perceber que essas manifestações decorrem da carestia, da má qualidade dos serviços públicos, das injustiças, da corrupção".
Enquanto dizia isso, os “jovens” arrombavam os portões do palácio Bandeirantes, onde governa seu companheiro de partido, Geraldo Alckmin. O governador, que uma semana antes classificara os manifestantes como "vândalos" e "baderneiros", passou então a acudir com panos quentes: "Queria fazer um elogio às lideranças do movimento e também à segurança pública e à Polícia Militar”.
Ora, se um ex-presidente, a atual presidente e o governador de São Paulo aplaudem os “jovens”, se governo e oposição endossam a violência, que resta aos "jovens" fazer? No mínimo, invadir a prefeitura de São Paulo. Que é o que tentaram fazer numa noite dos meados de junho, marcada por saques e depredações. Com o aval da Presidência da República.
- Não é preciso doutorado em sociologia ou psicologia para saber que, quanto mais violência for usada contra os jovens, maior será a violência de sua reação – escreveu na época, no Estadão, Juan Arias, correspondente do El País no Brasil -. Sempre se disse que os jovens têm vocação para incendiário, até que completam 40 anos e passam a agir como bombeiro para apagar o fogo da contestação. Se movimentos de pessoas indignadas em todo o mundo fizeram amanhecer novas primaveras de esperança de mais democracia, é de se esperar que também o Brasil saia dessas manifestações de rua e protestos por causas justas mais fortalecido em sua democracia, conquistada com tanta dor, tortura e morte. Um país que encurrala seus jovens por medo de suas reivindicações é um país perdedor”. Os “jovens”. Em francês, “les jeunes”, que é como a imprensa francesa chama os árabes e africanos que promovem quebra-quebras e incendeiam centenas de carros nas noites de réveillon.
Não sei se o leitor notou, mas depois do assassinado do cinegrafista da Band, a palavra jovem meio que sumiu dos jornais. Caio Souza e Fábio Raposo, apesar de terem 22 anos, são agora os “homens”, as “pessoas”, o tatuador, o estudante universitário. Ou atendem simplesmente pelo nome, sem nenhum qualificativo. Você jamais lerá "os jovens Caio Souza e Fernando Raposo". De repente, não mais que de repente, deixaram de ser jovens. Da noite para o dia, viraram homens. Porque jovem não mata. Matar é coisa de homens ou pessoas, tudo menos de jovens. Jovem é palavra que rima com revolução, revolta contra tudo que está aí, enfim, todas essas palavrinhas lindas que absolvem qualquer vandalismo.
Assassinato, por enquanto, é feio. Mas só por enquanto. Porque não faltam intelectuais, políticos e mesmo partidos políticos, financiando os jovens – perdão, os homens, as pessoas – que matam.
Em sua tentativa de absolver baderneiros financiados para fazer baderna, o UOL foi encontrar “rolezeiros”... em Paris. Temos então que nem a civilizada Paris permanece imune ao fenômeno. Escreve hoje Sonia Oliveira no site da Folha:
'Rolezeiros' franceses usam Nike e Zara, comem KFC e ouvem música pop Assim como São Paulo, Paris também tem seus 'rolezeiros'. Com idade média entre 15 e 17 anos, eles também capricham no visual e saem da periferia para ir para 'causar' no centro da capital francesa. O ponto de encontro é sempre o mesmo: o quadrilátero Fontaine des innocents no bairro dos Halles.
Discretos, se comparados às manifestações brasileiras, os rolês à la française acontecem há várias décadas, desde a abertura das linhas de RER (Rede Expressa Regional), que liga o subúrbio a Paris, e da construção do Forum des Halles - centro comercial-, no final dos anos 1970.
Em sua maioria estudantes, eles se aglomeram nas tardes de sábado. Sem "ídolo" nem "famosinho", têm duas motivações comuns aos meninos brasileiros: consumir e paquerar.
Ora, a correspondente pelo jeito nada viu nem leu sobre o que aconteceu em São Paulo. Shopppings foram invadidos por centenas de “jovens”, aos berros e canções de funk, atemorizando os freqüentadores. Naqueles dias, houve acentuada que de clientes nos shoppings. Na Fontaine des Innocents, como também no Forum des Halles – mais conhecido como Le Trou de Chirac -, ali perto, vão algumas dezenas de drogados abastecer-se, e isso não é de hoje.
Toda capital européia tem, em seus centros, praças onde os “jovens” consomem tranquilamente drogas. Em Madri é a Plaza del Angel, em pleno Casco Viejo da cidade. Em Lisboa é o Rossio, onde hoje já não é saudável flanar à noite. Em Copenhague é Christiania, onde o comércio de drogas é livre, e constitui atrativo para turistas, apenas com a recomendação de que não fotografem traficantes e consumidores. Cá entre nós, temos a Cracolândia, onde os drogados são protegidos pelas forças políciais que zelam pelo consumo tranquilo de drogas por seus munícipes. Continua a repórter:
A reportagem do UOL esteve no último sábado (8) no local para conversar com os participantes do 'rolezinho' de Paris. Anna*, 17, terceiro ano do ensino médio, mora na zona oeste de Paris. Vem com os colegas. "Principalmente para comprar", diz. Fã de Lady Gaga e Rihanna, investe num estilo meio Amy Winehouse. Diz montar looks com as marcas Zara, H&M e Bershka.
Uma ostentação razoável, considerando-se que as peças dessas marcas variam de 15 a 40 euros (entre R$ 49 e R$ 125). Anna junta a mesada dada pelos pais e compra uma peça por mês. Acompanhada de Charlotte*, 16, ela curte "rever" no centro da cidade os colegas da escola.
"Aqui, a gente fica mais à vontade, faz o que quer, o parisiense não está nem aí", explica Victor*, 16, de Essone, periferia sul de Paris. Ele conta que onde mora os jovens são muito observados.
A repórter pretende que os inofensivos menininhos parisienses, que vão tranquilamente comprar e fumar sem perturbar ninguém,sejam o equivalente dos “rozeleiros” paulistanos. Se em Paris também tem, então é louvável, digno e justo. Continua a moça:
Victor conta que os amigos vêm para comprar e comer nos fast-foods da região. Destaque para o KFC, o que "realmente bomba" entre os meninos.
"Rolezeiro usa Nike, Zara e Timberland", descreve Victor, que quer ser estilista. Mas o vintage seria a grande tendência, conforme ele, vestido de um casaco de peles comprado em um brechó. "E aquele modelo branco de tênis", aponta para um Nike, modelo Air Force One --que custa em média 90 euros (R$ 280). Como a maioria deles, Victor ouve R&B. "Gosto de rap americano, Lil Wayne, 2 Chainz e Drake.
A repórter pretende, em um tour de force, que rolezeiros seja palavra que existe no francês. Mais ainda: não são nem mesmo jovens, mas meninos.
Sobre os verdadeiros “rolezeiros”, aqueles que iluminam ainda mais a Cidade Luz nos réveillons, Sonia não dá um pio. Seria contraproducente compará-los aos “jovens” brasileiros. A repórter finaliza seu trabalho como uma observação digna de um analfabeto funcional: "Os nomes dos menores de idade foram mudados para preservar a identidade deles, conforme a lei francesa.”
Ora, em primeiro lugar os meninos não cometeram nenhum crime, para que jornalistas se preocupem em omitir seus verdadeiros nomes. Em segundo, as leis francesas não vigem no Brasil.
![]()
sexta-feira, fevereiro 14, 2014
CRENTE FAZ B.O. DO
ROUBO DE SEU DEUS
“Me roubaram Deus” – registrou uma senhora em um boletim de ocorrência de uma delegacia, não lembro agora onde. Pela escassa notícia que li, tampouco lembro onde, o delegado definiu-a como esquizofrênica. Ora, não basta um B.O. como esse para assim diagnosticar a doença. Roubo desses é dos mais graves. Eu que o diga.
Não que me tenham roubado deus. Fui eu mesmo quem o jogou no lixo, ainda em meus verdes anos. Nasci ateu, como nascem todos os seres humanos. Lá pelos seis ou sete anos, quando ainda vivia no campo, uma catequista uruguaia vendeu-me a idéia de deus, daquele deus que ama e pune, conforme o adoremos ou ofendemos.
Fosse só a idéia de deus, o problema não seria tão grave. Era todo um pacote: sentido para a existência, vida eterna, bem-aventurança ou padecimento também eternos. Meus dias decorriam entre o medo e a esperança. Diz-se que a carne é fraca. Ora, a carne é forte. Tão forte que invariavelmente faz o espírito dobrar-se. A cada queda, eu me sentia imundo e pecador, merecedor do fogo do inferno. Fazia um ato de contrição e ansiava pelo sacramento da confissão. Enquanto não recebia a absolvição, vivia como quem morre. A idéia de morte sem redenção me apavorava.
A cada raio nas noites de tempestade, eu via o deus terrível me pedindo reparação da ofensa. Era óbvio que os raios eram dirigidos a este pobre e infame pecador. Megalomania, direis. Que seja. Mas assim eram meus dias. Crianças levam a sério as mentiras que lhes contam. Ou papai Noel não valeria um tostão furado como o mais bem-sucedido promotor de vendas do Ocidente.
Tão a sério, que me tornei carola fervoroso, papa-hóstias indefectível a cada sábado ou domingo. Fui até presidente de Congregação Mariana, juro. Ainda há poucos dias, remexendo meus baús para organizar a partida, foi com terna ironia que encontrei duas fitas de congregado mariano. A estreita, de candidato, e a larga, de filho de Maria. Por cautela, fiz as comunhões das cinco sextas-feiras e a dos nove sábados – ou seriam dos cinco sábados e nove sextas? Já não lembro –, que me garantiam a absolvição antes da morte. Seguro morreu de velho, pensava aquele jovem.
Até o bem-aventurado dia entre os dias – ou talvez seja melhor dizer a noite entre as noites – em que libertei definitivamente dos grilhões com que me manietara a catequista. Já contei, conto de novo. Foi lá pelos 15 anos.Minha doutrina vinha do catecismo. Decidi então beber na fonte. Durante três e dias noites, me encerrei em meu quarto, de Bíblia em punho. Recebia comida por uma janelinha que dava para a cozinha.
À noite, montava um cavalo em pêlo, sem rédeas nem buçal, conduzindo-o pelas crinas e com tapas no focinho. Galopava pelas noites magníficas da pampa, sob um céu cravejado de estrelas, que há décadas não mais vejo. Fazia perguntas ao céu e o céu permanecia mudo.
Meus pais temiam por minha sanidade mental. Ao amanhecer da terceira noite, acordei homem livre. Aquele deus cruel e sanguinário, ciumento e vingativo, sectário e incoerente, não podia existir. Era mentira dos padres. Se havia chegado a esta conclusão, ainda não me libertara do resto do pacote, por sinal a parte mais pesada. Então a vida não tinha sentido? Tanto fazia nascer como não ter nascido? Por que então viver, com todas suas seqüelas? Ora, se perder um deus já faz sofrer, tê-lo roubado é bem mais sofrido.
Meus dias de luto pela perda foram poucos. Era jovem, saudável, a fruição dos prazeres não mais me angustiava. O pecado – esta noção primeva de crime na jurisprudência do Além – desaparecera de minha vida. Mas o mais importante estava um pouco adiante.
Era agora dono de meu nariz. Meus êxitos ou fracassos eram responsabilidade exclusiva minha, não dependiam daquele Cara surgido no deserto (o Deus do Ocidentes nasce das areias).
Tive uma tia muito carinhosa, que se orgulhava de meus feitos escolares. Mas atribuía minhas notas e medalhas ao bom Deus. Nada de meritoso era mérito meu. Eu estava predestinado. Tudo o que me acontecia era por vontade do Altíssimo. Sem o tal de deus, senti-me por fim dono de minha vida. Tudo estava em aberto à minha frente. O prazer não me era mais proibido e havia uma ética a reconstruir. Me senti inaugurando a aurora dos tempos.
Como cachorro que sacode para secar-se, sacudi Deus de mim. Renasci. Ateu, hoje não passa dia sem que alguém me acuse de ser ateu militante. Longe de mim tal idéia. Todo militante tem algo de fanático. Jamais convidei quem quer que fosse a participar de minhas idéias. Tampouco jamais discuti a existência de Deus. É discussão rumo ao inútil. Quando alguém me brande as cinco provas de Tomás de Aquino, retiro meu cavalinho da chuva. O aquinata quer provar a existência de Deus através da lógica. Já vi malucos querendo fazer isto através da matemática.
Isto não quer dizer, é claro, que não discuta a idéia de Deus. Leio a Bíblia como quem lê o Quixote. O Cavaleiro da Triste Figura não existiu. Mas discutimos seus feitos como se existido tivesse.
Conheço pessoas que dizem ter visto Deus. Bom, este eu não vi. Mas, vagando por entre os moinhos de La Mancha, vi o Quixote, de adarga em punho e lança em riste, esporeando o Rocinante, juro que vi. Sempre acabamos vendo o que queremos ver.
Jeová entregou pessoalmente as tábuas a Moisés? Então tá! Vamos ver o que dizem as tábuas. Deus é três-em-um e os três existem desde sempre? Como quiserem. Mas aí começam as perguntinhas. Se pai e filho existiam desde o início, por que o Pai levou séculos a apresentar o Filho à humanidade? Jeová parece ter sido o mais ausente pai do mundo. Em verdade, provoco choro e ranger de dentes quando me abstenho a repetir, literalmente, os textos sagrados, do que quando faço perguntinhas. É como se os crentes não acreditassem que Deus disse o que disse e está escrito em seu livro.
Perdão, leitor, mudei de rumos. Falava da senhora que registrou queixa na delegacia de que haviam roubado seu Deus. O delegado, ao qualificá-la como insana, imagina que só se roubam coisas materiais. Mas roubar o deus de um crente, é bem mais grave do que roubar o carro de um adorador de máquinas.
Ainda mais se não deixam nenhuma bicicleta para o cidadão transportar-se, nenhuma muleta para o pobre diabo apoiar-se. Isto não é coisa que se faça.
![]()
quinta-feira, fevereiro 13, 2014
MUITO ESTETOSCÓPIO
AINDA HÁ DE ROLAR...
Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas,
De pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sangüínea e fresca a madrugada...
Os seres humanos têm um especial pendor para lutar – e matar – por idéias estúpidas. Houve época em que se mataram discutindo se deus era três em um ou um em três. As relações entre católicos eram tão afáveis que, quando se reuniam em concílio para discutir um dogma, a facção derrotada tinha de escolher entre o exílio e a fogueira.
Depois surgiram as ideologias. As pessoas se inimizavam por acontecimentos em distantes rincões do planeta. Foram milhões os que, no século passado – e pior, até hoje – se digladiaram pelo que acontecia em Moscou. A ruptura mais emblemática terá sido a de Sartre com Camus.
Em 1946, Camus publica em Combat uma série de artigos, sob o título genérico de "Ni victimes ni bourreaux", reflexões que antecipam O Homem Revoltado. Se o século XVII foi o século das matemáticas, argumenta Camus, se o XVIII foi o século das ciências físicas, se o XIX foi o da biologia, o homem contemporâneo vive o século do medo.
"Dir-me-ão que isto não é uma ciência. Mas, primeiramente, a ciência aí está para qualquer coisa, pois seus últimos progressos teóricos a levaram a negar-se a si mesma, dado que seus aperfeiçoamentos práticos ameaçam a terra inteira de destruição. Além disso, se o medo em si mesmo não pode ser considerado como uma ciência, não resta dúvida alguma que seja uma técnica".
O que choca Camus é o fato de que homens que viram "mentir, aviltar, matar, deportar, torturar" se façam de surdos cada vez que se tenta dissuadir os homens que mentiam, aviltavam, matavam, deportavam e torturavam, pois estes lutavam em nome de uma abstração. O diálogo entre os homens morreu. "Um homem que não se pode persuadir é um homem que faz medo".
O que estava em jogo era o comunismo. Sartre, stalinista convicto – e bom amigo dos oficiais nazistas durante a ocupação de Paris – não gostou. "L'amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire; il faut l'accord en tout ou la brouille, et les sans-parti eux-mêmes se comportent en militants de partis imaginaires",revidou o filósofo mais confuso do século passado. Visando Camus, disse: “tout anticomuniste est un chien”. Todo anticomunista é um cão. Sartre não tinha as mãos sujas de sangue, mas sempre apoiou os tiranos que assassinavam em massa.
Anos 60, estava em jogo o Leste asiático. Até mesmo aqui no Brasil, amizades se desfaziam pelo que acontecia na China ou no Vietnã. Eu mesmo, perdi não poucos leitores, em função das escaramuças de Ho Chi Min ou dos massacres de Pol Pot, que hoje poucos saberão quem foi. Mao era outro fator de desavenças. Assassino maior que Hitler ou Stalin, era venerado urbe et orbi como o Grande Timoneiro.
Hoje, fora alguns malucos renitentes que portam luto por Stalin, o último santo a cultuar é Fidel Castro. A ditadura cubana há duas boas décadas já estava desmoralizada na Europa, mas mantém insólita reputação em terras brasílicas. Hoje ainda, há quem acredite no excelente nível de saúde e educação em Cuba, como se pudesse haver saúde em país cujos cidadãos vivem no limite da fome, e como se pudesse haver educação onde não existe liberdade de pensamento. E, por inaudito que pareça, ainda há pessoas cortando relações em função de Cuba.
Aconteceu comigo. Não há uma década, mas ano passado. Uma boa amiga, minha aluna nos anos 80, enviou seu filho, estudante de Medicina, à Cuba. Ela é de Florianópolis, um dos últimos celeiros do castrismo no Brasil. Sempre é bom lembrar que a UFSC foi a única universidade no Brasil a ter a excelsa coragem de conceder um Doutorado Honoris Causa ao Supremo Comandante, Fidel Castro Ruz. Doutorado em Tiro na Nuca, é de supor-se. Ainda ano passado, a universidade oferecia um seminário sobre Direito e Marxismo, no qual se estudava essa obra-prima do Direito intitulada O Capital.
Mantive com minha ex-pupila boas relações nos últimos trinta anos, com algumas décadas de intervalo, é verdade. Até seu filho voltar de Cuba. Postou mensagem no Facebook, louvando a ilha como a representação terrena do paraíso. Discretamente, fiz um rápido comentário.
- Maravilha de ditadura! Que estou ainda fazendo neste país infame? Por que ainda não fui para lá?
Três décadas de bom convívio rolaram Varadero abaixo, por uma rápida uronia quanto à ditadura cubana. O estudante deslumbrado com a ditadura permaneceu silente. Já a mãe, com uma fúria tipicamente materna, reagiu como uma tigra parida. Deletou a postagem e me excluiu definitivamente de seu círculo afetivo. Não teve sequer a coragem de defender a cria. Melhor deletar. Acredite quem quiser. Ou puder.
Vivemos hoje dias interessantes. Era mais que previsível. E a debandada recém começou. Apesar dos pesares, dos problemas de trânsito, violência, miséria, analfabetismo, o Brasil é uma ante-sala do paraíso diante de Cuba. Em nome dos bons laços que unem petistas à Cuba – onde treinou guerrilha o mensaleiro José Dirceu, entre outros – Dona Dilma fechou uma corvéia entre Brasil e a ditadura dos irmãos Castro.
O acordo há muito vinha sendo gestado, mas a presidente, mentindo descaradamente, o anunciou como uma resposta à gloriosa Revolução de Junho de 2013, revolução verdadeira, como a definiu a Veja na época. E importou alguns milhares de médicos a preço vil para suprir as deficiências nossas na área de saúde, através do plano Mais Médicos. Os profissionais eram contratados por dez mil reais – o equivalente a pouco mais de quatro mil dólares. Só que destes quatro mil dólares só viam quatrocentos, 958 reais no câmbio de hoje. Os restantes 3.600 dólares vão para sustentar a falida ditadura dos Castro no Caribe.
Ora, no Brasil de hoje, nem enfermeira aceita trabalhar por tal miséria. Pior ainda, sabendo que 90% do salário combinado vai para uma ditadura. Minha diarista, sem curso universitário algum, ganha quase o dobro. As defecções eram esperadas. A ave precursora foi a médica Ramona Matos Rodriguez, que buscou abrigo no início do mês no gabinete da liderança do DEM na Câmara dos Deputados depois de abandonar o programa. Ramona afirmou que pedirá asilo ao governo brasileiro.
Dona Dilma está entre a cruz e a espada. O ano é eleitoral e não há clima para repetir o gesto do capitão-de-mato Tarso Genro, que devolveu para a Disneylândia das esquerdas, em 2007, os boxeadores cubanos Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara, depois de uma frustrada tentativa de deserção em julho daquele ano, durante os Jogos Pan-Americanos do Rio.
Ramona já ganhou um emprego burocrático na Ordem dos Médicos do Brasil – que lhe rende três vezes o que lhe era pago quando trabalhava como escrava – enquanto espera resposta a seu pedido de asilo. Asilo que não há, hoje,como negar-lhe. Enquanto isso, mais quatro médicos cubanos deram no pé, rumo aos Estad0s Unidos. De repente, não mais que de repente, soube-se que já são 5 mil os médicos cubanos asilados nos States, oriundos de programas na Venezuela, Bolívia, Angola e Moçambique. Também não mais que de repente, o Ministério Público descobriu que o trabalho escravo dos médicos cubanos... era trabalho escravo.
O mais insólito em tudo isso é que, junto com os médicos-escravos, Cuba exportou também seus métodos ditatoriais. A corvéia não pode sequer deslocar-se de suas residências sem a permissão dos feitores. Junto com os médicos, há monitores que decidem quando e como eles podem sair para a rua. O governo, passivamente, submeteu-se a esta suprema humilhação.
Os médicos cubanos no Brasil já são 7.400. E virão mais outros. Muito estetoscópio ainda há de rolar entre a senzala e a casa grande. Os stalinistas de plantão já mostram as garras. No Estadão de hoje, escreve Luis Fernando Verissimo:
“Inacreditável é que a reação mais forte à vinda de médicos estrangeiros para suprir a falta de atendimento no interior do Brasil, e a exploração da questão dos cubanos insatisfeitos para sabotar o programa, venha justamente de associações médicas”.
Ora, a Ordem dos Médicos acolheu uma colega que foge de uma ditadura. Nem mesmo a empregou como médica, pois falta-lhe o exame que a habilita a exercer sua profissão no País. Enfim, teremos dias divertidos pela frente. Foi-se a primeira pomba despertada... Foram-se outras mais. Serão dezenas? Serão centenas?
O tiro saiu pela culatra. A tentativa petista de dar alguns milhões de dólares à ditadura amiga só servirá para afundar ainda mais a imagem de Cuba, que só resta intocada neste país sempre à reboque da História.
![]()
terça-feira, fevereiro 11, 2014
MISÉRIA DO DEBATE *
Miriam Leitão
O GLOBO - 03/11
O Brasil não está ficando burro. Mas parece, pela indigência de certos debatedores que transformaram a ofensa e as agressões espetaculosas em argumentos. Por falta de argumentos. Esses seres surgem na suposta esquerda, muito bem patrocinada pelos anúncios de estatais, ou na direita hidrófoba que ganha cada vez mais espaço nos grandes jornais.
É tão falso achar que todo o mal está no PT quanto o pensamento que demoniza o PSDB. O PT tem defeitos que ficaram mais evidentes depois de dez anos de poder, mas adotou políticas sociais que ajudam o país a atenuar velhas perversidades. O PSDB não é neoliberal, basta entender o que a expressão significa para concluir isso.
A ele, o Brasil deve a estabilização e conquistas institucionais inegáveis. A privatização teve defeitos pontuais, mas, no geral, permitiu progressos consideráveis no país e é uma política vencedora, tanto que continuou sendo usada pelo governo petista. O PT não se resume ao mensalão, ainda que as tramas de alguns de seus dirigentes tenham que ser punidas para haver alguma chance na luta contra a corrupção. Um dos grandes ganhos do governo do Partido dos Trabalhadores foi mirar no ataque à pobreza e à pobreza extrema.
Os epítetos “petralhas” e “privataria” se igualam na estupidez reducionista. São ofensas desqualificadoras que nada acrescentam ao debate. São maniqueísmos que não veem nuances e complexidades. São emburrecedores, mas rendem aos seus inventores a notoriedade que buscam. Ou algo bem mais sonante. Tenho sido alvo dos dois lados e, em geral, eu os ignoro por dois motivos: o que dizem não é instigante o suficiente para merecer resposta e acho que jornalismo é aquilo que a gente faz para os leitores, ouvintes, telespectadores e não para o outro jornalista. Ou protojornalista. Desta vez, abrirei uma exceção, apenas para ilustrar nossa conversa.
Recentemente, Suzana Singer foi muito feliz ao definir como “rottweiller” um recém- contratado pela “Folha de S.Paulo” para escrever uma coluna semanal. A ombudsman usou essa expressão forte porque o jornalista em questão escolheu esse estilo. Ele já rosnou para mim várias vezes, depois se cansou, como fazem os que ladram atrás das caravanas.
Certa vez, escreveu uma coluna em que concluía: “Desculpe-se com o senador, Miriam”. O senador ao qual eu devia um pedido de desculpas, na opinião dele, era Demóstenes Torres. Não costumo ler indigências mentais, porque há sempre muita leitura relevante para escolher, mas outro dia uma amiga me enviou o texto de um desses articulistas que buscam a fama. Ele escreveu contra uma coluna em que eu comemorava o fato de que, um século depois de criado, o Fed terá uma mulher no comando.
Além de exibir um constrangedor desconhecimento do pensamento econômico contemporâneo, ele escreveu uma grosseria: “O que importa o que a liderança do Fed tem entre as pernas?” Mostrou que nada tem na cabeça. Não acho que sou importante a ponto de ser tema de artigos. Cito esses casos apenas para ilustrar o que me incomoda: o debate tem emburrecido no Brasil. Bom é quando os jornalistas divergem e ficam no campo das ideias: com dados, fatos e argumentos.
Isso ajuda o leitor a pensar, escolher, refutar, acrescentar, formar seu próprio pensamento, que pode ser equidistante dos dois lados. O que tem feito falta no Brasil é a contundência culta e a ironia fina. Uma boa polêmica sempre enriquece o debate. Mas pensamentos rasteiros, argumentos desqualificadores, ofensas pessoais, de nada servem. São lixo, mas muito rentável para quem o produz.
* Lembrando que há vários anos qualifiquei o recórter tucanopapista da Veja de hidrófobo. Isso sem falar que o hidrófobo em questão se pretende ser o autor da alusão a Lula como apedeuta, apodo que na verdade - Supremo Apedeuta - é meu e foi publicado até nos Estados Unidos.
![]()
quinta-feira, fevereiro 06, 2014
DA RELATIVIDADE DO NÃO
Discutíamos óperas. André Bastos Gurgel levantou a tese – e não pela primeira vez - de que Don Giovanni é um estuprador.
"Na primeira cena, há a tentativa de estupro de Anna. Don Giovanni entra furtivamente à noite, ela resistiu e no começo da ópera a vemos clamar por socorro para tentar evitar que o libertino vá embora. Ainda no primeiro ato vemos dona Elvira afirmando que don Giovanni prometeu esposá-la, mas após 3 dias ele fugiu de Burgos, in verbis, " dopo tre di da burgos t'allontani", com certeza consumou o ato, pois ela acabou virando freira no final da ópera. Ainda no primeiro ato, quando a camponesa Zerlina está prestes a casar, ele mente, afirmando que quer casar com ela no belíssimo dueto "la ci darem la mano". A mesma personagem ainda sofre uma tentativa de estupro no final do primeiro ato, que acaba com Don Giovanni tentando por a culpa no servo Leporello e quase o mata. Logo, é meio difícil achar que Mozart levou Don Giovanni- homicida, estuprador e mentiroso- ao inferno para satisfazer a sociedade da época. Casanova jamais fez isto”.
Até aí, tentativas de estupro, segundo o André, e não estupro. Mesmo assim, discutível. Prometer esposar uma mulher nunca configurou estupro. Quanto à Zerlina, meu interlocutor me remete ao o final do primeiro ato “no qual Don Giovanni tenta estuprar a camponesa. Para mim, isto é uma tentativa de estupro”.
Tentativa de estupro em público, em meio a um salão de baile? Não convence. Sem falar que a camponesinha vacila entre o “vorrei e non vorrei”, e mostra sobeja intenção de cornificar Masetto.
André ainda acha que “somando-se a posse sexual mediante fraude anterior, a tentativa de homicídio de leporello, ameaça ou constrangimento ilegal para Leporello convidar a estátua para jantar, a vontade de possuir todas as camponesas da festa após elas se embriagarem (fin che dal vino una gran festa fa preparar"), homicídio do comendador, daria uns 100 anos de reclusão em regime fechado”.
Por um lado, o leitor quer julgar um personagem do século XVIII, pelos padrões do século XXI. Vontade de possuir todas as camponesas não me parece ter constituído crime em época nenhuma. Além do mais, estamos falando de um gênero caricato, a ópera, na qual um personagem recebe uma punhalada e morre cantando. Ópera é convenção, exige um acordo entre autor e público sobre o inverossímil. Além do mais, submeter um personagem de ópera à legislação vigente, é aceitar que uma estátua de mármore fale ou mesmo aceite um convite para jantar. Por outro lado, Mozart – ou Da Ponte, como quisermos – condena Don Giovanni moralmente, não juridicamente. El burlador de Sevilla vai para o inferno, não para a cadeia.
Seja como for, é Don Giovanni – e não Don Otavio – quem tem fascinado gentes através dos séculos. Em meio a isso, o que me espanta é ver as mesmas pessoas que incensam Don Giovanni condenarem como imoral e dissoluto o pobre mortal que inventa de seguir sua trajetória. É como se o pecado fosse feio na vida e lindo no palco. O mesmo ocorre com Lolita, de Nabokov, ou Morte em Veneza, de Visconti. Na tela ou no livro, absolvemos tanto Humbert como Aschenbach. Fossem nossos vizinhos, seriam perigosos pedófilos.
Em meio a isso, o debate derivou para estupro, tout court. Defendi a tese de que estupro exige força ou ameaça. Uma boa amiga, Laís Legg, é taxativa: “Estupro é a prática não-consensual de sexo. Ponto final. Se a mulher está embriagada ou drogada, por exemplo, é estupro. E não houve ameaça ou força”.
De acordo, em termos. Ora, a bebida sempre foi um agente catalizador para o sexo. Ou desestímulo, pois quando o parceiro se passa é um desastre. Muitos casais não constituiriam família não fossem umas que outras para início de conversa. Hoje, que eu saiba, só na Suécia se aceita juridicamente o argumento de embriaguez como fator de estupro. No caso de uma mulher inconsciente por efeito da droga ou do álcool, trata-se de um estupro óbvio. A verdade é que, pelo menos no Brasil, nunca ouvi falar de punição de tais casos. É como se o Direito não os contemplasse.
Mas há graus de embriaguez. Uma mulher pode estar ligeiramente bêbada, bastante bêbada ou mesmo inconsciente de tão bêbada. Se no último caso se trata obviamente de estupro, como penalizar os dois primeiros? Quantas taças de vinho tipificam o estupro? Difícil quantificar.
Volta Laís à liça: “Nos casos onde houver consciência (neurológica, é claro) suficiente para dizer "não quero", também será estupro. Como já disse, o ato tem que ser consensual”.
Relativo, Laís. Quantas mulheres casadas fazem sexo com o marido, sem querer sexo, apenas porque o marido afinal é o marido? Sim, acaba havendo um consenso. Mas não muito. A relação é a contragosto.
Já houve mulher que me dizia "não, não", enquanto me puxava com as mãos contra seu corpo. E isso sem beber nada. Houve ocasiões em que o não era um sim óbvio e, só por espírito de porco, eu aceitava a negativa. "Não queres? Então não vais ter".
Diria mais: que todas nossas mães – falo de nós, sexappealgenários – começaram sua vida sexual com um não. Talvez houvesse virgem mais ousada – como sempre houve em todos os tempos – que não se preocupasse com as “etapas do orgulho feminino”, das quais falava Stendhal. Mas, como regra, certamente começaram com uma negativa.
Mesmo em meus dias de jovem, a recusa era bastante usual nos meios universitários. Não tínhamos maiores problemas com balconistas, enfermeiras, domésticas. Quanto às universitárias, muitas vezes era um árduo pelejar. Só após muitas doses de Simone de Beauvoir consentiam em entregar suas primícias.
Outro leitor me adverte: “Por aqui também se considera estupro se uma mulher de 18 anos transa com um menino de 13...” Suponho que me escreva dos Estados Unidos. Aqui também não difere muito.
Já comentei várias vezes o caso de um encanador de Minas Gerais, que foi acusado nos anos 90 pelo estupro de uma menina de doze anos. Segundo a legislação vigente, relações com menores de quatorze anos, mesmo consensuais, são consideradas estupros. A menina afirmou em depoimento ter consentido com a relação sexual. “Pintou vontade” — disse. Uma legislação vetusta, que considera estupro toda relação — consentida ou não — com menores de quatorze anos, havia encerrado no cárcere o infeliz que aceitou a oferta.
Coube ao ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), absolver, em 96, o encanador. Na ocasião, o ministro foi visto como um inimigo da família e da moralidade pátria. Nosso Código Penal é defasado — disse o ministro — e os adolescentes de hoje são diferentes. Sugeriu um limite de doze anos para a aplicação da sentença de violência presumida. "Quando esse limite caiu de dezesseis para quatorze, na década de 40, a sociedade também escandalizou-se", afirmou. O direito é o cadinho histórico dos costumes, aprendi em minhas universidades. A fundição é lenta. Enquanto o legislador dormia, os tempos mudaram.
Como condenar alguém por estupro alguém que se relaciona com meninas de doze anos que se prostituem? É óbvio que a relação foi consensual. Provavelmente terá sido procurada pelas meninas. É crime que clama aos céus justiça ver meninas de doze anos prostituídas? Claro que é. Mas que se procure outro réu, que se crie outra tipificação jurídica para punir este crime. Que não se puna um homem que cometeu o mesmo gesto que pelo menos 42.785 – e obviamente serão muito mais – outros brasileiros cometeram.
Há uns dois ou três anos, recebi mail de uma jovem, adorável e bem-sucedida vovó, que evocava nossas loucuras de juventude. “Fui uma de tuas namoradas mais precoces, não é verdade? Lembras que te disse que tinha 14 anos? Eu menti. Tinha treze. Não queria te assustar".
Serei, por acaso, um estuprador?
A idade de consenso sexual na Espanha é doze anos. Serão todos os espanhóis estupradores? Maria concebeu aos 13. Será o Cristo fruto de um estupro do Paráclito? Terá a cultura ocidental, em suas origens, um estupro? Se há milhares de meninas de dez a doze anos engravidando no Brasil, em que cadeia estão os milhares de estupradores? Pelo que estudei na universidade, o costume faz a lei caducar. Se se pretender punir como estuprador quem tem relação com meninas de doze ou treze anos, haja prisões neste país.
![]()
terça-feira, fevereiro 04, 2014
DON GIOVANNI E CASANOVA
Essa, agora! Leio entrevista com três psicoterapeutas que definem pessoas com uma sexualidade mais exigente como tarados, pervertidos, ninfomaníacos ou depravados. Ser entusiasta do bom esporte passa a constituir algum tipo de patologia do sexo. “Mais conhecida como compulsão sexual, esse transtorno atinge homens e mulheres, sem distinção de idade”. Segundo a sexóloga Maria Cláudia Lordello, o desejo sexual hiperativo acaba resultando em uma inquietude da pessoa. "Isso a impede de fazer outras coisas importantes da vida. Tarefas cotidianas como trabalho, estudo e vida familiar acabam ficando comprometidas, pois ela deixa de realizá-las para fantasiar ou mesmo para vivenciar esses desejos".
É curioso observar como comportamentos que admiramos no mundo da ficção ou em pessoas famosas viram vício quando cultivados pelo comum dos mortais. Don Giovanni, por exemplo. Até hoje, a famosa listina de Leporello fascina multidões em todos os salões de ópera do mundo.
Madamina!
Il catalogo e questo,
Delle belle, che ano il padron mio!
Un catalogo egli e ch'ho fatto io:
Osservate, leggete con me!
In Italia seicento e quaranta,
In Allemagna duecento trentuna;
Cento in Francia, in Turchia novantuna,
Ma, ma in Ispagna, son gia mille e tre!
Verdade que Mozart, para satisfazer uma Áustria puritana, acabou jogando Don Giovanni nos infernos. Mas o personagem que nos fascina é o galantuomo ante o qual cedem todas as mulheres e não aquele que o Commendatore manda para os abismos.
V'han fra queste contadine.
Cameriere cittadine;
V'han Contesse, Baronesse,
Marchesane, Principesse,
Ev'han donne d'ogni grado,
D'ogni forma d'ogni eta.
Nella bionda, egli ha l'usanza
Di lodar la gentilezza,-
Nella bruna la costanza,
Nella bianca la dolcezza!
Vuol d'inverno la grassotta
Vuol d'estate la magrotta;
E la grande, maestosa;
La piccina, ognor vezzosa.
Certo, Don Giovanni é um ente de imaginação. Mas se como ente de imaginação nos fascina é porque seus feitos nos fascinam. Così ne consolò mile e ottocento, diz Leporello.
Delle vecchie fa conquista
Per piacer di porle in lista:
Sua passion predominante
E la giovin principiante
Non si picca, se sia ricca,
Se sia brutta, se sia bella!
Purche porti la gonnella,
Voi sapete quel che fa!
Se você, pobre mortal de carne e osso, tenta consolar não digo mil e oitocentas, mas pelo menos algumas centenas, você deve ser um tarado, pervertido, ninfomaníaco ou depravado. Enfim, deixemos de lado o mundo da ficção. Não terão sido poucos os homens que terão tido mais de mil mulheres. Afinal, se nossos jantares e vinhos memoráveis se contam em quatro dígitos, porque o mesmo não ocorreria com as mulheres? Comentarei dois casos dos mais notórios.
Para começar, Giacomo Casanova di Seingalt (1725 - 1798). Que, aliás, teve um encontro com Lorenzo da Ponte, o libretista da ópera de Mozart. Cidadão da Sereníssima República de Veneza, lista em suas memórias algo em torno de duas mil mulheres, que perseguiu a cavalo e em diligência, de Madri e Londres a Moscou, na segunda metade do século XVIII. Quem for procurar o verbete na Internet, vai encontrar referência a 122 ou 123 mulheres. Isso é bobagem, cifra de qualquer moleque contemporâneo.
Aos sessenta anos, Giacomo Casanova aceita o convite do conde Emanuel de Waldstein para organizar a sua biblioteca e escrever as suas memórias. Os dias do veneziano acabam no palácio de Dux, na Boêmia, ao norte do território checo, onde encontrou teto, alimento e tempo para escrever. “Agora que não posso mais viver, sento e escrevo sobre o que vivi”. Sem jamais ter pretendido fazer literatura, Casanova entra na História da Literatura, em função de sua vida aventureira. Freqüentou cortes e bordéis, prisão e caserna, clero e políticos, conventos e salões literários.
Quem quiser se debruçar sobre o século XVIII - seja historiador, seja sociólogo, seja mero curioso - terá em Casanova um excelente guia. Na edição brasileira (Rio, Livraria José Olympio Editora, 1957), suas Memórias abrangem dez volumes. “Sei que existi, porque senti; e, dando-me o sentimento este conhecimento, sei igualmente que deixarei de existir quando cessar de sentir. Se me acontecer sentir depois de morto, não duvidarei de mais nada; mas darei um desmentido a todos aqueles que me virão dizer que estou morto”.
Apesar de busca frenética de mulheres – que o caracterizaria como tarado, segundo as nossas sexólogas – teve vida intelectual intensa. Diz Agrippino Grieco no prefácio às Memórias:
“Se procurassem em Casanova o intelectual, o erudito, encontrariam o matemático preocupado com a duplicação do hexaedro e a quem Charles Henry consagrou longo estudo que põe insones os amadores de raridades bibliográficas; o crítico, o filólogo, o escoliaste que esmiuçou as idéias de Homero e traduziu a Ilíada em oitavas à maneira de Boiardo e Tasso; o escritor clássico capaz de efigiar mentalmente um d’Alembert e de fornecer pitorescos detalhes sobre a intimidade do trágico Crébillon e seus gatos; o humanista à altura de discutir com Voltaire e forçá-lo a recuar em mais de um conceito sobre as letras transalpinas.
Jogador, sonetista satírico, duelista, marinheiro, antiquário, jurista, naturalista, dando-se à magia para engodar os tolos, foi também agente secreto dos Inquisidores e correu as estradas da Europa quando estas se achavam cheias de mascates da arte, titereiros, mímicos, músicos, dançarinos, de negociantes de perfumes, de jesuítas que haviam largado o hábito, de militares alugados, de inúmeros cavalheiros de indústria e não cavaleiros da Távola Redonda”.
Paradoxalmente, escreveu um tratado do pudor e começou a redigir um dicionário de queijos. Escreveu também uma novela utópica, Icosameron.
“Cultivar o prazer dos sentidos foi sempre minha principal preocupação; nunca encontrei outra coisa mais importante. Sentindo-me nascido para o belo sexo, sempre o amei e por ele me fiz amar quanto pude. Apreciei também os bons manjares com transporte, e sempre me apaixonaram todos os objetos capazes de me excitar a curiosidade”.
Se Don Juan pertence ao território do mito, Casanova faz parte da história. Lenda ou realidade, ambos passaram a ser considerados gênios do amor. Com uma diferença: enquanto Don Juan conquista e vence as mulheres, deixando atrás de si um rastro de ódio e despeito, Casanova não quer humilhar ninguém. É uma festa para suas parceiras, que não hesitam em convidar filhas e irmãs para o bom folguedo. Em seus dias em Dux, confessa:
“Não me quererão mal quando me virem esvaziar a bolsa de meus amigos para atender aos meus caprichos, pois esses amigos tinham projetos quiméricos, e, fazendo-os esperar o êxito, esperava eu mesmo curá-los desenganando-os. Enganava-os para torná-los prudentes, e não me considerava culpado, pois nunca agia movido por espírito de avareza. Para custear meus prazeres, empregava somas destinadas à obtenção de posses que a natureza não possibilita. Se hoje estivesse rico, sentir-me-ia culpado; mas nada possuo, tudo esbanjei, e isto me consola e me justifica. Era um dinheiro destinado a loucuras: pondo-o a serviço das minhas, não desviei absolutamente seu emprego”.
Ó tempora, ó mores! Três séculos depois de Casanova, Inquisição já enterrada no passado, depois da pílula e da revolução sexual do século passado, ainda há pretensos cientistas que considerariam um pervertido esse magnífico personagem do século XVIII.
Vamos então a um espécime mais contemporâneo, o escritor belga Georges Simenon. Nos anos 80, creio, li uma entrevista concedida pelo escritor ao cineasta Federico Fellini, na revista Nouvel Observateur, onde ele admitia ter tido cerca de dez mil mulheres. Não tinha porque falsear dados. Tarefa mais difícil seria escrever os 431 títulos que lhe são atribuídos, entre livros publicados com o próprio nome e com pseudônimos. Isso sem falar em suas viagens por todos os quadrantes do planetinha. Consta que, em sua melhor forma, Simenon podia trabalhar onze horas corridas em sua máquina de escrever, produzindo 80 páginas por dia. Cultor de putas alegres, de criadas gorduchinhas e de “rapidinhas” nos hotéis – segundo seus biógrafos – ele foi um Don Juan impudico, mal dissimulando sua bigamia, quando dividia sua vida entre sua cozinheira e sua segunda mulher, Denyse Ouimet. “Nós fazíamos amor todos os dias, antes do café, depois da siesta e antes de dormir”, diz Denyse. “Ele era prolixo em tudo: em sua maneira de falar, de escrever, de publicar, de fazer amor”. E, pelo jeito, tinha ainda de atender a cozinheira.
Não me parece que este apetite sexual desmesurado tenha atrapalhado a vida profissional de Simenon. Como diria – e disse – Casanova: “Devo dizer que achei o excesso para menos bem mais perigoso que o excesso para mais; porque se este último ocasiona uma indigestão, o outro acarreta a morte”.
Para Simenon, em nenhum momento as tarefas cotidianas como trabalho, estudo e vida familiar ficaram comprometidas por sua sexualidade voraz, como pretende a sexóloga. O que vemos, na declaração da moça, é um moralismo tolo – típico de terapeutas – que vê doença onde existe pujança de vida.
![]()
segunda-feira, fevereiro 03, 2014
ZH DESCOBRE A RODA
Jornal de província é triste. Sempre atrás não dos bois, mas da carroça. Leio na Zero Hora, de Porto Alegre, reportagem sobre a pretensa nova moda, o poliamor. Tão antiga como os dias de Alexandre ou Salomão. Diz o jornal:
- Eles fazem parte de uma turma que multiplica adeptos. Vociferam que a monogamia fracassou e que o ciúme é controlável até sumir de vez. São catalogados em denominações com princípios próprios: swing, relações livres, relacionamento aberto e poliamor, cada um com estratégias singulares para fugir do convencional.
- Em 2012, em Tupã, no interior de São Paulo, foi registrada em cartório a primeira união entre três pessoas, o poliamor.
Há muito defendo a idéia de que os jornais deviam ter nas redações um jornalista antigo, com a função exclusiva de revisar o que escrevem os focas. Pelo jeito, os neojornalistas perderam a memória. Ou têm preguiça de pesquisar. Já escrevi sobre o assunto. Tenho de retomar o tema.
Para começar, não foi em Tupã que ocorreu o primeiro caso. Há seis anos, em Porto Velho, Rondônia, uma mulher obteve na Justiça o direito de receber parte dos bens do amante com quem conviveu durante quase 30 anos. Ele era casado e morreu em 2007, aos 71 anos. O juiz Adolfo Naujorks, que concedeu à moça o direito de herança, baseou-se em artigo publicado num site jurídico segundo o qual uma teoria psicológica, denominada "poliamorismo", admitia a coexistência de duas ou mais relações afetivas paralelas em que casais se conhecem e se aceitam em uma relação aberta.
Ou seja, a teoria não surgiu ontem. E sites jurídicos não só estão substituindo o Legislativo, como modificando o regime de transmissão de bens entre herdeiros. Mais ainda, estão legitimando a poligamia. Nada contra. Estou apenas constatando.
Poliamorismo soa mais elegante. Procurei a palavrinha nos dicionários. Não encontrei. Nem meu processador de texto reconhece a palavra, sempre a sublinha em vermelho. Fui ao Google. Já está lá. Escreve um jurista: “As relações interpessoais de cunho amoroso, por vezes destoam do padrão habitual da monogamia entre os casais formados por pessoas de sexos diferentes. Assim, encontramos relacionamentos afetivos que envolvem um casal, vale dizer um dos cônjuges e um parceiro ou parceira, os quais se desenvolvem simultaneamente. Ditas relações são denominadas de poliamorismo ou poliamor, e se constituem na coexistência de duas ou mais relações afetivas paralelas ao matrimônio”. Ora, isso é mais antigo que a descoberta da roda. Ou alguém acha que o Neanderthal era monogâmico?
Ah! As palavras... Eu conhecia poligamia, poliandria, até mesmo policromia. Mas o tal de poliamorismo foi para mim novidade. Quem diria? Cheguei aos sessenta e ainda descubro palavrinhas exóticas. Me restam no entanto algumas dúvidas. Já que a palavrinha amor é parte constitutiva do novo palavrão, me pergunto: é preciso que exista o tal de amor? Ou sexo puro também serve? O conceito é extensivo a todas as profissionais que curtimos em nossas vidas, ou profissional não vale? Aquela distante namorada, que encontramos de ano em ano, é poliamor? Ou um amorzinho mixuruca, sem direito à herança?
Apesar de ter vivido muito mais de duas relações paralelas, confesso que até há pouco desconhecia o neologismo. Mas o fenômeno sempre existiu, ainda que clandestino. Em meus dias de jovem, chamava-se isto amasiamento, adultério, infidelidade. Ou ainda, vendo a coisa por outro ângulo, de donjuanismo. Ou casanovismo.
Mais adiante, anos 70 para cá, começou-se a falar em relação aberta. Tudo dependia do consenso do casal. Conheci casais que viveram unidos a vida toda, mantendo este tipo de relação. Era um relacionamento honesto, sem mentiras. Mas o Direito jamais reconheceu direito à herança por parte de quem não fosse a mulher legítima. Neste sentido, o matrimônio funcionava como proteção. O marido podia ser infiel à vontade, sem precisar dividir seus bens com a Outra, como se dizia então.
A psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, autora de O Livro do Amor, prevê: nos próximos 10 ou 20 anos abrir o relacionamento será uma tendência. Segundo Regina, as pessoas não buscam o outro porque têm um vazio ou porque o sexo com o parceiro não está legal, mas sim porque variar é bom.
A psicanalista está ainda atrás dos que vão atrás da carroça. O fenômeno é antigo, esteve em recesso durante o surgimento da Aids e está ressurgindo como se fosse algo novo.
Os muçulmanos são mais práticos. Todo crente tem direito a quatro mulheres e estamos conversados. Não se fala em amor nem poliamor. Mas não precisamos ir até o Islã. No livro que embasa a cultura ocidental, temos o rei Salomão. “Tinha ele setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram o coração”, lemos no I Reis. Poliamantíssimo, o sábio rei. Bem que gostaria de ter meu meigo coração assim pervertido.V Alexandre também cultivava intensamente o tal de poliamor. Mas no fundo preferia os meninos de seu exército. Homoafetivos já podem casar. Homoafetividade - outro neologismo gentil - exclui o tal de poliamor? Obviamente não. Se um homem pode amar duas mulheres, por que não poderia amar dois homens? Nada impede. Se obedecermos à boa lógica, em breve teremos três ou mais homens (ou mulheres, por que não?) registrando suas relações estáveis em cartório. O velho casamento católico vai virar partouse.
De novo, nada contra. Apenas constato.
![]()
sábado, fevereiro 01, 2014
VOI CHE ENTRATE...
O mundo televisivo em nada em atrai. Para começar, exceção feita do Globo News, não assisto televisão nacional. A TV paga tampouco atrai muito. Me resumo a filmes e mesmo assim a vida não é fácil. Se em cada cem filmes exibidos você encontra cinco ou seis que valham a pena ser vistos, dê-se por contente.
A bem da verdade, já curti a mediocridade audiovisual. Em certa época, dediquei alguns minutos na madrugada para assistir às pregações dos pastores. Mas logo cansei. Não que pretendesse ouvir suas baboseiras. O que me fascinava era ver aqueles templos imensos lotados, com quatro mil, cinco mil ou mais pessoas, sem que se veja uma só cadeira vazia, todos fanatizados por um discurso estúpido e obviamente desonesto. Gosto de ver quando a câmera foca rostos. Pessoas de boa aparência, com traços até mesmo inteligentes, hipnotizadas pela lábia precária do pastor.
É meu modo de entender melhor o mundo. Vivo em um pequeno universo rarefeito, de poucos amigos, todos cultos e inteligentes. Corro o risco de achar que o mundo é mais ou menos assim. A televisão então me mostra, sem que eu precise sair de casa, a verdadeira face dessa pobre humanidade. Os pastores, sem nenhum pudor, ensinam como preencher cheques e boletos bancários.
Os tais de pastores evangélicos, que há muito deviam estar na cadeia, controlam, isto sim, cadeias de televisão. Não administram religiões, mas caça-níqueis. Isso sem falar no exercício ilegal da medicina. Em cada emissão televisiva, os milagres superam de longe o número de milagres que Cristo realizou em toda sua vida. Ocorrem em cadeia industrial, ao ritmo de dois ou três por minuto. O pastor até parece entediar-se com a freqüência dos mesmos e descarta rapidamente o miraculado que tem nos braços para abraçar o seguinte.
Ultimamente, em função de minhas auxiliares, tenho a televisão como música de fundo. Para elas, o silêncio é tortura. Como não posso pensar em torturar quem me serve, libero a mediocridade. De qualquer forma, as notícias que tenho da televisão, eu as leio em jornal.
Desde há muito as novelas ocuparam, para o brasileiro médio – e nem tão médio assim – o lugar antes destinado à literatura. A novela mostra o personagem como ele é, coisa que no livro só se deduz. A ação, cinematográfica, é mais rápida e dispensa palavras. Melhor ainda, a novela dispensa esse terrível esforço mental, o ato de ler. Neste sentido, é até espantoso que no Brasil ainda se leiam livros.
Assim sendo, foi pelos jornais que tomei conhecimento deste fato insólito – e certamente de grande significado histórico – o beijo gay culminando o final de uma novela. Pelo que se lê, é um marco na história da cultura nacional e seria algo inevitável na evolução do gênero. Milhões de basbaques se plantaram frente à tela para ver dois barbados trançando os bigodes. Haja apreço pela vulgaridade neste país nosso.
Nada tenho contra homossexualismo, quem me acompanha sabe muito bem disso. Sempre defendi toda e qualquer opção sexual, desde que não implique violência. Assim sendo, os barbados que se beijem à vontade. O que me espanta é ver um país todo esperando pela cena.
Ainda há pouco, falando das badernas que a imprensa houve por bem chamar de rolezinhos, eu dizia não ver futuro brilhante neste país nosso. Uma boa amiga tentava me dar um pouco de esperança: “talvez com outras gerações, daqui a uns trinta anos...”
Ora, pelo andar da carroça, não vejo esperança nem daqui a um século. A ignorância, em vez de recuar, se multiplica. A Veja da semana passada, com o pretexto de uma reportagem sobre a periferia, faz uma extensa ode ao funk. Que o funk seja o hino de quatorze milhões de brasileiros, como afirma a pesquisa, isto até se entende. Em uma cultura que vive pregada à televisão, aos BBBs da vida e demais programas de auditório, não espanta. O que causa espécie é ver uma revista que se pretende séria dando um enfoque simpático à indigência nacional. Isso sem falar em rock e futebol.
Pelas circunstâncias que vivo, andei vendo trechos da programação da Globo aos domingos. Meu Deus – nestas horas viro místico! – nunca imaginei que a estupidez e a ausência de qualquer pingo de inteligência fossem tamanhas. Que esperar de uma nação que senta e baba diante de tais programas?
Comentei há pouco um filme de meus dias de juventude, Les Amants, de Louis Malle. O filme é de 1958, é obra das mais castas, mas causou repulsa no país todo, por uma cena na qual Jean-Marc Bory, no papel de Bernard, desce os lábios pelo corpo de Jeanne Moureau, a musa da época.
A cena é tão sutil que, nos dias de hoje, ninguém pensaria em sexo oral. A única sugestão do gesto nefando é a cabeça de Bory que some da tela, enquanto a mão de La Moureau faz um leve gesto, que poderia significar tanto desconforto quanto prazer. Mas o público viu bem mais longe.
A cena terminava aí. Ao ser exibido em Porto Alegre, já nos anos 60, um grupo de espectadores criou a Turma do Apito. No momento da cena, a turma apitava em protesto ao gesto abominável. Isso que a câmera não descia nem mesmo até os seios! A Turma do Apito, talvez intuindo o próprio ridículo, se manteve sempre no anonimato. Hoje, meio século depois, quando sexo oral é praticamente obrigatório em qualquer filme que trate de relações homem/mulher, é difícil conceber que haja quem espere como novidade dois marmanjos se beijando. É difícil conceber, mas eles existem aos milhões.
Que se pode esperar desta miséria humana?
![]()
