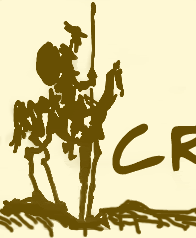


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
sábado, outubro 16, 2004
MEMÓRIAS DE UM EX-ESCRITOR (XXXIII)
Na Folha de São Paulo, o agravamento do conflito. Comecei a trabalhar como redator de Internacional. Foi meu primeiro contato com o jornalismo eletrônico. Para enfrentar relaxado o terminal, já que pouco ou nada entendia dos comandos, tomava duas cervejas antes de ir para a redação. O recurso funcionava na Era da Máquina de Escrever. Mas dada a velocidade exigida pelo jornalismo computadorizado, qualquer ingestão maior de álcool transparece na tela: letras engolidas, dobradas ou invertidas dentro da palavra. Na medida em que passei a dominar melhor a máquina, deixei de lado o recurso inútil. Esta, me parece, é uma das transformações que o computador impôs ao jornalista: álcool, só depois de fechada a edição.
Antes de ser contratado, vivia em Curitiba. A cidade é linda. Mas parada como água de poço, como diria um gaúcho. Nas primeiras semanas de São Paulo, comecei a vomitar diariamente pela manhã, mesmo antes de ter comido qualquer coisa. Atribuí o fenômeno à poluição, procurei médicos e não encontrei solução alguma. "Você pode trocar de cidade?", perguntavam-me os médicos. Poder, poderia, mas o mercado de trabalho estava em São Paulo.
Em abril de 92, após um ano de arcadas e convulsões diárias, fui passar férias em Paris. Parei de vomitar. A cura parecia elementar, só que um pouco cara: para parar de vomitar, bastava sair de São Paulo e ir para Paris. Ao voltar para São Paulo, já antevia as arcadas matutinas, que nos últimos meses começavam a ocorrer à noite, na saída do jornal. Ao chegar, soube que fora demitido. Santo remédio, os vômitos desapareceram. Trabalhei depois seis meses no Estadão, náusea nenhuma. Voltei à Folha, voltaram os vômitos.
Não vai nisto nenhuma ojeriza ao jornal, tampouco a meus colegas. A Folha foi um upgrade em minha trajetória, me fez descobrir São Paulo e o universo da informática. Também me reconciliou com os jovens. Durante o magistério em Florianópolis, minha confiança nas "gerações vindouras" ficou seriamente abalada. Exigir de meus alunos um mínimo de cultura histórica seria utópico: se escrevessem corretamente o português já era muito. Na Folha, encontrei uma criançada de vinte e poucos anos, boa de texto e de terminal, e com sangue frio para enfrentar qualquer autoridade ou desafio, e mesmo um fechamento de jornal desesperado.
Ocorre que somatizo minhas rejeições. Considero o trabalho de redator como um trabalho manual. Ofício rigoroso, exige especialização e alta competência, conhecimento de línguas, agilidade e sangue frio. Mas é trabalho manual. Redator não opina, não discute, não polemiza. Pode até opinar de vez em quando, mas está atrelado à confecção diária do jornal. Escravo do deadline, raramente dispõe da pausa necessária para elaborar um artigo de mais peso. Sem nada entender de medicina, suponho que vomitar era a forma como meu organismo rejeitava um trabalho que me desagrava executar.
Sem falar em implicações ideológicas. O jornalismo atual está sendo tratado como ficção. O massacre dos ianomâmis, noticiado em 1993, é o exemplo mais gritante deste tipo de jornalismo. Foi anunciada a morte de 16 índios, depois 40, depois 73, a cifra foi a 120 e voltou a cair para 16. Ora, não houve indício algum de massacre, cadáver algum que pudesse justificar denúncia de genocídio. A aldeia onde "teria" ocorrido o suposto massacre, descobriu-se depois, ficava na Venezuela. A cobertura do caso rolou por mais de mês na imprensa nacional e internacional, e jornal algum voltou atrás de suas informações. Artigos isolados puseram em dúvidas a denúncia. No entanto, nas hemerotecas permanecerá registrado, para a pesquisa dos historiadores, a ocorrência do massacre. Faz bem às viúvas do socialismo a ocorrência de um massacre de indígenas, perpetrado por brancos em busca de ouro. Logo, cria-se ficcionalmente o massacre e depois se trata de acreditar nele.
Nas editorias de Internacional, a ficção é cotidiana. África do Sul, por exemplo, é um prato feito para manipulação. Quem leu diariamente os jornais de 93, se for leitor arguto, terá notado que em boa parte do ano, todas as segundas-feiras, no máximo na terça, era noticiada a morte de 20, 40 ou 60 negros durante os fins-de-semana na África do Sul. Invariavelmente, os jornais afirmavam: "pistoleiros mataram", "atiradores dispararam contra", "grupo armado atacou". As manchetes geralmente falavam em "violência política". O que não era noticiado é que os pistoleiros, atiradores ou grupos armados eram sempre negros que matavam negros. Não me recordo de ter visto um só telegrama noticiando a morte de negros por brancos na África do Sul em 93. Se ocorreu alguma morte de negro por branco, constituí exceção diante dos massacres semanais de zulus por khossas e vice-versa.
Os surtos de violência na África do Sul, nos últimos anos, têm sido fundamentalmente tribais, e não políticos. Os massacres, iniciados geralmente nas sextas-feiras e terminando no domingo, foram sempre de negros contra negros, de tribo contra tribo. Como não é politicamente correto negro matar negro, o jornalista substitui a palavra negro para pistoleiros ou atiradores, quando se trata de falar do agressor. Quanto às vítimas, ele as trata por negro mesmo. No pé da notícia, uma declaração qualquer do líder afrikânder Terreblanche e está feita a manipulação: milhões de leitores passam a acreditar que a minoria branca sul-africana está exterminando os negros do país.
![]()
