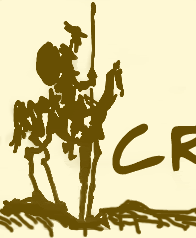


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
domingo, fevereiro 18, 2007
MELHOR QUE VIAJAR...
... só mesmo viajar sem compromissos de turista. Marujo de primeira viagem que chega a Paris tem de fazer a via sacra: Louvre, d'Orsay, Pompidou, Champs-Elysées, Opera, Arco do Triunfo, Montmartre, Notre Dame, torre Eiffel. Você pode até mesmo não subir, mas terá de no mínimo de dar uma olhadela na dama de ferro. De minha parte, acho que levei uns trinta anos para decidir-me a subir na torre. Quando vivia em Paris, sempre me pareceu de uma vulgaridade extrema, um lugar comum abominável, subir na torre Eiffel. Alguns anos mais tarde, concluí que era preconceito meu. Juntei minha Baixinha sob o braço e fomos até lá, dispostos a cumprir o ritual de milhões de turistas. Não deu. Havia filas de mais de duas horas em três patas da torre. Na quarta pata, destinada aos atletas que topavam subir a pé, havia pelo menos quatrocentas pessoas. Claro que não subimos. Anos mais tarde, viajando com minha filha, levei-a até a torre, com o devido alerta de que para nela subir seriam necessárias boas horas em pé na fila. Milagre dos milagres, naquele dia as filas estavam curtas. Foi assim que, visitando Paris quase todos os anos, só depois de uns 30 subi na torre Eiffel, quase por acaso.
Nesta viagem, meu descompromisso com monumentos foi total. Verdade que acabamos sempre tropeçando neles, ou Paris não seria Paris. Desta vez, dediquei-me a meu esporte predileto, a visita a livrarias, bares e restaurantes. Fiquei quase todo tempo no miolo da cidade, raramente me afastando além de um quilômetro da Notre Dame. Para a torre Eiffel só fiz um vago aceno, e isso de muito longe. Montmartre nem pensar. D'Orsay e Louvre, só de passagem rumo a algum boteco. Me afastei um pouco, é verdade, para mostrar a minhas companheiras de viagem La Défense, esta Paris insólita e com ares de Nova York. Fora isso, não arredei pé do centro da cidade.
De cara, um choque: a P.U.F., aquela acolhedora e farta livraria da Place de la Sorbonne, com cinco andares de livros, não existe mais. Eu, que adorava sentar-me na terrasse do bar contíguo, paquerando os últimos lançamentos na vitrine enquanto degustava uma Leffe, perdi um de meus prazeres na Lutécia. Na esquina, agora existe uma loja de confecções baratas. Se bem que o fim de uma livraria não faz nem mossa na cidade. Paris oferece ainda mais de quatro centenas. Mais as FNACs, megamagazines dedicados à música, livros e eletrônicos. Em matéria de livros, CDs e DVDs, a quantidade é tal que chega a assustar o cliente. Melhor ir logo às estantes especializadas, escolher o que se quer e fugir às pressas das tentações das compras por impulso. Sem falar que livro pesa na volta.
Quanto a bares e restaurantes, Paris parece sempre a mesma. Quando a visito, posso me dar ao luxo de eleger casas com mais de século. Lá estão, imutáveis, como se o tempo não tivesse passado, o Dôme, Deux Magots, la Rotonde, cafés sempre charmosos mas que prefiro evitar, por demais turísticos. Mesmo assim, tentei o Deux Magots, numa tarde de sábado ensolarada. Mesa na terrasse, só com milagre. Dentro do café, só com muita sorte. No Chez Lipp, em frente ao Deux Magots, só com hora e meia de espera. Dura é a luta pela comida em Paris. Melhor tentar o Procope, fundado em 1686 e tido como o mais antigo café do mundo. Foi freqüentado por La Fontaine, Molière, Racine, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert e demais enciclopedistas, Balzac, Victor Hugo, Verlaine, George Sand, Anatole France. Nele, Benjamin Franklin trabalhou na redação da declaração de independência dos Estados Unidos. Numa vitrine, há um chapéu de Napoleão Bonaparte, que o teria deixado como garantia de uma dívida. Instalado em uma antiga casa de banhos turca, tem interiores belíssimos e - surpresa! - cardápio com preços relativamente humanos, pelo menos para Paris, onde você pode comer bem por algo em torno de 20 euros, vinho à parte. Restaurantes de São Paulo, com menos de 50 anos de idade, freqüentados por gente da laia de Sarney, Delfim Netto, José Dirceu ou Marta Suplicy, cobram cinco vezes mais que isso.
Ali por perto, no mercado Saint Michel, está o sempre refinado Aux Charpentiers, restaurante ligado ao movimento Compagnonnage e reputado por sua cuisine du terroir, isto é, cozinha das diversas regiões da França. Refestelei-me em seus boudins e andouilletes, sabores que me faltam no Brasil. Freqüento estas casas há mais de três décadas e são sempre iguais. Neles só mudam os preços e os garçons. É de supor-se que desde séculos tenham a mesma configuração e esta é a magia das capitais européias, a sensação de transportarmo-nos para séculos passados ao entrar em um restaurante. São Paulo pode ter quatrocentos anos, mas aqui só resta um restaurante com mais de cem anos, o Carlino, e assim mesmo em instalações recentes.
Se Paris me agrada, Madri me fascina. Lá também estive, sem compromisso algum com monumentos. Me dediquei a revisitar os cafés e restaurantes onde um dia fui feliz. Eles estão todos concentrados em um quadrilátero relativamente pequeno, que se pode percorrer a pé numa noite sem maiores esforços. Isto gera um hábito muito madrilenho, o de tomar alguns tragos em uma tasca, outros em outras e ir assim de bar em bar, até o momento de finalmente sentar em algum restaurante para comer. Difícil conceber os madriles sentados à noite frente a uma televisão. Estão todos na rua, celebrando o bom vinho e a boa comida.
Pelo Prado, só passei rumo ao Gijón, secular café literário do Paseo de Recoletos. Em meus dias de Madri, este café impediu-me qualquer visita à Biblioteca Nacional. Sempre que me dirigia à biblioteca, do outro lado da Recoletos, o café, com suas mesas de mármore, me convidava a uma pausa. E como sempre estava cercado de colegas de curso, nossas tertúlias se prolongavam até las nueve de la tarde, como dizem os madriles, quando qualquer esforço de leitura seria vão. Além disso, na biblioteca tinha-se de esperar mais de hora por uma comunicação. No Gijón, a comunicação com o garçom era quase imediata. Senti uma falta terrível de Madri quando estive em Nova York. Lá, mal pedia uma cerveja, a garçonete me perguntava: "Só?". E já vinha com a conta em punho. No Gijón, quando pensava em levantar o traseiro após duas ou três horas de boa charla, o garçom perguntava, surpreso: "Já?"
A uns cem metros do Gijón, o esplêndido El Espejo, cujos candelabros se refletem ao infinito por um jogo de espelhos justapostos. Frente ao restaurante, seu pavilhão no centro do Paseo de Recoletos, também belíssimo. Ou seja, num trecho de menos de trezentos metros, você tem programa para muitos dias de Madri. Isso sem falar no Sobrino de Botín, que se pretende o restaurante mais antigo do mundo. Data de 1725 e tem dois pratos que se impõem a qualquer outra escolha: o cochinillo e o cordero lechal. O cochinillo é um leitãozinho de pouco mais de vinte dias, cuja carne se desmancha na boca. O lechal é igualmente tenro. Se o leitor é pessoa atenta, já estará se perguntando como pode o Botín ser o mais antigo restaurante do mundo, já que o Procope data de 1686. O garçom prontamente lhe explicará. O Botín é o mais antigo sem interrupção de seus serviços. O Procope sucumbiu à concorrência e faliu em 1874, só voltando a funcionar algumas décadas depois.
Adoro esses três restaurantes, mas meu predileto é o café El Oriente, frente ao Palácio Real. O café tem esse nome por oposição ao palácio, que fica no Ocidente. Colunatas de mármore, mesas idem, cadeiras forradas de veludo vermelho e uma iluminação macia que convida à leitura e à boa charla. Mas o melhor está embaixo, no restaurante propriamente dito, uma cave de um mosteiro do século XVII. Tem três salas, uma bastante grande e duas menores. Numa destas duas, el Rey costuma receber estadistas. Se você quiser comer na mesa em que come o rei da Espanha, problema algum. Basta reservá-la. A única exigência é que você esteja acompanhado por três ou quatro pessoas, que a mesa comporta seis. Preços? Não são exatamente palatáveis, mas nada que um operário espanhol não possa permitir-se uma vez por mês.
Sem ser exatamente um defensor da monarquia, não me desagrada partilhar da real bona-xira algumas vezes ao ano. Na Espanha, estive também em outros restaurantes freqüentados pela realeza e gostei de constatar que seus cardápios estavam ao alcance do bolso de plebeus. E se alguém pensa que isto é conquista da atual Espanha, em muito se engana. Conheço a Espanha desde 1971, quatro anos antes da morte de Franco. Mesmo sob a ditadura, os espanhóis gozavam da mesma boa vida de hoje.
Viajar, dizia, é bom. Mas melhor mesmo é viajar sem roteiro ou obrigação alguma.
![]()
