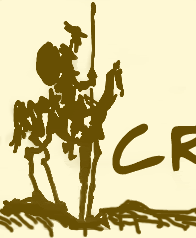


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quinta-feira, janeiro 31, 2008
AINDA MINHAS VIAGENS
Foram anos de muitas viagens. Durante quatro anos, fiz crônica diária para a Caldas Júnior, de Porto Alegre. O vínculo empregatício, mais a bolsa, nos deram vida folgada. Sem falar que o governo francês pagava metade de meu aluguel. A cada início do mês, um funcionário dos Correios me trazia em casa um pacote de notas estalando de novinhas e as contava em minha frente, até o último centime. Os seis primeiros meses de aluguel, por questões burocráticas, atrasaram. Quando peguei a bolada acumulada, compramos bermudas e sandálias e fomos para as ilhas gregas. Daí minha eterna gratidão à França. O Brasil nunca me pagou metade de meu aluguel nem jamais me proporcionou navegações pelo Egeu.
Quando passei a fazer correspondência de Paris, todo dia era festa. Minhas crônicas, eu sempre as elaborava em algum café, ao lado de uma Leffe radieuse. Minha pauta, eu mesmo a fazia. Se jantava em um bom restaurante, escrevia sobre gastronomia. Se andava nas ilhas gregas ou canárias, escrevia sobre as ilhas gregas ou canárias. Se marcava um encontro no Café Florian, em Veneza, com uma amiga macedônia, escrevia sobre o Florian, sobre Veneza, sobre a Iugoslávia e até mesmo sobre minha musa da Peônia, berço do Alexandre. Saudades daquelas noites de Veneza. Nos perdíamos entre os canais e só ouvíamos o chiado dos sapatos no silêncio da noite. Conversando com outros viajores que conheceram a ilha, soube que esta sensação de ouvir o chiado dos sapatos na calçada é bastante comum.
A peoniana levou-me para Skopje e Mljet. Escrevi sobre os soberbos restaurantes nas montanhas próximas a Skopje e escrevi sobre uma ilha de nudismo em Mljet, ilha dentro de um lago dentro da ilha maior, onde passei dias felizes. Não pelo nudismo. Mas pelo silêncio extraordinário da ilhota interior. Lembro que um dia dediquei-me a cortar as unhas e Katitza protestou com veemência contra minha insuportável agressão ao silêncio.
Ursula, uma namorada polonesa – que me chamava de “mon ours tropical” – rendeu-me várias crônicas sobre a Polônia. Não há melhor maneira de conhecer um país do que namorar uma das filhas desse país. Nem melhor dicionário que o dicionário de cabeceira. Em suma, meu lazer era meu trabalho. Durante quatro anos, viajei para onde quis e trabalhei onde quis. Sempre com uma maquininha de escrever a tiracolo. Fui ao Cairo e escrevi sobre o Cairo. Fui ao Sahara argelino, percorri El Hoggar em Land Rover e lombo de camelo, e escrevi sobre as montanhas e os tuaregues de El Hoggar. Aproveitei para escrever também sobre Argel. Percorri alguns países do Leste Europeu e escrevi sobre o socialismo. Participei dos festivais de cinema de Cannes, Berlim e Cartago. Sempre trabalhando. Nada melhor que ter como matéria de trabalho os melhores filmes da Europa e do mundo.
O menino preocupado com minhas viagens demonstra desconhecer o que seja jornalismo. Jornalista, em trabalho, não paga viagens. Além de meu salário e de minha bolsa, viajei subsidiado pela Internationes alemã, pelo Senado de Berlim, pelas mairies de Cannes e de Túnis, pelo Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), da Espanha, e mais algumas instituições que já nem lembro. Viajar é inerente ao jornalismo. Esta foi uma das razões pelas quais optei pela profissão.
Cansei de Paris. Após quatro anos de Sorbonne Nouvelle, Paris III (a Sorbonne mesmo naqueles dias já não existia), meu orientador ofereceu-me mais um ano de bolsa. Comovido, agradeci. Minha mulher já havia voltado e eu não conseguia viver sem ela. Meu jornal havia falido. Foi quando descobri que doutorado servia para lecionar em universidade, coisa que até então eu sequer havia percebido. Fui lecionar Literatura Brasileira e Comparada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como professor-visitante.
Foram quatro anos de muitos dissabores e muitas alegrias. Os dissabores consistiam no relacionamento com meus colegas e nas reuniões de Departamento, verdadeiros aquelarres onde bruxas caquéticas se dedicavam ao estranho prazer de amarrotar egos alheios. As alegrias me foram dadas por minhas aluninhas, que – muitas delas – me honraram com a honra maior que um professor pode merecer. São homenagens que rejuvenescem.
Ocorre que eu não era marxista, nem petista, nem papista, nem politicamente correto. Claro que não duraria muito no magistério. Certo dia, o chefe de Departamento, com ar grave, veio falar-me. “Uma aluna se queixou ao Departamento que quando entrou na universidade tinha certezas. Depois das tuas aulas, não tem mais certeza nenhuma”.
Nossa! Aquilo foi música para meus ouvidos. Me senti plenamente realizado como professor. Considero que a função maior do magistério é destruir certezas. Também causou espécie meu hábito de orientar teses em bares. Ora, por que não? – objetei. Não existe determinação nenhuma que proíba orientar teses em bares ou mesmo na cama. E continuei orientando meus alunos sempre em torno de um bom vinho. Por essas e por outras – e as outras foram muitas – fui ejetado da universidade.
Fui então para Madri, com bolsa do ICI. Orgia total. Nossas aulas terminavam a las dos de la tarde, como dizem os madrilenhos. É quando se começa a almoçar naquelas plagas. O vinho era barato como água, comia-se bem por três ou quatro dólares, e eu terminava minhas tardes com minhas amigas latinas naqueles cafés adoráveis de Madri. Nunca consegui chegar à Biblioteca Nacional. Entre o ICI e a biblioteca havia um dos mais charmosos cafés da cidade, o Gijón. Ao passar pelo café, algo imperioso me atraía para suas mesas e nunca consegui atravessar o Paseo de Recoletos. Se não fosse o Gijón, havia o El Espejo ao lado. Não é fácil freqüentar uma biblioteca em Madri.
Pelas regras do ICI, estávamos proibidos de sair da capital. Cantiga para ninar pardais. Um dia tínhamos notícias de que uma colega fora vista em Fez, no Marrocos, uma outra zanzava por Berlim e um terceiro fora encontrado em Paris. E se alguém fora visto em Fez, Berlim ou Paris, era porque alguém o vira. Os turistas já eram no mínimo seis. Minha mulher vivia então em Paris. A cada mês, eu – ou ela – pegávamos um trem e íamos degustar vinhos em outras paisagens.
Nunca viajei tanto pela Espanha. Tinha de entregar uma tese ao final do curso. Ora, eu já tinha doutorado em Paris. Para que mais um? Entreguei então uma carta a meus professores. Nela, eu dizia que quando se faz uma bolsa, as teses são duas. Há aquela que se defende ante uma banca e fica mofando nas bibliotecas. E há a segunda, a mais vital, a que se defende freqüentando os bares da cidade, lendo seus jornais e conhecendo seu povo. A segunda – declarei – eu a defendi com brilhantismo nos cafés de Madri, Barcelona, Salamanca, Sevilha, Toledo, Cuenca, Santiago. A primeira, vou ficar devendo.
De volta da Espanha, vivi um ano em Curitiba e acabei vindo para São Paulo, onde trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão e depois na Folha de novo. Neste jornal, tive um problema sério. Vomitava todos os dias, antes de ir para a redação. Quando saí da Folha pela primeira vez, parei de vomitar. Quando voltei, voltei a vomitar. O diagnóstico se confirmava. Ora, eu não podia viver vomitando cada vez que pensava em ir para a redação. Acabei me demitindo. Dia seguinte, de novo parei de vomitar. Gostei muito de trabalhar lá e gostei do convívio com meus colegas. Mas havia uma incompatibilidade entre mim e o jornal e eu a somatizava.
De 71 para cá, acho que só não fui à Europa em três ou talvez quatro anos. De modo geral, sempre financiado por instituições ou em função do jornalismo. Ultimamente, afastado dos grandes jornais, não tenho mais essas colheres de chá. Hoje, graças ao bom Deus dos ateus, tenho como pagar minhas viagens. Depois da morte de minha mulher, a cada ano escolho uma parceira e saio a bater pernas pelo planetinha. Como nem sempre encontro a companhia adequada, não viajo tanto quanto poderia. Viajar sozinho, não consigo. Viajar é partilhar prazeres, paisagens, emoções. Não vejo graça alguma em comer um bom prato ou tomar um bom vinho sem dividi-lo com alguém, por melhor que seja um restaurante.
Tive vida serena até hoje. Gosto de meu passado. Para quem só conheceu cidade aos dez anos, está bom demais. Verdade que uma sombra empana meus dias, a perda da companheira com a qual partilhei quatro décadas de viagens e prazeres. Solo queda al desgraciao lamentar el bien perdido – dizia Hernández.
Não que a lembre todos os dias. Eu a lembro todas as horas de todos os dias. Que fazer? Morrer faz parte da vida. Como todo homem que chega aos 60, tive outras perdas nos dias que me foram dados viver. Não foram uma nem duas. Foram mais. É normal. Envelhecer é perder. Nos últimos anos, muitas vezes me perguntei o que seria melhor, se ter sido feliz ou não ter sido feliz. A pergunta, à primeira vista, pode parecer sem sentido. Afinal é óbvio que ter sido feliz é melhor. À segunda vista, não. Pois quem não foi feliz não tem sensação de perda alguma quando não é feliz. Seja como for, concluí que ter sido feliz foi melhor.
Como vivo? Bom, isto é questão que só diz respeito a mim e à Receita Federal. E com esta estou quite. Poderia até dizer, em minhas rendas não há nada de ilícito. Mas deixo a questão no ar, para alimentar boatos. Esta questão irrita um tipo de leitor que adoro irritar e é claro que não vou furtar-me a este prazer. Posso no entanto afirmar que
- não vivo de tráfico, nem de drogas nem de ideologias, nem de religiões
- estou mais preocupado com os índices da Bovespa do que com o desmatamento da Amazônia ou o terceiro mandato do Sumo Apedeuta
- não dependo mais de chefes ou editores. O menininho que grafa “viajens” acha, por isso, que sou “mal sucedido” (assim ele grafou, sem hífen). Ora, me considero extremamente bem-sucedido, afinal posso trabalhar sem depender de patrão. Escrevo o que quero, quando quero e como quero. Não tenho mais as restrições que normalmente tem um redator de jornal. Nos jornais eletrônicos em que atualmente escrevo, posso criticar deuses, papas, lulas e castros, marxistas e carolas, petistas e tucanos, o que nem sempre é viável na imprensa em papel. Conquistei a liberdade de expressão e isto é muito bom. Feliz do jornalista que chegou à condição de escrever o que quer escrever. Não o invejo, porque também cheguei lá
- milhões de pessoas no mundo prefeririam que Nietzsche, Voltaire ou Swift permanecessem calados e nada tivessem escrito. Mas escrever é direito de todo cidadão e dele não abdico
- nunca fui chapa-branca, nunca escrevi para revistas do PSDB nem de partido algum, nunca fui tucano nem papista, nunca fui ghost writer de políticos em anos eleitorais, nunca dependi de fiesps nem de afifs
- last but not least, nunca pedi esmolas a meus leitores. Sangra mucho el corazón, del que tiene que pedir – poetava Hernández. Claro que coração de quem não tem vergonha não sangra nada. Volto ainda a meu guru: cuando la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Sentir vergonha, escreveu Aristóteles, é um dos indicadores mais inequívocos de que não perdemos de todo o sentido da ética em nossas vidas. Ruborizar-se é conseqüência de termos consciência da maldade ou da imoralidade dos atos que praticamos. A ausência de rubor e de vergonha indica que as pessoas se tornaram imunes ante a imoralidade de suas ações. Quem acompanha esta discussão, sabe de qual astrólogo estou falando.
Se alguém anda irritado com minhas viagens, quero brindar-lhe com mais um motivo de irritação. (Cronista, tenho dois prazeres em meu ofício. Um, o de agradar leitores. Outro, o de irritá-los). Estou projetando para junho ou julho próximo mais uma, com uma menina jovem, linda, profissional competente e dotada de qualidade que muito prezo, a curiosidade pelo anecúmeno. Quero mostrar-lhe o sol da meia-noite, o verão boreal, Oslo, Bergen, Ålesund, os fjords noruegueses, Trondheim, Bodø, as ilhas Lofoten, Tromsø, Kiruna, Luleå, Umeå, Estocolmo. Penso sobrevoar o arquipélago de Estocolmo em balão durante suas noites brancas. Talvez tome um daqueles ferryboats divinos da Silja Line para visitar uma amiga em Helsinki. Volto por Berlim, para revisitar a cidade e uma outra amiga dos dias de juventude.
Mais uma passadinha por Paris, para matar saudades daqueles cafés onde bebi, li, pesquisei, escrevi, trabalhei, namorei e fui feliz. Quanto ao foie gras e às prostitutas, que constituem mais uma preocupação de meu irado leitor, talvez a responda mais tarde. Ou não. Veremos.
![]()
