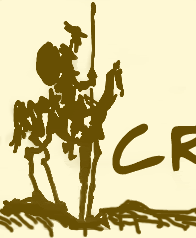


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quarta-feira, dezembro 03, 2008
NO PERAU DO TIO ÂNGELO (V)
Antes do perau, um pouco mais de tio Ângelo. Camponês, solteirão, creio que jamais conheceu cidade. Herdou a casa senhorial da sucessão e era para lá que os irmãos e primos rumavam, à noite, para chimarrear, ouvir causos e – o mais importante – ouvir rádio. Até hoje lembro o prefixo de uma rádio argentina, CLRX – CLR1 (traduzindo: ce ele erre equis ce ele erre uno) – Rádio Belgrano de Buenos Aires, para el mundo. A Casa – como chamávamos – ficava mais ou menos a um quilômetro de meu rancho. Lá pelo fim da noite, começavam os causos de cemitério, almas penadas, mulas sem cabeça. E eu tinha de voltar para casa, naquelas noites enluaradas. Voltava voando pelas canhadas, apavorado, com um ser qualquer – sei lá o que era – colado a mim e respirando junto a meu pescoço. Pânico total, que só cessava quando eu entrava em casa. O que me assustava mesmo, creio, era minha sombra, que não se desgrudava de mim e corria com minha mesma velocidade.
Naqueles dias, sempre tive problemas em passar à noite por cemitérios. Vivia em Upamaruty. Quando voltava a cavalo da casa meus tios em Ponche Verde, tarde da noite, ao aproximar-me de um cemitério começava a suar frio. Pior ainda, o cavalo começava a bufar, assustado. Ou assustado estava eu e achava que era o cavalo. A pior das horas era a meia-noite. Juro que sentia uma alma penada em minha garupa. Sentava o rebenque no coitado do pilungo e aquela sensação gelada na nuca só sumia quando me afastava do cemitério. Vivi noites e noites de terror, assombrado pelos causos do tio Ângelo. Foram necessários alguns anos para conjurar este medo a cemitérios. Hoje, os visito com muito prazer. Fácil criar divindades. Basta incutir numa criança o medo ao sobrenatural.
Em 77, quando ia para a França, levei minha Baixinha para conhecer aquele meu universo. Pegamos um Fusca em Dom Pedrito e rumamos até a Linha Divisória entre Uruguai e Brasil. Uma légua além do obelisco que marca a assinatura da humilhação farroupilha nos campos de Ponche Verde, olhando ao longe o vulto da Casa, coração num ritmo esquisito, o Fusca atolou num barral. Justo em frente à casa do Hilário da Siá Cantilha, que há uns trinta ou mais anos estava doente e às portas da morte. Era tuberculose. Em meus dias de colégio primário, as professoras me recomendavam passar de longe pelo rancho do Hilário e jamais beber água de seu poço, mesmo que a sede apertasse. Pois lá estava o Hilário, eterno, apoiado em um moirão, em carne e osso, mais osso do que carne, era verdade, mas mais rijo que o moirão.
Abandonamos o Fusca no lamaçal. Debrucei-me no alambrado e me dispus a alguns dedos de prosa. Eu havia abandonado há cerca de trinta anos aqueles pagos e tinha a impressão que Hilário jamais se afastara daquele poste. Falou de sua doença. Que quase havia batido as botas no ano anterior, fora até mesmo levado para um hospital em Dom Pedrito.
— Mas eu senti que iam me matá naquele hospital. Mal senti por perto o bafo da Moira Torta, peguei meus trapo e saí como quem roba daqueles quarto branco. Se não fujo, tava morto.
E estaria morto mesmo, pensei. No entanto, ali estávamos charlando, contando as novidades do Ponche Verde, quem havia casado ou morrido. Em minha pressa urbana, me senti definitivamente expulso daquele universo primitivo onde o tempo corria com o vagar de uma lesma, se é que corria. Hilário não entendia porque eu consultava tanto o relógio. Tentei explicar que estava voltando das Europas, onde tudo tinha horário. Hilário era homem informado:
— Já me falaro das Oropa. Fica meio pras banda de Passo Fundo, segundo me contaram.
E ficava mesmo naquele rumo. Deixei Hilário escorado no moirão e fui revisitar minha infância. Mas já era um intruso naquele mundo de tempo infinitamente lento, preguiçoso. À medida que me aproximava do Cerro da Tala, onde estava a Toca da Onça, um nó foi me estrangulando a garganta. Lá adiante, ao oeste, a Casa e o Pau Vermelho. Ao sul, o perau e seus mistérios.
Cheguei à porta da Casa, acocorei-me em uma pedra de amolar facas, e gritei: “Ô de casa!”. Corina, minha prima, veio lá dos fundos. Não me reconheceu, é claro. “O senhor, quem é?” Balbuciei: “Vim ver o tio Ângelo”. Ele não mais vivia. Eu sabia disso. Falei para identificar-me. Ela me reconheceu: “Negrinho!”. Nos abraçamos chorando.
Corininha. Quando ela ia lavar roupas na sanga, eu pegava um caniço de bambu e ia pescar joaninhas. Pescar joaninhas umas ovas. O que queria mesmo era acocorar-me do outro lado do riachinho e ficar olhando, não para as joaninhas, mas para aquela coisa escura e cheia de mistérios, meio que entreaberta, entre as coxas da priminha. Ela sabia que as joaninhas pouco me interessavam e sentia-se muito bem esfregando as roupas no pedregal, frente a meus olhos arregalados.
![]()
