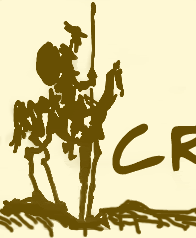


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
domingo, agosto 01, 2010
KALOCAINA - XIX
Karin Boye
Tradução do sueco de Janer Cristaldo
A voz vibrava tão claramente que suas modulações quase me atingiram também. Jamais deveria ter ido lá. Devia estar prevenido por aquela voz quente de mulher, que falara sobre o orgânico e depois sempre me acenava com o mais profundo de todos os repousos. Ela tornou-se novamente viva para mim, e invadiu-me como algo injusto, traiçoeiro e demoníaco, como um vírus que se propaga não apenas em primeira mão, mas também em segunda – do homem desconhecido, que eu não ouvira cantar, até mim, como um eco da voz de Rissen.
– O senhor poderia dar-me alguma noção dessas canções? – perguntei vacilante. – Poderia repeti-las?
Mas ele sacudiu a cabeça.
– Eram estranhas demais. Apenas me anestesiavam.
Continuei lendo, esforçando-me para escapar daquela influência, que eu odiava.
– O senhor concordará que isto é criminoso – disse eu. – Pelo que sei, todas as informações geográficas e boatos são puníveis. Veja isto: uma cidade inabitada, em ruínas, em um lugar inacessível! Uma cidade desconhecida à qual não se pode chegar! Pelo que vejo, ele não conseguiu dar a posição exata, mas difundiu estas indicações!
– Quem pode saber se existe, ou não, essa cidade deserta! – respondeu Rissen dubitativo. – Ele declarou que ela só era conhecida por alguns poucos eleitos, que alguns deles moravam entre as ruínas. Isto não deve passar de uma lenda!
– Seja como for, uma lenda criminosa, pois apesar de tudo é um boato geográfico. Se existe atualmente uma tal cidade deserta, e se ela, como ele diz, origina-se nos tempos anteriores à Grande Guerra e ao Estado Mundial, e se ela foi realmente destruída por bombas, gases e bactérias, como poderia alguém ousar permanecer lá, mesmo sendo um louco? Se lá existissem possibilidades de vida humana, há muito o Estado teria se apossado dela.
– Se você olha um pouco mais adiante no protocolo – disse Rissen –, poderá ver então que a cidade é cheia de perigos por toda parte; aqui e ali se diz serem as próprias pedras e areia contaminadas de exalações venenosas, colônias e bactérias mantêm-se vivas nos buracos e fissuras, em suma, cada passo é um risco. Mas como você também pode ver, ele declarou existirem fontes de boa água, terra fértil para o cultivo de plantas comestíveis, e que os habitantes conhecem os caminhos seguros e esconderijos e vivem em amizade e ajuda mútua.
– Estou vendo, estou vendo. Uma vida miserável e insegura, cheia de angústia. Mas a lenda é edificante. Assim deve ser a vida, uma constante angústia e perigo, quando se foge da grande comunidade, o Estado.
Calou-se. Continuei a leitura sem deixar de balançar a cabeça e suspirar desalentado.
– Uma lenda! Uma história sobre algo que não existe! Restos de uma cultura morta! Naquela cratera deserta infestada de gases eles conservaram os restos de uma cultura morta anterior à Grande Guerra! Tal cultura não existe!
Rissen voltou-se ligeiro para mim.
– Como podemos estar seguros disso?
Olhei-o surpreso.
– Mas isto nos foi ensinado quando éramos crianças. Não se pode imaginar algo que mereça o nome de cultura na época civil-individualista. Uma pessoa lutava contra a outra, grupos contra grupos. Forças valiosas, braços fortes, cérebros excelentes eram desperdiçados, jogados ao lixo por um adversário, roubados ao trabalho, perecendo sem utilização nem sentido... Chamo isto de selva, não de cultura.
– Eu também – assentiu Rissen seriamente. – Mas no entanto... Não é impossível imaginar-se um veio subterrâneo, quase seco, esquecido, que ressurge agora em plena selva.
– Cultura é vida social – respondi secamente.
Mas suas palavras punham minha fantasia em movimento. Lá estava eu curvado sobre o protocolo tentando convencer-me de que ali me sentava como juiz e crítico. Em verdade minha ávida fantasia buscava no mais longínquo, no mais ignoto, algo que pudesse libertar-me do presente, ou dar-me a chave para dominá-lo. Mas eu ainda não entendia isto.
Um ponto do protocolo causou-me um verdadeiro choque. O homem repetira uma tradição de que as raças do outro lado das fronteiras teriam uma vez feito parte de certos povos fronteiriços do Estado Mundial. A região teria sido dividida em duas durante a Grande Guerra, e o povo também.
Eu estava indignado.
– Esta é demais, esta sobre os povos fronteiriços – disse eu com voz que vibrava de justa fúria. – É imoral e ao mesmo tempo anticientífica.
– Anticientífica? – repetiu ele, distante.
– Sim, anticientífica! O senhor certamente não ignora, meu chefe, que nossos biólogos julgam estar definitivamente provado que nós, do Estado Mundial, e aqueles outros seres do outro lado das fronteiras temos origens completamente diversas, diferentes como o dia e a noite, sim, tão diferentes a ponto de que podemos nos perguntar se os “povos” além-fronteiras podem ser chamados de seres humanos.
– Não sou biólogo – respondeu evasivo. – Nunca ouvi falar disso.
– Sinto-me contente pela oportunidade de informar-lhe. As coisas são realmente assim. Nem preciso explicar por que esta tradição é imoral! O senhor pode imaginar as consequências de uma guerra de limites. É o caso de se perguntar se toda essa seita de loucos, com ensinamentos, costumes e filosofia de vida, não será um método do Estado vizinho na tentativa de minar nossa segurança, um detalhe entre os muitos do bem montado aparelho de espionagem de que eles parecem dispor.
Após um longo silêncio, Rissen disse finalmente:
– Ele foi condenado mais por uma questão de tradição.
– Espanta-me que não tenha sido condenado à morte.
– Ele era um profissional competente no ramo de fabricação de tintas, onde há falta de pessoal.
Não respondi. Senti que sua simpatia tendia para o criminoso. Mas não podia perder a oportunidade de um sarcasmo:
– Então, meu chefe, o senhor não está alegre agora que finalmente chegamos ao cerne da coisa e sabemos onde situar nossa simpática seita de loucos?
– Creio que é dever de um legal cidadão-soldado estar alegre – disse ele ironicamente, talvez sem a intenção de que a ironia fosse notada. – E posso agora fazer-lhe uma pergunta, cidadão-soldado Leo Kall: você está totalmente seguro de que lá no fundo não lhes inveja a cidade deserta e infestada de gases?
– Que não existe – respondi rindo. Estaria Rissen em seu perfeito juízo? Se isto era uma brincadeira, era de mau gosto e não tinha alvo.
Mesmo assim sua pergunta me atormentou por longo tempo, como muitas outras palavras suas me atormentavam, como a vibração expressiva de sua voz me atormentava, como o homem todo, risível, capcioso e civil, me atormentava.
Repeli com todas as minhas forças a idéia da Cidade Deserta, o que não era difícil, pois era inviável e repulsiva. Repulsiva e ao mesmo tempo fascinante. Repugnava-me acreditar em uma cidade, mesmo que estivesse em ruínas, infestada por gases e bactérias, mesmo que os indivíduos associais que lá buscavam seus miseráveis refúgios rastejassem por entre as pedras, tomados de angústia e terror, vitimados de quando em quando pela morte traiçoeira – mas ainda assim uma cidade que o poder do Estado não alcançava, uma região fora da comunidade. O fascinante da idéia – quem poderá dizer em que consistia? Superstições são em geral fascinantes, pensei com raiva. São como um estojo, onde conservamos como jóias nossas tentações enganosas: uma voz profunda de mulher, uma vibração numa voz masculina, um momento que jamais foi vivido, de abandono total, um sonho mau em uma confiança pessoal sem limites, uma esperança de sede saciada e repouso profundo.
Eu não tinha defesas contra minha curiosidade. Não ousava perguntar a Rissen sobre a sorte futura da seita de loucos, da qual me mantinha afastado. Temia que ele vislumbrasse um interesse em minhas perguntas maior do que o que realmente tinha. Eu apenas ousava fazer curtas observações irônicas durante o almoço. Rissen respondia breve e asperamente. Eu dizia, por exemplo:
– Aquela altamente inviável Cidade Deserta... Continua existindo na lua? Certamente não tem ainda existência terrestre?
E ele respondia
– Pelo menos até agora ninguém pôde localizá-la.
Ao levantar subitamente o olhar, encontrei seus olhos por um segundo. Ele os baixou imediatamente, mas tive tempo de ler neles uma pergunta contundente: “você está totalmente seguro de que lá no fundo não lhes inveja a cidade deserta infestada de gases?” Ele teria prazer em encontrar em mim tal tipo de inveja. Embora me tivesse forçado a iniciativa, era no entanto como se ele fosse o agressor e tentasse empurrar-me à submissão. Amaldiçoei minha curiosidade doentia.
Consegui uma informação mais, desta vez não de Rissen, mas de uma participante do curso, inclusive sem que eu perguntasse. Ela falou algo sobre uma coleção de escrituras, da qual os prisioneiros haviam falado – um volumoso maço de papéis com sinais que representariam sons, mas que em nada se pareciam a nossas letras. Lembravam mais corpos de pássaros atrás de grandes transversais, ao que parece. Ninguém conseguia decifrá-los, nem mesmo os furtivos habitantes da Cidade Deserta, embora conservassem coleções fabulosas de tempos há muito idos. Eu estava quase certo de que existia alguma música naqueles sinais – podia ser também que tudo fosse um blefe – provavelmente uma música primitiva e bárbara. Mesmo assim nutria uma esperança quase selvagem de vê-los um dia interpretados – um sonho idiota, que jamais se realizaria, nem para mim nem para nenhum outro. E mesmo que o conseguissem – num conjunto de marchas não pode existir sentido algum. Como se poderia encontrar nelas auxílio ou solução para algum problema?
Durante esse tempo minha vida era dura e vazia. Linda e eu nos havíamos distanciado tanto um do outro que nem valia a pena gritar. Felizmente andávamos tão ocupados que raramente nos encontrávamos.
![]()
