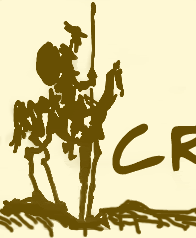


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quarta-feira, julho 20, 2011
FOLHA ENTREVISTA ANALFABETO
Posso estar cometendo injustiça, mas não tenho lembrança, em meu mais de meio século de vida, de ter ouvido algo inteligente da boca de um psicólogo ou psicanalista. São profissionais que se munem de teorias para explicar o que nenhuma teoria explica, o ser humano. Que o diga o professor Paul Bloom, do Departamento de Psicologia da Universidade Yale (EUA), autor do livro How Pleasure Works, que pretende entender por que o conhecimento e as nossas crenças interferem na forma como sentimos prazer, seja ao beber um vinho, ver uma obra de arte ou fazer sexo. A Folha de São Paulo deu-se ao trabalho de enviar um repórter a Edimburgo, para colher as platitudes proferidas pelo psicólogo. O repórter quer saber como o prazer funciona. Responde o psi:
- Ao obter prazer, não respondemos apenas aos aspectos superficiais de um objeto ou pessoa, como gosto, cheiro, aparência. Nosso prazer é afetado pelo conhecimento e pelas crenças que temos. Por exemplo, se achamos que um vinho é caro, teremos mais prazer em tomá-lo. No caso da pintura, você pode amar um quadro se acredita que é um Picasso ou um Chagall e não dá a mínima se pensa que é uma falsificação. Mesmo que o original e a cópia sejam iguais.
Bloom fala no plural, como se encarnasse o gênero humano. Ora, nem tanto ao mar nem tanto à terra. O conhecimento até pode nos levar a prazeres que antes não percebíamos bem. Mas não é o conhecimento que nos leva a gostar de sexo, sem ir mais longe. Gostamos porque é bom e estamos conversados. Jamais me ocorreria gostar de um vinho porque é caro. Gosto porque cai bem em meu palato. Já estive em um restaurante em Verona, na Itália, onde se exibia um vinho que custava 11 mil dólares. Ora, isso é mais do que eu gasto, por cabeça, em um mês na Europa, passagens incluídas. Meu padrão de consumo dificilmente ultrapassa os 50 dólares. Digamos que chegue a cem. Que prazeres inefáveis poderei ter em uma garrafa de vinho, que se consome em uma hora, que valham mais 10.900 dólares? Isso é coisa de nouveau riche, que gosta de ostentar status. Um rico de souche, que não precisa demonstrar riqueza, jamais pediria tal vinho.
Quanto à pintura, Bloom parece ter tomado como parâmetro aqueles ianques brutos que vão à Europa à cata de grifes. Diga-se de passagem, não gosto de Picasso, salvo alguma obra de sua primeira fase, como a Mulher na Janela. Depois que enveredou pelo cubismo, perdi o interesse pelo malaguenho. Tampouco entendo essa gente que gosta de uma pintura porque sabe ser original, mas não sentiria nenhum apreço por outra absolutamente igual, que sequer teria condições de distinguir da original. Salvador Dali fez uma piada que até hoje escandaliza os marchands. No final de sua vida, assinou milhares de telas em branco, que eram pintadas com seu estilo em ateliers de sua propriedade. O quadro era um Dali? Sem dúvida alguma. Sua assinatura era autêntica. Ocorre que não fora pintado por Dali. Mas quem vai saber disso? Os falsos Dalis até hoje circulam no mercado.
Em meu apartamento, tenho três reproduções, uma de Bosch, outra de Dali e uma terceira – a que mais fascina minhas visitas – de autor que duvido que algum leitor conheça. É o quadro de que mais gosto. Retrata três pessoas protegidas por guarda-chuvas, de um amarelo intenso, enfrentando um vendaval. É assinado por Leonetto Cappiello (1875-1942). Quem era Cappiello? Era um pintor desconhecido que fazia cartazes de propaganda de guarda-chuvas.
No mundo da arte, seguido temos notícia de quadros achados em antiquários que pouco valem. Subitamente se descobre que haviam sido criados por um Van Gogh ou Goya. De repente, passam a ser cotados em milhões de dólares. Ora, isto é fetiche. Não é caso de conhecimento, como diria Bloom. Mas de falta de conhecimento, de alguém que não tem critérios estéticos, mas dá créditos ao autor.
Um dos quadros mais sem graça do mundo, para mim, é o da Mona Lisa. No entanto, milhões de pessoas se empurram no Louvre para ver aquela chatice. Afinal, é assinada por Da Vinci. Imagine se fosse obra de um brasileiro ou paraguaio. Não valeria um vintém. Bloom ignora o poder dos mitos.
- E com relação à comida? Por que uma pessoa gosta de queijo e outra não? – quer saber o repórter.
- Queijo é um bom exemplo. Muitos têm cheiro muito forte. Se você disser a alguém que o cheiro que está sentindo é de um animal, ela ficará enojada. Mas se disser que é de um queijo, e que ele é caro, a pessoa pode salivar.
Ora, não é nada disso. Jamais alguém pensaria que o cheiro de um queijo é o de um animal. Pode até cheirar a escatol, como é o caso do camembert. Mas uma coisa é o cheiro, outra é o sabor. Cada vez que um amigo me traz um camembert de Paris, minha faxineira reclama: “Professor, tem algo podre na geladeira”. Pode deixar, Cristina, é assim mesmo. Certo dia, pedi que ela ignorasse o odor e provasse o queijo. Ah, ela gostou.
E quem não gosta? Só quem não viaja. Se você não sai daqui, jamais saberá o que é um camembert. É queijo que viaja mal. Uma coisa é um camembert fresquinho em Paris. Outra é um camembert após sete dias no Brasil. É a sombra da sombra do vrai camembert.
Falar nisso, em dezembro passado, degustei um camembert no Procope que me dá vontade de voltar a Paris, só para encontrar-me com ele de novo. Mas há milhares de queijos no mundo e obviamente não vamos gostar de todos eles. Só na França, há mais de quatrocentos. Se você degustar um por dia, em um ano não terá conhecido todos. Não gosto, por exemplo, do queso manchego, de grande reputação na Espanha. Muito duro e muito salgado. O Dana Blue dinamarquês também não me desce muito bem. Mas adoro o fetá grego. Gostos e cores não se discutem, diziam os antigos.
Bloom diz não gostar de queijo. O que é um direito seu. Mas do queijo passa para a música.
- Nada me faz gostar de queijo. Por outro lado, se você quer mesmo desenvolver o gosto por algo, a melhor maneira é adquirir conhecimento sobre essa coisa. Por exemplo, pegue uma pessoa que gosta de música clássica e não goste de rap. Mas essa pessoa, por alguma razão, quer gostar de rap. O melhor caminho é pesquisar, aprender sobre esse movimento cultural.
Ora, não existe isso de querer gostar. Por que raios vou querer gostar de algo que não gosto? Nasci ouvindo Teixeirinha e Miguel Aceves Mejía. Jamais tive a intenção de gostar de Mozart ou Vivaldi. Acabei gostando porque gostei, ora bolas. Mas duvido que alguém que tenha chegado a Mozart possa gostar de rap, por mais que pesquise. Impossível gostar de refinamento e barbárie ao mesmo tempo. Depois de um libreto de Da Ponte, ninguém terá maiores apreços pelas letras de um rapper.
- E os prazeres sexuais, são inatos ou desenvolvidos? – pergunta o repórter.
- O ser humano, como todos os animais que dependem de reprodução, tem desejo sexual. Mas sexo é outro exemplo interessante de como o conhecimento e as crenças definem o desejo, o prazer. Imagine um homem heterossexual vendo um vulto nu à distância. Se ele acreditar que é uma estrela de cinema, uma modelo, ficará muito excitado. Mas se de repente pensar que é um homem, ou sua mãe, sua irmã, sua filha, o desejo, a excitação, acabará imediatamente.
Confesso não entender de que ser humano fala o psicólogo. Desejo sexual é imperioso, ou a espécie não se reproduziria. Não depende de ver vultos nus. Não houvesse o prazer, há muito a humanidade – como também os demais seres vivos – estaria extinta. Isso de imaginar uma estrela de cinema como objeto de desejo é coisa que existe só depois do cinema. Que excitava os homens antes do cinema? E se eu, que gosto de homens, pensar que o vulto à distância é um homem? É claro que vou ficar excitado. Nem todos os homens são heteros, e isto o psicólogo parece não perceber.
De minha parte, nunca senti desejo por minha irmã ou minha mãe. Nenhuma delas era uma Sofia Loren. Aí, seria um pouco diferente. Mas isso é o de menos. Após tantas sandices, o psicólogo encerra sua entrevista com uma chave de ouro do besteirol. Pergunta o jornalista da Folha:
- Muitos defendem que a moral está relacionada com conceitos religiosos. A pesquisa desmente isso?
- Já sabemos que a moral não está diretamente ligada a religiões. Os ateus não são piores que os religiosos. O conceito de [Fyodor] Dostoiévski, a idéia de que, se não houvesse Deus, tudo seria permitido, é completamente falso. O fato de uma pessoa não crer em Deus não faz dela um assassino.
Esta besteira vem sendo repetida ad aeternum por pessoas que jamais leram Dostoievski. Ano passado, dona Dilma, que hoje foi saudada no El País, sei lá porque razões, como apreciadora dos clássicos, a repetia. Os católicos ocidentais adoram empunhar esta deturpação do pensamento do escritor católico ortodoxo. Querem colocar Deus como fundamento de toda ética, como se não pudesse existir ética sem a crença em Deus. Esta frase estaria em Os Irmãos Karamazov. Ora, Dostoievski jamais escreveu isto. Foi Sartre quem disse que ele havia escrito. Quem menciona esta frase são geralmente pessoas que nunca leram Dostoievski e o citam de ouvir falar. Há alguns anos, me dei ao trabalho de reler Os Irmãos Karamazov para ver se Dostoievski havia realmente escrito tal bobagem. Não encontrei. O mais próximo que existe é isto:
- Ivan Fiodorovitch ajuntou entre parênteses que lá está toda a lei natural, de maneira que se você destrói no homem a fé na sua imortalidade, não somente o amor nele perecerá, mas também a força de continuar a vida no mundo. Mais ainda, não existiria nada mais que fosse imoral; tudo será autorizado, mesmo a antropofagia. E não é tudo: ele acaba afirmando que para todo indivíduo que não crê em Deus nem em sua própria imortalidade, a lei moral da natureza deveria imediatamente tornar-se o inverso absoluto da precedente lei religiosa; que o egoísmo, mesmo levado ao crime, deveria não somente ser autorizado, mas reconhecido como uma solução necessária, a mais razoável e quase a mais nobre. Após um tal paradoxo, julgai, senhores, julgai o que nosso caro e excêntrico Ivan Fiodorovitch julga bom proclamar e suas eventuais intenções.
Mais adiante, Mitia se pergunta:
- Mas então, que se tornaria o homem, sem Deus e a imortalidade? Tudo é permitido e, conseqüentemente, tudo é lícito? (...) Que fazer, se Deus não existe, se Rakitine tem razão ao pretender que é uma idéia forjada pela humanidade? Neste caso, o homem seria o rei da terra, do universo. Muito bem! Mas como ele seria virtuoso sem Deus?
Ou seja, a pergunta não é exatamente sobre Deus, mas sobre Deus e a imortalidade. Imortalidade significa punições e recompensas. Os teístas querem ver nos personagens de Dostoievski a impossíbilidade de uma ética sem Deus. No entanto, o que o autor empunha é a promessa de céu... ou de inferno. O fundamento de sua moral - ou da de Ivan Karamazov, como quisermos - não é exatamente Deus, mas a esperança ou o medo.
A Folha está enviando repórteres longe demais para entrevistar analfabetos.
![]()
