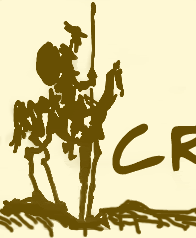


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
sexta-feira, setembro 30, 2011
NORUEGUESA ANALFABETA É
ENTREVISTADA PELA FOLHA
Há muita desinformação nos jornais sobre o mundo árabe. O que talvez explique essas bobagens que jornalistas andam escrevendo sobre a tal de primavera árabe. Por exemplo: em 2002, o terror palestino conseguiu inovar. Surge, naquele ano, uma nova palavra na mídia, mulher-bomba. Três meninas se explodiram, uma com 28 anos, outra com 21 e a terceira com 18. A mais velha nem havia chegado à metade da vida. Claro que não faltou, na época, uma feminista tardia e de poucas luzes, suficientemente irresponsável para louvar a nova conquista de seu sexo.
A sale besogne coube a Marilene Felinto, da Folha de São Paulo. Eterna defensora das piores bandeiras que o engenho humano concebe, a colunista considerou que é pelo suicídio que as muçulmanas se igualam aos homens. “As mulheres-bombas muçulmanas são a glorificação do suicídio pelo estoicismo, pelo auto-sacrifício - elas agem no intuito de que a justa defesa do bem público prevaleça sobre o direito do agressor ao corpo e à vida”.
Ora, no mundo muçulmano, nem pelo suicídio a mulher se iguala ao homem. A jornalista, que acabou sendo ejetada do jornal, demonstrou desconhecer a história de ontem. Para o sacrifício, até mulher serve. Aconteceu na guerra da Argélia. Na hora de carregar bombas para matar franceses, a mulher teve um papel a desempenhar. Finda a guerra, voltou para a cozinha fazer cuscuz. Logo depois, se não usasse véu, corria o risco de ter o rosto desfigurado para sempre com ácido. Como as afegãs. Enquanto serviam como execração dos taleban, exibiam seus belos dentes. Derrotados os taleban, voltaram a esconder o rosto na burca.
Fanatismo e ignorância andam sempre de mãos dadas. A insipiência da jornalista era tamanha, a ponto de falar em “quilos de dinamite que carregam por baixo das sete saias do xador (sic!)”. Ora, o chador é usado pelas iranianas. Consiste em uma capa que esconde todo o corpo e deixa o rosto descoberto. Foi proibido temporariamente pelo xá Reza Palhevi e nada tem a ver com palestinas. E muito menos com árabes.
Diga-se de passagem, o dicionário Houaiss dá uma definição errada de chador: “traje feminino usado em alguns países muçulmanos, especialmente no Irã, que cobre todo o corpo, à exceção dos olhos”. Dois erros. Primeiro, não é que seja usado especialmente no Irã. É usado só no Irã. Segundo, não deixa apenas os olhos a mostra, mas todo o rosto.
Na época, vi um documentário sobre o Afeganistão no National Geographic Channel. Mostrava mulheres de burca - véu que mais parece uma gaiola, com uma espécie de grade cobrindo o rosto - e a todo momento a locução falava em chador. A televisão é poderosa. Quem não sabe o que é burca, acaba achando que as afegãs usam chador. Que uma pessoa sem maiores luzes confunda burca com chador, entende-se. Que um canal de televisão difunda este erro é mais grave. Todo analfabeto passa a afirmar, de boca cheia, que as afegãs usam chador. Televisão é cultura.
Em meus dias de Folha de São Paulo, recebi uma matéria do correspondente do jornal em Paris. Ele falava do Instituto de Cultura Árabe, “que reúne países como Egito, Tunísia, Argélia, Irã...” Eu o atalhei:
- Calma, companheiro. Irã não é árabe.
- Como que não é árabe?
- Irã é persa.
Perplexidade do outro lado da linha. O arguto correspondente internacional da Folha não sabia o que era persa.
Em meio a isso, tenho uma amiga que me recomendou o bestseller O Livreiro de Cabul, da jornalista e escritora norueguesa Asne Seierstad, sabatinada ontem pela Folha, no auditório do jornal no shopping Higienópolis, aqui ao lado de casa. Claro que não fui lá. Em primeiro lugar não leio bestsellers. Em segundo, jamais perderia meu tempo ouvindo um autor de bestsellers.
Mas li trechos da alocução da moça na Folha. Asne falou sobre sua experiência de 18 anos cobrindo conflitos internacionais e também comentou os ataques terroristas, que deixaram 77 mortos em seu país. Falando sobre a “invasão ocidental”, afirma:
- Sou radicalmente contra a invasão estrangeira. A maior parte dos afegãos vê isso como uma ocupação e seus atos denotam essa preocupação. Temos de pensar em outras formas de lidar com os conflitos no mundo árabe.
Vá lá! Pode-se até dar um desconto. Vai ver que a jornalista falava do Afeganistão e depois ajuntou o mundo árabe a seu discurso. Ocorre que ela reincide:
- A burca se tornou um símbolo do quanto as mulheres afegãs são oprimidas e essa questão vai muito além do vestuário. No mundo todo, as mulheres nunca tiveram nada de graça. Cabe ao mundo ocidental ensinar as mulheres árabes a conquistarem poder.
Ora, Afeganistão nada tem a ver com mundo árabe. E burca muito menos. Curiosamente, o encontro teve mediação de Paulo Werneck, editor do caderno Ilustríssima. Também participaram o repórter de Mundo Samy Adghirni; a professora de história e cultura árabe da USP Arlene Clemesha e o editor de Internacional do UOL Notícias, Edilson Saçashima. Nenhum destes especialistas fez qualquer objeção a esta solene besteira proferida pela jornalista norueguesa.
- Como jornalista, meu objetivo é reportar o que eu vejo. Mas acho que somos reflexo da nossa criação. Cresci nos anos 70, sou filha de pais liberais e de mãe feminista. Nas minhas reportagens, muito embora eu seja objetiva, acredito que seja possível enxergar o meu ponto de vista nas entrelinhas.
E bota objetividade nisto. A moça, que já escreveu um livro sobre Cabul, sem saber que o Afeganistão não é árabe, pretende agora escrever um outro sobre a Líbia. Depois que a imprensa internacional descobriu – ó perspicácia! – que Kadafi era um ditador, Kadafi se tornou rentável.
O livro será certamente mais um bestseller.
![]()
