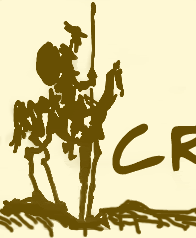


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
quinta-feira, outubro 27, 2011
SANTIAGO SEGUNDO LITTIN
Santiago do Chile — A cidade é feia, pobre e suja. Pelos buracos e lixo acumulado nas amplas avenidas, adivinha-se uma capital que um dia foi próspera e cujos habitantes desfrutaram, em passado pouco distante, um alto nível de vida. Cidadãos pobremente vestidos, em seus ternos ainda restam farrapos de dignidade — e nada mais triste do que ver um homem cheio de remendos, mas elegantemente vestido, estendendo a mão súplice para pedir alguns centavos. Lojas vazias, de vazias e tristes vitrines, restaurantes entregues às moscas, garçons olhando para nada. Mal o sol se põe sobre o Pacífico, a capital escurece e os raros privilegiados da tirania se escondem em suas tocas, temerosos da fome e da justa violência dos deserdados. Mesmo durante o dia, nota-se tensão e medo nos rostos e gestos, como se alguém que agora circula livremente pelas ruas, no momento seguinte, sabe Deus lá por que razões, pudesse estar algemado nos porões da ditadura. Um exército parece ter postos suas patas sobre a cidade. Estou em Santiago do Chile. Do Chile de Pinochet.
O poder do tirano é onipresente. Em um país privilegiado pelos deuses, que por sua geografia se permite quatro estações simultâneas, mar e montanha, deserto e neve, os tentáculos da ditadura envolvem o território todo, manifestando-se principalmente na capital. Raríssimas bancas de jornais exibem apenas a imprensa laudatória ao regime. Jornais de oposição, nem em sonhos. A imprensa internacional está banida do país e só pode ser adquirida em hotéis de luxo, onde o cidadão comum só pode entrar se estiver disposto a sérios interrogatórios pela polícia do regime ao sair, mesmo que saia sem jornal algum. As raríssimas livrarias, de paupérrimas estantes, exibem não mais que literatura técnica e alguma ficção de escritores coniventes com a ditadura.
Miséria, lixo, decadência, medo, opressão, silêncio, desconfiança: estes são os odores que todo visitante, isento de quaisquer preconceitos ideológicos, respira em um rápido giro por Santiago. Mas as cidades são como árvores, quem quiser destruí-las terá de cortar-lhes as raízes. Estão vivas as raízes de Santiago. Que um dia será Salvador. Salvador Allende.
Terminasse eu aqui esta crônica, sem ajuntar sequer uma linha a mais, conquistaria platéias e simpatias, sem falar em tribunas, lugar ao sol e quem sabe até mesmo uma sinecura num órgão público qualquer. Acontece que estaria mentindo, transmitindo, é verdade, uma mentira que todos gostam de ouvir. Como não gosto de mentir, renuncio a eventuais simpatias e passo a contar o que vi.
Para quem está acostumado a bater pernas pelas ruas de cidades como Porto Alegre ou São Paulo, Santiago exerce um poderoso impacto pela conservação e limpeza de suas ruas e passeios. Nas capitais brasileiras, há muito resignei-me a enfrentar ruas sujas e esburacadas, sem falar no lixo cotidiano nelas jogado por transeuntes sem noção alguma de cidadania, meros habitantes, nefastos usuários da cidade. Passear pelas margens do Mapocho — rio que atravessa um aglomerado de cinco milhões de almas — parece milagre, suas águas preservam a limpidez com que descem da Cordilheira. Para quem sofre a Beira-Mar Norte de Florianópolis — já nem falo do riacho Ipiranga ou Tietê — o Mapocho mais parece miragem de viajante perturbado pela travessia dos Andes.
Pelo Paseo de la Ahumada, rua Estado, Huérfanos, uma fauna humana e bem vestida (insisto em dizê-la humana, pois os transeuntes das ruas centrais do Rio ou São Paulo, sem ir mais longe, mais parecem animais machucados na luta pela vida) que há muito não se vê nas metrópoles da América Latina. Antes de Santiago, estive em Buenos Aires e a outrora elegante Florida, hoje, proporções à parte, mais parece rua Direita ou Nossa Senhora de Copacabana. Deixada de lado a agressão idiota — mas não perigosa — de cambistas à cata de divisas fortes, senti no centro de Santiago sensação que brasileiro algum pode hoje sentir em nossas capitais: a sensação de segurança. As ruas da capital chilena têm um ar de praça; nela vi velhos, jovens e crianças sentados, degustando sorvetes e o espetáculo da rua em si, tanto à tarde como à noite, sem preocupação alguma com assaltos ou violência gratuita. Para mim, que já penso duas vezes quando em Porto Alegre ao atravessar a Borges e a Praça XV para freqüentar o Chalé à noite, Santiago me fez evocar a Praça da Alfândega dos anos 60, quando filosofávamos madrugada adentro preocupados com a enteléquia aristotélica ou o ser em Sartre, jamais com punhais ou revólveres.
Outra surpresa, e das melhores, os quiosques de jornais e revistas. Penso que tais quiosques são uma excelente amostragem da cultura e liberdade de expressão de um país, neles podemos auscultar que tipo de informação consomem os cidadãos e, ao mesmo tempo, que qualidade ou quantidade de informação não proíbe o Estado de ser consumida. Pois bem: nesta Santiago que imaginava cidade sitiada e sob censura, vi nas bancas uma profusão e diversidade de jornais que sequer encontrei em Paris ou Madri. Jornais em cirílico do Leste europeu, imprensa de toda Europa, Escandinávia, Alemanha, França, Itália, Espanha, Estados Unidos, América Latina, Brasil. Sabendo como esta imprensa toda é gentil a Pinochet, o espanto do turista vira perplexidade. E mais: jornais chilenos malhando, em primeira página, a ditadura. Ocorre-me evocar os quiosques tristes e monocórdios que vi em cidades do Leste europeu, mas nem preciso ir tão longe. nenhuma banca do Rio ou São Paulo, neste Brasil 88, me oferece tal quantidade e diversidade de informação.
Livrarias imensas, bem sortidas, onde não faltam livros de Fidel Castro ou Garcia Márquez, o mais ferrenho adversário de Pinochet e, curiosamente, defensor incondicional do ditador cubano. Tampouco faltam nas prateleiras obras de José Donoso ou Isabel Allende, isso para citar apenas dois opositores do regime chileno já conhecidos do leitor brasileiro. O que é no mínimo insólito em uma ditadura.
Nas vitrines e gôndolas das mercearias, víveres e bebidas do mundo todo, desde arenques do Báltico a foie gras trufado, dos mais diversos uísques da Escócia a vinhos alemães, franceses, italianos, espanhóis. E chilenos, naturalmente. Preços? Abordáveis. Para se ter uma idéia, pode-se comprar um scotch — com a certeza de que não são da reserva Stroessner — a partir de dez dólares, ou seja, o preço de um Natu Nobilis hoje. Que mais não seja, qual intelectual de esquerda não gostaria de viver em uma sociedade onde uma dose de um bom escocês custa, em bares, um dólar? Conheço não poucos exilados traumatizados com a democrática França de Mitterrand, onde um gole de uísque só é viável a partir dos cinco dólares. Piadas à parte, a farta oferta de tais produtos evidencia uma sociedade habituada a comer bem e com requinte, afinal comerciante algum seria insano a ponto de importar iguarias para turista ver.
Contava eu estas e outra coisas a uma moça ilhoa e bem-nascida, cidadã da Santa e Bela Catarina, dessas que julgam ser todo empresário um canalha, mas que jamais recusam uma cobertura facilitada por um pai empresário, dessas que jamais subiram o morro do Mocotó mas estão preocupadas com a colheita do café na Nicarágua, em suma, falava eu com um espécime típico da raça que chamo de os Novos Cafeicultores, e a objeção — a primeira objeção — caiu como um raio:
— E a miséria? Aposto que não foste visitar os bairros pobres, a periferia de Santiago.
Tinha razão em parte a jovem cafeicultora. Não visitei os bairros pobres de Santiago, afinal se troco as margens do Atlântico pelas do Pacífico, não será para ver miséria que conto meus parcos dólares. Não tenho a psicologia do francês médio, por exemplo, que mal chega ao Brasil, quer visitar favelas. Este comportamento, a meu ver doentio, parece-me ser vício de europeu inculto e de consciência pesada, que insiste em ver a miséria do Terceiro Mundo que explora, para depois contribuir com avos de seu bem-estar para guerrilhas suicidas. Se junto meus trocados para visitar um país, quero receber o que de melhor esse país tem a me oferecer. Nos anos que vivi em Paris, descia certa vez de Montmartre e enveredei pelas ruelas da Goutte d'Or, encrave árabe e paupérrimo que se alastra na cidade como mancha de óleo. Senti-me, de repente, em um território miserável para o qual jamais teria pensado em viajar, que mais não seja não será minha indignação ou revolta que resolverá o problema árabe na França. Dei meia volta, enfurnei-me na primeira boca de metrô e só voltei à superfície na Rive Gauche, a margem que mais me fascina do Sena. Não, não vi a miséria de Santiago. Mas consolei a cafeicultora: podes estar certa de que miséria existe, pois miséria está presente em qualquer metrópole do mundo.
Ela sorriu por dentro, parecia dizer: que bom que existe miséria em Santiago. O que me deixou um tanto perplexo, eu sorriria intimamente se soubesse que não existe miséria em lugar algum do mundo, independentemente de regimes políticos ou ideológicos. Ela, por sua vez, admitia a veracidade de meu relato. Ajuntei que a inflação era de seis por cento. Quando digo isto a um brasileiro, a reação normal é: "seis por cento ao mês?" Acontece que é seis por cento ao ano. Isto é sonho que, brasileiros, já nem ousamos sonhar. Se eu passar a alguém os preços de um restaurante que visitei em Santiago no mês passado, e se este alguém visitar o Chile no ano que vem, é provável que os preços continuem os mesmos ou, no máximo, tenham variado em torno de uns dez por cento a mais. Cá entre nós, não conseguimos recomendar para amanhã um restaurante no qual comemos ontem. Caiu, então, fulminante, a segunda objeção:
— Sim. Mas que preço pagaram os chilenos por este bem-estar?
Houve, no Chile, um assalto marxista e armado ao Estado e negá-lo é paranóia. Deste confronto resultaram, segundo alguns, dez mil mortes. Segundo outros, quarenta mil. De qualquer forma, um preço infinitamente inferior ao preço pago pelos russos a Josiph Vissarionovitch Djugatchivili — que oscila entre vinte e sessenta milhões de cadáveres — para dar no que deu: uma confederação forçada de países pobres, alguns vivendo a nível de fome, como a Romênia e a Albânia. Bem mais barato que o preço pago pelos cambojanos a Pol Pot: dois milhões e meio de mortos, em um país de cinco milhões de habitantes, e disto não mais se fala. Sem falar que os que ficaram se jogam ao mar em jangadas, enfrentando tempestades, tubarões e piratas, ou já esquecemos os boatpeople? Sem falar nos que matou Castro — número que nenhum Garcia Márquez aventa — para instalar no Caribe seu gulag tropical. Em Cuba também há farta escolha de bebidas e gêneros alimentícios. Mas só o turista pode comprá-los, e com dólar. O cidadão cubano fica chupando no dedo. Nas praias, cheias de peixe, não há atividade pesqueira alguma, pois quem tem barco vai pra Miami.
— Justificas então tais mortes? — quis saber a moça — referindo-se, é claro, aos mortos do Chile, já que tornou-se tácito, para os fanáticos contemporâneos, que é lícito fazer correr sangue de certas pessoas e criminoso o de outras. Em suma, para usar dois conceitos que não me agradam, porque multívocos, é perfeitamente permissível fazer jorrar sangue da assim chamada direita e constitui sacrilégio, quase tabu, sangrar a assim chamada esquerda. Não justifico morte alguma, a humanidade tem pelo menos uns três mil anos de experiência histórica, milênios suficiente, parece-me, para concluirmos que não é matando que se chega a erigir a cidade humana.
— Cristaldices! — jogou-me na cara minha cafeicultora, digo, interlocutora. Pode ser. Chamo então um cineasta exilado que voltou clandestinamente ao Chile, em depoimento tomado por Gabriel Garcia Márquez, intitulado A Aventura de Miguel Littín Clandestino no Chile, já traduzido ao brasileiro por Eric Nepomuceno e encontradiço em qualquer livraria. No capítulo significativamente intitulado "Primeira desilusão: o esplendor da cidade", depõe Littín:
— Eu atravessei o salão quase deserto seguindo o carregador que recebeu minha bagagem na saída, e ali sofri o primeiro impacto do regresso. Não notava em nenhuma parte a militarização que esperava, nem o menor traço de miséria. (...) Não encontrava em nenhuma parte o aparato armado que eu tinha imaginado, sobretudo naquela época, com o estado de sítio. Tudo no aeroporto era limpo e luminoso, com anúncios em cores alegres e lojas grandes e bem sortidas de artigos importados, e não havia à vista nenhum guarda para dar informação a um viajante extraviado. Os táxis que esperavam lá fora não eram os decrépitos de antes, e sim modelos japoneses recentes, todos iguais e ordenados.
Mais adiante:
— Na medida em que chegávamos perto da cidade, o júbilo com lágrimas que eu tinha previsto para o regresso ia sendo substituído por um sentimento de incerteza. Na verdade o acesso ao antigo aeroporto de Los Cerrillos era uma estrada antiga, através de cortiços operários e quarteirões pobres, que sofreram uma repressão sangrenta durante o golpe militar. O acesso ao atual aeroporto internacional, em compensação, é uma auto-estrada iluminada como nos países mais desenvolvidos do mundo, e isto era um mau princípio para alguém como eu, que não só estava convencido da maldade da ditadura, como necessitava ver seus fracassos na rua, na vida diária, nos hábitos das pessoas, para filmá-los e divulgá-los pelo mundo. Mas a cada metro que avançávamos, o desassossego original ia se transformando numa franca desilusão. Elena (militante da esquerda chilena que acompanha Littín) me confessou mais tarde que ela também, ainda que estivesse estado no Chile várias vezes em épocas recentes, tinha padecido o mesmo desconcerto.
Coragem, leitor de esquerda. Adelante! Leiamos Littín, só mais um pouquinho:
— Não era para menos. Santiago, ao contrário do que contavam no exílio, aparecia como uma cidade radiante, com seus veneráveis monumentos iluminados e muita ordem e limpeza nas ruas. Os instrumentos de repressão eram menos visíveis do que em Paris ou Nova York. A interminável Alameda Bernardo O'Higgins abria-se frente a nossos olhos como uma corrente de luz, vinda lá da histórica Estação Central, construída pelo mesmo Gustavo Eiffel que fez a torre de Paris. Até as putinhas sonolentas na calçada oposta eram menos indigentes e tristes do que em outros tempos. De repente, do mesmo lado em que eu viajava, apareceu o Palácio de La Moneda, como um fantasma indesejado. Na última vez que eu o tinha visto, era uma carcaça coberta de cinzas. Agora, restaurado e outra vez em uso, parecia uma mansão de sonho ao fundo de um jardim francês.
Fico por aqui. Se o leitor ainda alimenta dúvidas, que visite o Chile, preferentemente após ter deambulado por Havana. O homem só conhece comparando. Para finalizar, apenas mais uma observação, não minha, mas de Littín, que talvez elucide a prosperidade atual de seu país.
— Uma das primeiras medidas que ele (Allende) tomou no governo foi a nacionalização das minas. Uma das primeiras medidas de Pinochet foi privatizá-las outra vez, como fez com todos os cemitérios, os trens, os portos e até o recolhimento do lixo.
O que esclarece, a meu ver, o fascínio das ruas de Santiago.
Joinville, A Notícia, 27.11.88. Porto Alegre, RS, 10.12.88
![]()
