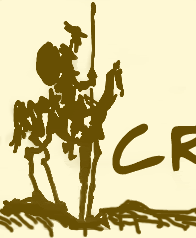


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
terça-feira, março 26, 2013
INCULTURA NAS REDAÇÕES *
Ainda em meus dias de Folha, escrevendo sobre uma escaramuça qualquer no planeta, fiz uma manchetinha mais ou menos assim: OBUS MATA UM E FERE TRÊS. Mal viu o título na rede, um jovem editor reclamou:
— Obus? O que é isso?
Obus, expliquei pacientemente, é uma peça pequena de artilharia, um tipo de morteiro. Também chama-se obus a granada ou bala lançada por esse morteiro.
— Ah, mas o leitor não vai entender. Ninguém sabe o que é obus.
De minha parte, eu desconhecia palavra mais concisa que obus para dizer tiro de morteiro. Para minha sorte, um dos editores fizera serviço militar. Sim, é isso mesmo, é obus. "Mas vocês fizeram serviço militar, disse o primeiro. O leitor, nem sempre". O que, pelo menos no que a mim dizia respeito, era falso. Nunca fiz serviço militar. Quando menino eu fazia, isto sim, palavras cruzadas. Projétil de morteiro, quatro letras? Obus.
Meses mais tarde, novo conflito com os redatores hostis ao vernáculo. Me caíra nas mãos um TL (texto-legenda) para titular. Na foto, uma mulher de mãos postas e cabeça inclinada manifestava sua adoração por algo ou alguém. Nem hesitei: EM SINAL DE PREITO. Mal o texto chegou em sua tela, o editor, sempre alerta, gritou de sua baia:
— Preito? O que é isso?
Juntei minhas mãos, inclinei a cabeça e disse:
— Preito é isto.
— Ah, mas então deve ser uma palavra muito antiga.
De fato, era bem mais antiga que eu. Como aliás a maioria das palavras que eu ou você usamos. Lembrei-me do obus e fui tomado de súbita iluminação. Para aquele menino, formado na reputadíssima ECA, palavra que ele não conhecia certamente o leitor também não a conhecia. Os leitores do jornal eram nivelados pelo padrão do que ele ignorava.
Quem passou por jornais nas últimas décadas, terá dezenas destas histórias para contar. No dia 03 de outubro de 2001, a Folha superou todos seus feitos. A entrevista com Fernando Henrique Cardoso versava sobre o abate de aviões clandestinos sobre o território nacional. “Precisamos fazer um esforço grande para controlar o terrorismo, que é um inimigo suez” — assim redigiu a repórter a declaração do presidente. A moça, que desconhecia o adjetivo soez, escreveu como pensou ter ouvido e resolveu esclarecer o leitor, que talvez não soubesse o que significava suez: "FHC se referia aos combatentes egípcios que lutaram contra os israelenses na região de Suez, em 1973, e atacavam seus oponentes por meio de túneis subterrâneos abandonados, de surpresa: ninguém sabe de onde vem". Explicação mais que oportuna, já que nem mesmo eu saberia dizer o que significa suez como adjetivo.
Ora, diria o jovem editor, o presidente se permite tais palavras porque é um erudito. Acontece que não se exige erudição de ninguém para falar em soez. As gerações novas, hostis à leitura e viciadas pelo parco vocabulário televisivo, não mais conhecem palavras elementares do vernáculo e ainda se julgam no dever de elucidar para o leitor vocábulos de cujo significado apenas suspeitam. Com este material humano, que sequer conhece a própria língua, faz-se jornalismo. Pois jornalismo, hoje, só pode exercer quem faz curso de jornalismo.
Melhor mesmo, só a história dos perdigotos, já incluída no ror dos clássicos da Folha. A notícia era sobre a epidemia de uma gripe, que se disseminava por perdigotos. O repórter, ciente de sua ignorância, fez o que deveria fazer: consultou o dicionário. Só que ficou na primeira acepção da palavra. Os leitores foram então informados que a gripe era transmitida por filhotes de perdiz. O cidadão urbano foi tranqüilizado. Como nas urbes não existem perdizes, muitos menos filhotes das ditas, não havia porque temer a gripe.
A Folha tem a preocupação de ser sempre didática, para atingir a compreensão da grande massa. Assim, quando grafa o marxismo, o redator muitas vezes põe entre parênteses: doutrina do filósofo alemão Karl Marx, século 18. A própósito, os séculos são sempre grafados em arábicos. Nestes dias de incultura generalizada, se alguém falar a um paulistano do ônibus Pio XII, talvez não se faça entender: ele só conhece o pióxii. Tampouco entenderá Praça Quinze ao ler Praça XV. Ele conhece a praça Xivi. A precaução, em verdade, não deixa de ter sentido. Ocorre que o jornal subestima a inteligência de seus próprios leitores. Se um leitor de tablóides sensacionalistas têm dificuldade em ler algarismos romanos, o mesmo não se deveria supor de um leitor da Folha.
Mas se supõe. O jornal determinou a supressão de todos algarismos romanos. O que originou outro episódio, não menos emblemático, no bestialógico do jornal. Ao deparar-se com o nome do terrorista americano Malcolm X, uma redatora não teve dúvidas: grafou Malcolm 10.
Fora outras mancadas correntes na imprensa cotidiana. Por exemplo, aquele monumento em Paris construído em La Défense pelo Mitterrand, l'Arche. Os jornalistas, talvez por terem visto sua aparente forma de arco, e talvez por associação ao Arco do Triunfo, grafam o tempo todo "o Arco de La Défense". Ora, arche é arca. A tradução correta seria Arca de la Défense.
Ou ainda os Camarões, república africana. Em verdade se chama Cameroun, em homenagem a um certo Lord Cameroun. A origem do nome comporta discussões, mas uma coisa é certa: em língua nenhuma do mundo cameroun é camarão. Se fosse, a República do Cameroun seria traduzida em inglês como Republic of Shrimps, em francês como République des Crevettes, em espanhol como República de las Gambas. Já vi carta de um diplomata do Cameroun reclamando dos jornais a tradução errada. Em vão. Na Folha, sugeri a um dos responsáveis pela unificação ortográfica do jornal a correção. 'Agora é tarde', me respondeu.
Outro sinal de tráfego são as aspas. Têm múltiplas funções. Servem geralmente para marcar uma citação. Mas também para deixar clara a posição do editor. Os acontecimentos pós-queda do Muro geraram uma intensa batalha de aspas nas redações. Certa vez, na Folha de S. Paulo, recebi um despacho que falava dos crimes do comunismo durante o regime dos Ceaucescu, na Romênia. Traduzi o texto, coloquei-o no bom tamanho e dei meu trabalho por feito. Dia seguinte, lá estava a notícia. Mas falava de "crimes" do comunismo. Com crimes entre aspas, para deixar bem claro que a redação não assumia a idéia de que comunistas pudessem cometer crimes.
Trabalhei mais tarde no Estadão. Um belo dia, recebo um telefonema de um colega da Folha:
— Janer, aquela nota sobre a Finlândia, foste tu que a redigiste, não foi?
De fato, fora eu. Mas como é que ele sabia?
— Pelas aspas. Puseste entre aspas "política de neutralidade". Só podiam ser tuas.
Me senti lisonjeado. Já era reconhecido até pelas aspas.
Outro recurso do redator, para bem definir sua postura, é a bendita palavrinha suposto. Se nas editorias de Nacional o adjetivo é uma prudente salvaguarda para evitar processos por parte de um suspeito ou indiciado em qualquer crime, no noticiário internacional é um recurso para preservar antigas crenças. E já li no Estadão, juro que li, esta frase: supostos terroristas explodem carro-bomba no Peru.
Uma ressalva é sempre oportuna. Poderia ocorrer que o carro-bomba tivesse sido montado por uma equipe de carmelitas descalças. Perguntei ao redator: supostos terroristas, companheiro? Ele releu o texto e justificou: força de hábito. Claro que ninguém vai grafar "suposto nazista". Quando se trata de nazistas, não há aspas nem supostos.
Texto-legenda, em jornalismo, é aquele texto curto e ágil que acompanha uma foto ou ilustração. Segundo o manual de redação da Folha de S. Paulo, seu título pode recorrer a trocadilho ou outras formas de humor.
Foi no século passado, lá por 93. A União Soviética, seguindo a insuspeita previsão de Marx, tomara os rumos anunciados no Manifesto: tudo que é sólido se desmancha no ar. Das agências, recebemos em fim de tarde uma charge de alguma revista internacional: em Moscou, uma velhota russa, com uma cesta vazia no braço, procurava abastecer-se no mercado. No balcão de pães, não havia pães, apenas bombas atômicas em formato de pães. Dei vazão a todo meu talento. Titulei com gosto:
O PÃO QUE MARX AMASSOU
Não é todo o dia que a musa desce num fechamento de jornal. Me pareceu ter ganho com verve meu pão naquele dia. No entanto, estávamos no deadline e o caderno não fora fechado. No computador ao lado, o editor suava a cântaros e gemia como em trabalhos de parto. Pousei em seus ombros como um papagaio e notei que tentava um novo título.
— Mas o meu não está ótimo? — quis saber.
Me olhou indignado:
— Não é hora de piada.
Os minutos corriam e o novo título não dava os ares da graça. Desesperado, o editor retomou o antigo e substituiu uma palavra:
O PÃO QUE STALIN AMASSOU
Assim não vale, protestei. Xingar o Stalin é chutar cachorro morto. Entre nós, só o Niemeyer e o Prestes ainda o cultuavam. Que mais não fosse, não tinha aquele efeito aliterativo, Marx amassou. O Velho, não! — insistia o editor. Para não atrasar o fechamento, optou pela média:
O PÃO QUE LÊNIN AMASSOU O jornal quase atrasou. Mas o Velho foi salvo.
* Como ler jornais - http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/lerjornais.html
![]()
