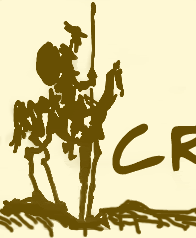


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
terça-feira, dezembro 31, 2013
DESDE O FUNDO DO POÇO A
UMA VIDA PLENA DE GRAÇA *
Senhor pastor:
Houve época em que cri em um deus onipotente e salvador e muitas vezes a ele orei por minha salvação, pela salvação de meus próximos e mesmo da humanidade. Foram meus dias de adolescência, pastor. Justo naqueles dias, fui assaltado pelo clamor, não dos povos – como fala o Livro – mas pelo clamor da carne, clamor tirano, imperioso e impossível de ser domado. Por melhores propósitos que fizesse, acabava dominado pelos ditos prazeres da carne. Dizem que a carne é fraca, pastor. Nada disso, a carne é forte. Fraco é o espírito, que sempre acaba cedendo à carne.
Entrava em pânico, via à minha frente as chamas eternas do Hades, onde tudo é choro e ranger de dentes. Me sentia condenado ao convívio com demônios. Arrependia-me, fazia atos de contrição, confessava meus pecados a sacerdotes e recebia a absolvição. Por um dia ou dois, conseguia viver sem pavores. Mas não mais que um dia ou dois. No terceiro, eu já estava pecando de novo. As noites de tempestade eram noites de pavor. Talvez fosse megalomania. Mas cada raio que caía, eu sentia que era dirigido a mim.
Eu era pobre, pastor. Filho de camponeses, nunca tive facilidades em minha infância. Muito menos na adolescência. Fiz minhas universidades mal tendo dinheiro para o restaurante universitário. Vivi em repúblicas abomináveis, pequenos apartamentos, sem grana suficiente para tomar um vinho decente. A bebida mais ao alcance de minha boca era a mais barata, a cachaça. Ainda adolescente, tomei grandes porres de cachaça. Naqueles dias de pouca grana, bebia muito e bebia mal. Em minha juventude, pastor, eu estava no fundo do poço. O senhor Jesuis era um encosto em minha vida, despacho de catimbó feito a Exu, praga rogada por urubu para infernar meus dias.
Foi quando então, pastor, durante três dias e três noites, li atentamente a Bíblia. Foram dias em que quase não comi. À noite, pegava um cavalo em pêlo, sem freio nem buçal, e saía a galopar nas madrugadas, olhando o céu estrelado e esperando ouvir daquele universo magnífico alguma resposta. Não ouvi nada, pastor. Foram três dias e três noites decisivas em minha vida. A partir da leitura do Livro, tornei-me ateu. Aquele deus proposto pelas Escrituras, que se pretendia criador daquele firmamento esplêndido e cravejado de estrelas, que só vemos na pampa ou no deserto, sempre longe das cidades, não me convencia. Aquele deus matava e exterminava, mandava matar e exterminar. Não me servia.
Disse então a mim mesmo: sai de mim, Coisa Ruim! Me larga, ó Espírito Castrador, sai de minha vida, ó Supremo Estraga-prazeres! Desapareçam de minha vida vocês três, o Pai, o Filho e o Paráclito. E a Mãe também, antes que me esqueça. E todos os santos do céu e todos os padres de todas as igrejas. Xô, Espírito Imundo, xô, Assassino de Povos. Ouste, Pai das Doenças e Exterminador de Nações. Rua de minha alma, ó velho Deus castrado!
Então, pastor, tudo mudou em minha vida. Saí do fundo do poço, rumo à luz do bocal. Mulheres começaram a cair-me dos céus, justo daqueles céus mudos aos quais eu pedia perdão por meus pecados. Como perdera a noção de pecado, nunca mais pequei. Tornei-me um santo homem e procurei imitar os bíblicos patriarcas. Curti plenamente os prazeres que tanto apraziam ao rei Davi, ao rei Salomão, à Sulamita. Verdade que nunca consegui sustentar setecentas mulheres e trezentas concubinas. Mas fiz o que estava a meu modesto alcance.
Por mais de quarenta anos, as mulheres me caíram nos braços como o maná caiu do alto por quarenta anos para saciar a fome do Povo Eleito. Comecei minha vida afetiva com duas, às quais muito amei. Por circunstâncias dos dias, perdi uma. Vivi quatro décadas de muito carinho e cumplicidades com a segunda. Fui feliz em meu casamento. Divórcios, separações, o espírito do ciúmes, amargura, traições, nunca rondaram minha existência.
Quando minha amada partiu, não acusei deus algum, afinal não acreditava em nenhum. Estas duas primeiras amadas logo se multiplicaram por dois, cinco, dez, vinte, cinqüenta. Não saberia dizer quantas, nunca contei. Mas digamos que a metade da “listina” de Leporello. Corri atrás delas com a hybris de um fauno grego, para compensar os dias de vacas magras e sem leite de minha juventude. Após deixar de crer no tal de deus, minha vida foi uma profusão de prazeres. Corri nu atrás de valquírias nuas pelos bosques de Estocolmo, em plena luz da meia-noite. Isto, pastor, teu deus não confere aos mortais, exceto se forem majestades apaniguadas pelo Senhor. Isto é ventura só concedida pelos deuses lúbricos do Valhala. Tack tack, Odin!
Uma vez descrente, apesar de pobre consegui educar-me. Fiz duas faculdades, três pós-graduações no Exterior, viajei por todos os países da Europa, por mais alguns do Leste europeu, pela África, Estados Unidos, Canadá e América Latina. Nasci nos peraus do Upamaruty, em um rancho de pau-a-pique e fiz doutorado em Paris. Consegui escapar de meu pequeno mundinho e sai a navegar pela vastidão do anecúmeno. Au bord’elle, la Seine, conheci uma peoniana adorável, a quem dediquei minha tese. Havia também Úrsula, uma polonesa, que me sussurrava: “mon ours tropical”. Música para meus ouvidos.
Não cheguei a amar a filha de Faraó, muito menos moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hetéias, como o sábio rei Salomão. Mas tive namoradas lindas em várias cidades do mundo. Desde suecas a francesas. Desde macedônias até mesmo a turcomenas e usbeques, passando por polonesas e russas. Adorei a turcomena. Era de Achkhabad, palavra que soava deliciosamente à minha fome de exotismo. Uma vez ateu, fascinou-me a idéia de ouvir mulheres gemendo em línguas que desconheço. E as ouvi. Paris sempre foi pródiga em estrangeiras de todos azimutes e não recusei o que a cidade generosamente me oferecia. Tive do bom e do melhor, como dizem suas ovelhas, senhor pastor. Mas só depois que deixei de crer.
Ateu, fui abençoado com dinheiro e vida confortável. De camponês tosco, tive acesso a línguas, à filosofia, à literatura, à música erudita, a óperas, em suma, ao dito mundo da cultura. De Teixeirinha passei a Mozart, de Luiz Gonzaga a Bizet. Abandonei a cachaça e passei a cultivar bons vinhos e bons uísques. Do mondongo fui promovido ao foie gras, do arroz com feijão às andouilletes. Curti a boa gastronomia da Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal. Percorri as cidades mais esplendorosas do Ocidente. Vivi em três prestigiosas capitais da Europa e em quatro grandes capitais de meu país.
Perambulei por paisagens magníficas, que me fizeram chorar. A beleza extrema sempre me provoca lágrimas. Andei pelo deserto, por oueds, montanhas, dunas, fjords, rias e ventisqueros. Chorei nos Andes, chorei nos Alpes, chorei no Saara, chorei nas costas da Noruega, chorei no Estreito de Magalhães. Chorei também em Santorini. De Madri, saí chorando. Eu estava em uma bodega, tudo era cores, dança, música, canções, madriles lindas, muito vinho, odores de assado bom, os sons rascantes de uma língua que adoro.
Quando me dei conta que, dali a duas horas, estaria voltando ao Brasil, chorei como um terneiro desmamado. Fui chorando até o aeroporto. Não porque estivesse voltando ao Brasil. Mas porque estava abandonando a festa. Dentro de pouco eu estaria voando, espremido num assento apertado, rumo a um país sin flamenco ni cante hondo, sin bailaoras ni cantaores, sin cochinillos ni lechales. Na bodega, continuariam todos cantando e dançando, comendo e bebendo. Muito chorei em minha vida, pastor. Raras vezes de tristeza. O mais das vezes, foi por deslumbramento, perplexidade ante a beleza. Felicidade também nos faz chorar. Choro também com certas árias de Nabucco, Carmen, Don Giovanni, Norma.
Depois que abandonei o tal de Deus, senhor pastor, passei a viajar quase todos os anos à Europa. (Quando nele acreditava, só conseguia ir de Dom Pedrito a Ponche Verde). Fiz pelo menos cinco travessias divinas do Atlântico – com perdão pelo trocadilho – de navio. Sabe, pastor? Aqueles navios cheios de Emmas Bovarys sedentas para conhecer o mundo e experimentar emoções outras que não as medíocres emoções proporcionadas pelo Charles. Vivi grandes momentos, “ao quente arfar das vibrações marinhas”, como canta o poeta. Fiz cruzeiros também divinos pelo Mediterrâneo, pelo Báltico, pelo mar do Norte e pelo mar Negro, pelo Egeu, pelo Adriático e pelos Canales Fueguinos.
Durante pelo menos uns trinta anos, sempre celebrei a bona-chira nos mais antigos e acolhedores restaurantes da Europa, com minha Baixinha adorada. Agora que ela partiu, ora a celebro com minha filha, ora com alguma namorada. E com meus amigos. Bastou-me abandonar Deus, pastor, e minha vida se tornou repleta de bênçãos, que me caíam dos céus em catadupas.
Fui salvo por minha descrença, pastor. Quando cria em Deus, era um adolescente fodido e sem nenhum vintém. Não tinha nem como convidar uma amiga para um bom jantar. Bastou-me deixar de crer e a vida se tornou linda. Cheguei aos sessenta jovem e cultivando minhas antigas amadas. Não tenho carro, nem nacional nem importado, como ostentam vossos crentes, é verdade. Mas isto é opção minha. Com carro não se vai longe. Ora, eu gosto de ir longe.
Sem ser rico, vivo bem. Não tenho contas em vermelho, nem nome sujo na praça, nem problemas na justiça. Jamais fiz empréstimos. Não sei o que seja um cheque sem fundo. Muito menos problemas familiares. Hoje, minhas únicas dívidas são luz, água e condomínio. Vivo em bairro bom, prédio ótimo, apartamento confortável. Ano passado, regalei uma antiga namorada com uma viagem a Paris, Barcelona e Madri. Com uma noite em Bruxelas, só para curtir um café que adoro.
À minha filha – doravante designada Primeira Namorada – dei de presente os fjords noruegueses, o sol da meia-noite, Estocolmo e o arquipélago de Estocolmo e de novo Paris. Na próxima primavera européia, estou combinando um giro pela Itália com uma amiga da Finlândia. No outono, penso partir com a Primeira Namorada rumo a Madri e às ilhas Canárias. Madri porque não concebo ir a Espanha sem visitar Madri. Ilhas Canárias, porque quero passear entre os vulcões de Lanzarote e comer carnes assadas no calor das lavas.
Por vários anos vivi soterrado no fundo do poço. O senhor Jesuis sempre foi um atraso em minha vida. Tudo só se tornou lindo, divino e maravilhoso quando o abandonei. Sei que o senhor pastor, por questões de fé, neste ano que começa, não poderá gozar dos prazeres que gozei e gozarei ainda.
Seja como for, bom 2009, senhor pastor.
* 31/12/2008
![]()
segunda-feira, dezembro 30, 2013
MANHÃ NA MAFRA *
Era sábado e eu flanava pela Mafra, rumo à Livraria Catarinense, disposto a entregar-me àquele esporte que Mário Quintana batizou como a ronda das lombadas. Naquela manhã, minha ronda foi das mais produtivas. Ou melhor, nem foi ronda, foi coup de foudre. Já na primeira estante, enamorei-me perdidamente por uma belíssima edição de Um Estudo da História, de Toynbee, publicada pela Martins Fontes em co-edição com a Universidade de Brasília, trabalho que honra o nível de produção gráfica de qualquer país civilizado. Minha ronda acabou ali. Paguei cinco-mil-cruzados-louvado-seja-Machado e saí de Toynbee em punho, com a sensação de tê-lo ganho de graça.
Na nona parte de seu ensaio, Toynbee se propõe estudar os contatos entre civilizações no espaço e os conflitos daí decorrentes. Descobre o historiador que as civilizações "agressivas" tendem a estigmatizar suas vítimas como inferiores em cultura, religião ou raça. A parte ofendida reage, seja tentando forçar-se a um alinhamento com a cultura estrangeira, seja adotando uma postura exageradamente defensiva, reações estas que lhe parecem pouco sensatas. "Os encontros provocam terríveis animosidades e criam enormes problemas de coexistência, mas penso que a única solução possível para ambas as partes seja tentar um mútuo ajustamento. Foi assim que as religiões mais elevadas reagiram ao problema, e no mundo de nossos dias é imperativo que as diferentes culturas não se defrontem em hostil competição, mas procurem compartilhar suas experiências assim como já compartilham sua humanidade comum".
As duas reações que ao historiador parecem insensatas, são definidas como zelotismo e herodianismo, atitudes assumidas pelos judeus ante à violenta pressão do helenismo. "A facção zelota — diz Toynbee — foi formada por pessoas cujo impulso, em face dos ataques lançados por uma civilização alheia e vigorosa, foi assumir a posição a posição evidentemente negativa de destruir o formidável agressor. Quanto mais duramente o helenismo os pressionava, mais denodadamente lutavam para se manterem afastados dele e de todas suas obras; e seu método para evitar a contaminação foi o de se retirarem para a rigidez espiritual de sua própria herança judaica, de se encerrarem em sua prisão mental, de cerrarem fileiras, de manterem uma frente coesa e irredutível e de encontrarem sua inspiração, seu ideal e sua prova de lealdade na sinceridade da observância minuciosa da lei judaica tradicional. A fé que animava os zelotas era a convicção de que, se mantivessem meticulosamente sua tradição ancestral e a preservassem totalmente intacta e inalterada, seriam recompensados, recebendo a força e a graça divinas para resistirem à agressão alheia, por mais hegemônica que parecesse a superioridade material do opressor. A postura dos zelotas foi a de uma tartaruga que se recolhe ao casco, a de um ouriço que se enrola dentro de uma espinhenta bola defensiva".
Já outra atitude seria a dos herodianos, facção antizelota de defensores e admiradores do rei idumeu Herodes, o Grande, que soube estimar objetivamente aquela força forânea para depois tomar de empréstimo ao helenismo todas as realizações que se revelassem úteis aos judeus, a fim de se prepararem para viver em um mundo que se helenizava de forma inevitável. Mas falava dos zelotas.
Fanáticos que lutavam não apenas contra os romanos mas também contra patrícios que não lhes agradavam, os zelotas não são mencionados no Novo Testamento. Há quem considere zelota um dos apóstolos, Simão, o Zelador, como também Judas, o galileu. Não confundir, por favor, este Judas com o Iscariotes, de errôneo apelido, ao que tudo indica. Se o nome provém do hebraico, significaria homem de Cariot. Outros estudiosos pretendem que seu nome derive de sicário, outra seita de judeus fanáticos, na segunda metade do século I D.C., assim chamados em função do pequeno punhal — sica — que usavam. Depois que os zelotas foram liquidados pelos romanos, os sicários continuaram a luta pela defesa de Jerusalém, mas também não hesitaram em eliminar seus inimigos judeus. O que talvez explique aquele beijo e as trinta moedas de prata. Mas não é deste Judas, talvez do sicário, talvez de Cariot, que falo. Zelota seria, isto sim, Judas, o galileu, proveniente de Gâmala na Gaulanítide. Aproveitou-se do descontentamento provocado pelo recenseamento de Quirínio para instigar os judeus contra a autoridade de Roma.
O que me fez lembrar, naquela manhã de sábado na Mafra, um refinado filme dos Monty Python, A vida de Brian. Reunidos os conspiradores judeus, o líder pergunta: que nos trouxeram os romanos? Estradas, responde alguém. Certo. Mas além das estradas, que nos deram? Hospitais, responde outro. É! Mas que mais além das estradas e hospitais? Escolas, sugere um terceiro. E assim continua a discussão, até que sai um manifesto: apesar de nos terem trazido estradas, hospitais, escolas, esgotos, Romanos go Rome! (O trocadilho é meu, perdão!). Para um herodiano, esta não é a atitude da tartaruga que se esconde sob seu casco, mas a da avestruz que esconde a cabeça na areia.
Embalado por estas e outras evocações, continuei meu passeio pela Mafra, contente com a companhia de Toynbee e enveredei pelo mercado velho. Em meio àquele odor emético de peixe estocado, um grupo de pessoas bebia champagne, e isso às onze horas de uma manhã de sábado! "Gaúcho só matando", disse alguém, enquanto que ao lado um outro qualquer tentava se convencer a si mesmo e aos demais: "como é bom ser ilhéu."
Sem querer, eu me infiltrara no box dos zelotas.
*Joinville, A Notícia, 25/09/88. Uma boa amiga postou no Facebook foto onde desfila com um cartaz "eu luto por Floripa". Segue minha definição da ilha, escrita há 25 anos, quando lá vivia.
![]()
sábado, dezembro 28, 2013
ADIÓS MUCHACHOS
Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
Barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada,
Debo alejarme de mi buena muchachada.
Adiós muchachos. ya me voy y me resigno...
Contra el destino nadie la talla...
. Se terminaron para mi todas las farras,
Mi cuerpo enfermo no resiste más...
A vida está plena de pessoas admiráveis, homens comuns do dia-a-dia, sem pretensões de salvadores da pátria ou do mundo, cuja nobreza passa geralmente despercebida por seus contemporâneos. Tive e tenho como amigos vários destes espécimes, a quem dou mais valor que aos pássaros ávidos de fama que conseguem a celebração universal. Há poucos dias, universalmente incensado pela imprensa, morreu um destes últimos, Nelson Mandela, comunista, terrorista e prêmio Nobel da Paz. Hoje, partiu mais um dos meus, homem distante da fama, afinal não matou milhares nem milhões. Sua vida resumiu-se a ser cordial, sensato, inteligente, honesto, amigo e generoso. Sua passagem ficará perdida no necrológio de algum jornal de Porto Alegre, e só.
Devo tê-lo conhecido na Rua da Praia ou Praça da Alfândega, nos anos 60, quando fazia minhas universidades. A praça da Alfândega reunia intelectuais, poetas (Quintana era um de seus assíduos freqüentadores), jornalistas e outros marginais. Este ano levou também outro amigo daqueles tempos que já morreram, o Aníbal Damasceno. Jesus está chamando.
Comentando a morte de Damasceno, evoquei aqueles dias de praça, onde conheci Francisco de Paula Araújo, nosso companheiro de peripatetismo – ou talvez peripatetices. Varávamos as noites rumo à madrugada, discutindo desde a enteléquia aristotélica até esse estranho pendor que as mulheres têm pelos imbecis, como diria – e disse – Machado. Uma taça pão-e-manteiga na lanchonete do Matheus nos aquecia nas noites de inverno. Nas madrugadas de sábado havia um ritual a cumprir: pegar o Correio do Povo, que saía quente da gráfica e cheirando a querosene, para ler o Caderno de Sábado.
Foi a melhor de minhas universidades. Ali, recebi bibliografias que nenhum curso acadêmico me deu. Araújo, como Damasceno, eram meus companheiros de todas as madrugadas.
Adversário figadal da família e do casamento, casei discretamente em 77, num cartório da Riachuelo em Porto Alegre. Convidei apenas os mais interessados no assunto, pais e mães e dois ou três amigos que serviram como testemunhas. Ora, o cartório ficava justo ao lado de um de meus bares, a Rotîsserie Pelotense, que por muito tempo foi bebedouro de jornalistas. Combinei com os convivas – e com a “noiva”, é claro – reunião no cartório, às 11h30 da manhã. Que ficassem tranqüilos, eu não faltaria ao encontro. Lá pelas 10h30, fui pro bar. Lá estava o Carlos Coelho, bom amigo daqueles dias, colunista da Zero Hora, empinando seu uisquinho matutino. Pedi uma caipira e ficamos comentando as notícias do dia. Araújo (cinquentão, à direita na foto), foi um de meus cúmplices e testemunhas daquela cerimônia quase clandestina.
Na hora fatídica, disse ao Coelho:
- Segura minha caipira. Vou comprar um jornal e já volto.
E fui para o cartório. Lá, um juiz com cara de óbvio me perguntou se eu queria casar com a moça.
- Claro que quero. É por isso que estamos aqui.
Bom, daí o funcionário da obviedade pronunciou as palavras rituais e assinamos os papeluchos. Em frente ao cartório havia a Churrasquita. Combinei com todos um churrasco. Que me esperassem lá. Eu ia comprar um jornal e já voltava. Voltei à Pelotense, para terminar minha caipira. O Coelho nem sonhava que, naqueles poucos minutos, eu havia trocado de estado civil.
Ocorre que meu companheiro de trago tinha o péssimo hábito de ler o Diário Oficial. E viu os proclamas. Fui vilmente delatado à toda imprensa gaúcha. Meus coleguinhas se apressaram a anunciar, urbi et orbi, o que jamais me passara pela cabeça anunciar. Ora, eu tinha cinco namoradas firmes na época. Não havia mentira em nossos relacionamentos, todas sabiam de todas. Mas eu não chegara a falar do casamento. Dia seguinte, tive de dar entrevista à Folha da Manhã. Sim, havia casado. Por razões burocráticas, para levar minha companheira a Paris. Mas continuava sendo o mesmo homem solteiro de sempre.
Volto ao Araújo. Naquele ano, decidira conhecer a Europa com sua mulher, a Natalina. Queria saber qual agência eu recomendava. Não recomendava nenhuma. Que fosse por conta própria ou não era dos meus. Eu seria seu guia. Embarcamos no finado Eugenio C – desarmado em 80 – e continuamos no convés nossas charlas de Rua da Praia. Me comprometi a guiá-lo pelos primeiros dias em Paris, depois ele já teria tarimba para continuar viagem.
Não foi preciso. Eu desembarcava em Barcelona e iríamos por trem a Paris. Já em Lisboa, me confessou que preferia desembarcar em Gênova. O ambiente cosmopolita do navio e a prática diária do italiano já o encorajavam a enfrentar sozinho a Europa. Maravilha! Marcamos então encontro em Paris, onde continuamos nossas eternas interrogações ante o homem e o mundo.
Leitor inveterado, foi freguês de livreta de todos os sebos da Riachuelo e da Ladeira. Há alguns anos, comprou a biblioteca do espólio de Mário Lima. Mais por amor aos livros que por qualquer outra coisa, ninguém lê uma biblioteca. Sem ser escritor nem editor, se definia como um fabricante de livros: reunia as súmulas da legislação tributária para distribuí-las aos colegas do Fisco. Cinéfilo contumaz, não perdia as pré-estréias do Clube de Cinema, então capitaneado por P. F. Gastal, outro noctâmbulo da praça.
Araújo partiu hoje. Humilde e discreto como sempre. Encontrei-o pela última vez em novembro do ano passado, no bar Tuim, na Ladeira. Araújo era meu primeiro compromisso em minhas idas a Porto Alegre. Combalido, já estava cansado de viver. “Tenho vontade de morrer”, confiou-me.
Costumo afirmar que a velhice é uma preparação para a morte. Chega um momento em que cansamos. E nada mais nos resta senão cantar um tango argentino:
Dos lagrimas sinceras
Derramo en mi partida
Por la barra querida
Que nunca me olvidó.
Y al darle, mis amigos,
El adiós postrero,
Les doy con toda mi alma,
Mi bendición.
Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
Barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada,
Debo alejarme de mi buena muchachada.
Adiós muchachos, ya me voy y me resigno...
Contra el destino nadie la talla...
Se terminaron para mi todas las farras,
Mi cuerpo enfermo no resiste más...
![]()
quarta-feira, dezembro 25, 2013
O ETERNO BESTEIROL
DE NATAL SE REPETE *
Em uma basílica de São Pedro lotada de fiéis, e com a imagem de Jesus a seu lado, Bento XVI lembrou ontem o nascimento de Cristo e disse que em cada criança há uma "reverberação do menino de Belém". Há horas venho afirmando que há décadas não vejo papa mais inculto que este. Seria de supor-se que o líder máximo da cristandade, o Vice-Deus, o bispo de Roma, soubesse que Cristo não nasceu em Belém. Mas em Nazaré. Ernest Renan o demonstrou definitivamente. Em meu ensaio Como ler jornais, esclareço o fato:
Verdade que Mateus escreve: “Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes ....” E acrescenta: “Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá; mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré; para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado nazareno”. Pois dissera Miquéias: “Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel”. No fundo, Mateus trazia no sangue esta tendência do jornalismo contemporâneo, de adaptar os fatos à visão que se tem do mundo. Quis adaptar o nascimento a antigas profecias. A realidade que se lixasse.
Escreve Renan, em A Vida de Jesus: "Cristo nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galiléia, desconhecida até então. Toda sua vida foi designado pelo nome de Nazareno e só por um esforço que não se compreende é que se poderia, segundo a lenda, dá-lo como nascido em Belém. Veremos adiante o motivo dessa suposição, e como ela era conseqüência necessária do papel messiânico que se deu a Jesus".
Segundo Renan, Nazaré não é citada nem no Antigo Testamento, nem por Josefo, nem no Talmude. Enquanto Nazaré da Galiléia era um vilarejo anônimo, Belém da Judéia portava o prestígio de antigas profecias. Que nascesse em Belém, portanto. Mas por mais pontas que tenha a estrela de prata dos franciscanos, simbolizando o nascimento do Cristo na gruta existente na Igreja da Natividade, em Belém, nazarenos nascem em Nazaré.
Lucas também adere à lenda do nascimento em Belém: “Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Cirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem”.
Os evangelistas, ao situarem o nascimento de Cristo no reinado de Herodes e evocarem o recenseamento de Cirino, desmontam a própria tese. Diz Renan:
"O recenseamento feito por Cirino, do qual se fez depender a lenda que ajunta a jornada a Belém, é posterior, pelo menos dez anos, ao ano em que, segundo Lucas e Mateus, nascera Jesus. Com efeito, os dois Evangelhos põem o nascimento de Jesus no reinado de Herodes (Mateus,II, 1,19,22; Lucas, I, 5). Ora, o recenseamento de Cirino foi feito só depois da deposição de Arquelau, isto é, dez anos depois da morte de Herodes, no ano 37 da era de Ácio. A inscrição pela qual se pretendia outrora estabelecer que Cirino fizera dois recenseamentos é reconhecida como falsa. O recenseamento em todo caso não teria sido aplicado senão às partes reduzidas à província romana, e não às tetrarquias. Os textos pelos quais se pretende provar que algumas das operações de estatística e registro público, ordenadas por Augusto, chegaram até o reinado de Herodes, ou não têm o alcance que se lhes quer dar, ou são de autores cristãos que colheram esse dado no Evangelho de Lucas".
Este mito do nascimento em Belém está sendo hoje repetido em todos os jornais do mundo. A Folha de São Paulo o anuncia todos os anos. Neste ano, coube a Carlos Heitor Cony, ex-seminarista, imortal da Academia Brasileira de Letras e detentor de uma gorda bolsa-ditadura, insistir na bobagem. Em um artigo de apenas 1400 toques, comete duas asneiras. A primeira é a do nascimento em Belém:
A iconografia cristã tem dois momentos fundamentais: a criança recém-nascida na estalagem de Belém, tendo a aquecê-la o hálito de um burro e de uma vaca; e o corpo nu e maltratado de um homem coberto de chagas e opróbrio.
Mais adiante, erro ainda mais grave:
Houve também a estrela que guiaria os Reis Magos para a oferta do ouro, do incenso e da mirra: "Vimos sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorá-lo".
Ora, você pode revirar a Bíblia de ponta a ponta, palavra a palavra, vírgula a vírgula e jamais encontrará qualquer rei mago. Há quatorze referências a magos no Antigo Testamento e apenas quatro no Novo. Não se fala em reis magos em nenhuma delas. A que Cony cita está em Mateus, 2:
1 Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos (o grifo é meu) que perguntavam: 2 Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.
A verdade é que o próprio Bento, em um seis de janeiro passado, andou falando urbi et orbi dos reis magos. Ou seja, quando o sumo sacerdote da cristandade – aquele que deveria zelar pela interpretação dos livros sagrados – comete erros tão crassos, não causa espanto que um jornalista inculto também os cometa.
* 25/12/2008
![]()
terça-feira, dezembro 24, 2013
NATAL EM MADRI
Começou nova moda em São Paulo, a invasão de shoppings nestes dias natalinos. Os jovens – eufemismo que os jornais encontraram para baderneiros – marcam encontram pela Internet em um shopping qualquer, invadem, fazem arrastão, roubam e depredam as lojas que não tiveram tempo de fechar. Dão a isto o simpático nome de “rolêzinho”.
São ressentidos, tanto da periferia como da classe média, que não suportam ver pessoas comprando o que não podem comprar. A moda vai pegar e se repetirá nos próximos anos, pois a polícia não prende ninguém. Espero para breve a invasão do Pátio Higienópolis, aqui ao lado de casa, que há muito tem sido alvo da ira dos ressentidos. É um shopping portentoso e, como fica no centro de um bairro judeu, é associado a judeus. Ora, judeu é associado a ricos. É a finada luta de classes com roupa nova.
Quem me acompanha, sabe que vivo longe do consumo. Se compro dois pares de calças ou três camisas ao ano, considero que fiz um despilfarro, como dizem os espanhóis. Meu bem mais valioso é uma biblioteca, formada ao longo dos anos e das viagens. Mas, se vivo longe do consumo, sou um defensor incondicional do consumo. Consumo, por supérfluo que seja, gera riqueza. Os “jovens” de São Paulo me lembram um distante natal em Madri.
Sempre que viajo à Europa, procuro despedir-me da Europa em Madri. Como em geral viajo em dezembro, para fugir ao verão tropical, sempre me deparo com a histeria natalina dos madrilenhos, que invadem o centro da cidade com a fúria de formigas vorazes, buscando armazenar vinhos, presuntos e queijos - e qualquer coisa que estiver à venda - para as festas de fim de ano.
Não que infestem as ruas só em dezembro. Os madrilenhos têm fama de callejeros, isto é, de gente que adora as ruas de sua hermosa Corte y Villa. Lá, um brasileiro redescobre o prazer da flânerie, esporte que a feiúra e violência de nossas ruas – e a ditadura televisiva da rede Globo – há muito nos fez esquecer. Todas as noites, multidões se jogam nas ruas, em busca de cafés, restaurantes e teatros e mesmo em busca das próprias ruas, onde o simples flanar é prazeroso. Para quem sai de nossas ruas hostis e quase desertas, é algo insólito ver aquela massa informe invadindo o centro todo da cidade, até uma ou duas horas da madrugada. Nos fins de semana esta multidão se duplica, e nos dias de dezembro torna-se quase histérica.
Madri para mim se resume em uma geografia não muito extensa, que vai da Plaza Mayor e Palácio Real até o Paseo de Recoletos, passando naturalmente pela Puerta del Sol, Plaza Santana e a região de Huertas e Lavapiés. Ali reside toda a vida da cidade. Meu maior drama, se passo apenas uma semana, é rever todos os cafés e restaurantes onde um dia vivi, amei e fui feliz. Ponto de honra é o café Oriente, frente ao Palácio Real, de uma iluminação macia e mármores e veludos aconchegantes. Nos anos 80, aos domingos, minha vizinha de mesa era a Geraldine Chaplin, sempre rodeada de mulheres lindas, o que em nada lhe favorecia: só servia para realçar seu perfil de Olívia Palito.
Em Madri, como os madrilenhos. Após algumas cañitas no café Oriente, vou bater ponto no El Alabardero, ao lado da ópera. O almoço, a las três del mediodía, pode ser no La Bola, reputado por oferecer o melhor cocido madrileño da capital. Ou inicio a jornada por outra ponta, pela Recoletos. Visita obrigatória ao centenário El Gijón, com mais umas copitas no El Espejo, de interior deslumbrante. Consta que lá Jorge Luís Borges teria alimentado sua obsessão pelos espelhos. Para as lides noturnas, Plaza Santana, a Cerveceria Alemana e o Café del Prado, com janta nas cercanias de Huertas. Fim de noite, para mim sempre um só, o Venencia, na Calle Etchegaray, onde viveu Don Ramón del Valle Inclán. Etchegaray foi um ministro de Finanças espanhol que obteve o prêmio Nobel ... de Literatura. Don Ramón, galego irascível, não nutria maiores simpatias pelo conterrâneo ilustre, e sempre que dava seu endereço, insistia: Calle del Viejo Idiota. Segundo a lenda, sua correspondência sempre chegava ao destino.
É nesta Calle del Viejo Idiota que se situa, quase em frente ao Hotel Inglés, o Venencia, para mim um dos ambientes mágicos da Espanha e da Europa. Abre às cinco ou seis da tarde e nada tem demais. É um espaço comprido e estreito, um balcão e quatro ou cinco mesas. E muita poeira pelas paredes e teto. Se um dia for limpo, adeus encanto. Só serve jerez, em várias versões, manzanilla, oloroso, maderoso, palo cortado. A conta do freguês é escrita com giz no balcão. Atinge seu momento de glória a partir de las nueve de la tarde - como se diz por lá - quando os habitués se acotovelam nos balcões e se entregam com efusão aquela charla barulhenta dos madrilenhos. O bar é modesto e o jerez é baratinho. Mas desconheço café mais aconchegante no mundo. Não por acaso, há mais de trinta anos, sempre me hospedo no Hotel Inglés, para não perder o rumo após as libações finais de cada dia.
O leitor já deve ter desconfiado que, nesta idade, cultura para mim pouco ou nada tem a ver com museus ou bibliotecas. Estas, freqüentei-as em meus dias de jovem, quando me sentia na obrigação de conhecê-las por dentro. Hoje, penso já ter lido o suficiente para entender o mundo. Farto de literatura, só tenho buscado ruas, arquitetura, bares, rostos e gestos. Para não dizer que abandonei de vez os museus, na Espanha nunca deixo de visitar El Museo del Jamón. Quem os conhece, me entenderá. São cafés – em verdade uma cadeia de cafés – cujos tetos e paredes estão coalhadas de presuntos. Certa vez, li em um jornal que um homem morrera soterrado por presuntos. Só pode ser na Espanha, pensei. Era.
Em um desses dezembros, quando buscava um singelo Rioja para fim de noite no Inglés, ao cair na rua tive de enfrentar aquela multidão furiosa, compacta, invasiva, imiscuindo-se em todo e qualquer lugar onde houvesse algo para comprar. Investi de ombros contra a massa e lutei bravamente por meu vinho. Até aí, nada demais. Lá pelas tantas, em plena Puerta del Sol, deparei-me com um grupo de católicos vestidos de andrajos – simulando pobreza, pois pobres não seriam – que ostentavam cartazes contra a sociedade de consumo e o consumismo. Se já não nutro muita simpatia por estes senhores, naquela noite meu sentimento foi de asco.
O que aqueles papistas pareciam não entender é que consumo, por estúpido que seja, gera trabalho e riqueza. Aquela histeria desmesurada dos madrilenhos beneficiava o último produtor de queijos, presunto ou vinhos, nos confins de uma vila qualquer na Espanha ou na Europa. Lubrificava a ampla capilaridade de distribuição e venda, os setores de transporte e comércio, do país todo. O consumo quase irracional dos madrilenhos azeitava a economia da nação, demonstrava a eficiência plena do capitalismo. Claro que o sentido original do Natal fica empanado, para não dizer abolido. Mas melhor que o culto piegas de um deus obsoleto é assistir o espetáculo de uma economia pujante.
Conquistada minha botellita de Rioja, fugi da massa e busquei uma bodega discreta para continuar minhas leituras. Não imagine o leitor que tais orgias de consumo me fascinem. Mas tenho de convir que são salutares para a saúde das nações. Aqueles gatos pingados católicos, travestidos de pobres e humildes, eram, naqueles dias de festa, os piores inimigos da humanidade.
23/12/2003
![]()
terça-feira, dezembro 17, 2013
SOBRE A GIOCONDA E O BELO
Leio no Estadão reportagem de Juliana Faria:
"Uma pesquisa britânica mostrou no mês passado que, se você apresentar para o público frases de uma revista masculina e depoimentos de estupradores, ninguém consegue perceber a diferença. Agora, ganhamos mais um exemplo dessa afinidade. Uma revista brasileira voltada para homens lançou uma campanha publicitária chamada Manifesto pelo Homem Livre, baseada em pesquisa de agência que encontrou uma tal "masculinidade sufocada" entre eles. Nunca explicou direito o que é que está, de fato, sufocando os pobres coitados, mas já inspirou bandeiras como "sim, adoramos ver uma bela bunda passar" e "como casamento dá trabalho, deveríamos receber um mês de férias por ano".
Não imagino qual seja a revista brasileira. Mas nada tenho contra a primeira bandeira. Quanto à segunda, casamento só dá trabalho se o fulano escolheu a pessoa errada. Se escolheu a certa, é paraíso o ano todo. Voltemos à bunda que passa."
A linha preferencial do universo é a curva, dizia Ney Messias. Curvos são os planetas, curvas são suas órbitas e curvas são as elipses dos meteoros e cometas. Impossível imaginar uma órbita quadrada. A cada quebra de ângulo, o solavanco jogaria no espaço boa parte do planeta.
Prefiro mil vezes a contemplação de um traseiro vem torneado que aquele sorriso muito sem graça da Gioconda, venerado por milhões de turistas, sei lá por quê, afinal da Vinci tem obras bem mais interessantes. Sem falar que para contemplar a moça é preciso pagar. A contemplação dos glúteos é gratuita.
Quando são belos, soltos, sorridentes, eu me viro sim. Mas jamais com olhar lascivo, e sim com o pasmo de quem contempla uma bela obra da natureza. Jamais dirigi qualquer piropo à transeunte alguma nessas ocasiões, soa agressivo. Contemplo e reservo meu deleite para mim mesmo, sem que a moça que me encantou sequer fique sabendo. Mas não resisto à beleza de um rosto, quando é abusiva. Há algum tempo, no café da esquina, vi uma mulher belíssima numa mesa, asiática por seus pômulos, uma boca de Angela Jolie. Não resisti. Sem nenhuma segunda intenção, ao sair aproximei-me dela: permita-me uma observação, você é linda.
Ela ganhou seu dia e eu o meu.
Ainda há pouco, uma dessas belas desfilava sua beleza em minha rua. Dois velhotes judeus, de quipá, vinham em sentido oposto. Disseram algo. Não sei o que foi, mas deve ter sido muito elegante. A moça derreteu-se em um sorriso largo, aprumou-se e caprichou ainda mais no movimento das ancas, em um gentil bônus aos filhos de Davi.
Há um bistrô em São Paulo, do qual temos uma visão do futuro. É a Mercearia do Francês, com vista para o cemitério da Consolação. Não que seja o meu futuro, pois não pretendo legar minha carcaça aos vermes. Mas gosto de cemitérios, transmitem paz. É um dos motivos que me levam ao bar.
Há alguns deparei-me na Mercearia com outro desses portentos. Tinha um sorriso divino e conversava com uma amiga. Também não resisti. Pedi para sentar-me, confessei meu fascínio por seu sorriso e já começava a levantar-me quando ela encetou um diálogo. Interrogou-me, queria saber de minha vida, e fiz um desses resumos rápidos e abrangentes, como os que fazemos quando conversamos com algum passageiro de trem e avião. A vida inteira em poucas palavras. Foi a vez dela começar a encantar-se, para desconforto da amiga. Passei-lhe meu cartão e, desta vez, realmente me interessei por ver por mais vezes aquele sorriso. Mas não tive retorno. Pelo jeito, a virago ao lado vetou-lhe qualquer contato.
Em Paris, há muitos anos, tropecei com um desses prodígios, no Café de L’Odeon. Além de ser linda, portava um chapéu todo de flores, que evocava os jardins suspensos da Babilônia. Vous êtes belle - disse. Ela assentiu com um gesto mudo e a certeza de que eu tinha toda razão. Pedi para tirar uma foto. Era o que ela queria. Estava ali para ser bela, ser contemplada naquela esquina do mundo. Soit belle et tais-toi, dizem os franceses. Era o que ela fazia. Era bela e não disse palavra. Sorriu feliz e o jardim todo que encimava sua cabeça balouçou em agradecimento.
A última vez foi em um de meus restaurantes diletos, a uma quadra de onde habito. Era alta e forte, toda cheia onde devia e sua presença, que anulava a de suas amigas, estava sensivelmente perturbando o ambiente. Não havia olho que desgrudasse da moça, esperando sua saída para ver o conjunto da obra. Ela então saiu. Se o Stalone não fosse um bofe, diria que era o Stalone versão feminina. O bar silenciou. Altaneira, desfilou pelo corredor entre as mesas, ciente das razões do silêncio. Confesso que não consegui decidir se era mais linda quando vinha ou quando ia.
Volto à parte inicial. Há quem goste de traseiros volumosos. São pessoas que estão longe de descobrir o bem-bom. A bunda não é uma enteléquia solta no espaço. Exige entorno. No caso, a cintura. Pode ser diminuta. Se a cintura afinar, se opera o milagre da atração. Por que razões, não sei. Há quem diga que tal conformação é garantia de uma robusta maternidade, e isso garante a prole do macho. Li inclusive um cálculo matemático sobre as proporções áureas entre cintura e bunda. Esqueci os números. Tanto faz. Jamais me ocorreria pegar uma fita métrica e medir a moça para ver se era o que mais gosto. Meu metro é meu olhar.
De minha parte, estou liberto desse condicionante biológico. Nunca quis filho, muito menos prole. Mas, seja de experiência própria, seja do relato de amigos amantes do bom esporte, intuo que a cintura é complemento do qual depende a beleza dos glúteos. Don Giovani, mais eclético, não fazia muita distinção a estes detalhes.
Vuol d'inverno la grassotta,
vuol d'estate la magrotta;
è la grande maestosa,
la piccina è ognor vezzosa ...
Delle vecchie fa conquista
per piacer di porle in lista;
ma passion predominante
è la giovin principiante.
Noti si picca se sia ricca,
se sia brutta, se sia bella;
purché porti la gonnella,
voi sapete quel che fa!
Quando jovem, gostava das grassotas e das grandes maestosas. A idade refina o palato. Nos últimos anos, minhas diletas foram as piccinas.
Fugi ao tema. Em suma, não vejo nada de machismo em contemplar um belo traseiro. A beleza existe para ser contemplada. Mil vezes mais prazeroso uma bundinha empinada que aquele sorriso idiota da Gioconda no Louvre.
![]()
domingo, dezembro 15, 2013
ZOOLÓGICOS DE POBRES
FASCINAM TURISTAS
Desde meus primeiros dias de Europa, nos anos 70, observei prática que nunca entendi, a atração dos europeus pelas favelas do Rio. Jamais visitei uma favela e jamais me ocorreria visitá-las. Da miséria e do tráfico só quero distância. Mas já vi alemães, suecos e franceses encantados com uma visita aos morros. Na última Veja, leio entrevista com a antropóloga Bianca Freire-Medeiros, autora do livro Gringo na Laje - Produção, Circulação e Consumo da Favela Turística. Segundo a pesquisadora, a violência é o que mais seduz os turistas. "Ela é um atrativo. O filme Cidade de Deus, por exemplo, vende a imagem de que a favela é um lugar extremamente violento, de alto risco: os turistas querem ir lá motivados por isso", diz Bianca.
Grossa bobagem. A atração pelas favelas antecede em muito o filme. Atração não só por favela, como por tudo que é pobre e miserável no Brasil. Certa vez, nos anos 70, fui a um terreiro de umbanda. Mais precisamente, no Belfort Roxo, uma das mais conflagradas zonas do Rio de Janeiro. Obviamente, não fui por conta própria. Fui a convite de um diplomata francês. Que acreditava piamente que aquelas malucas girando sobre si mesmas estavam possuídas por alguma entidade. Curiosamente, entramos no terreiro com as bênçãos de um bispo católico.
Segundo a reportagem, o turismo em favela começou com a ECO 92, quando se passou a levar estrangeiros à Rocinha - pessoas ligadas em ecologia e interessadas em alternativas ao turismo de massa. É possível. Mas a atração fatal dos europeus do norte pelas favelas em muito antecede 92. Disse europeus do norte. Espanhóis e portugueses não são tão naïves, a ponto de sair a viajar para ver miséria.
Para a antropóloga, o turista busca situações de risco. Quer ver gente armada. “Mas, na maior parte das vezes, o turista não vê ninguém armado, porque as agências procuram evitar os locais de venda de drogas, que são menos seguros. Ninguém passa na "boca", por exemplo. Vale dizer que, para o turista, isso não faz muita diferença. Para ele, basta saber que há pessoas armadas na favela e que ele está numa situação de risco, para que haja excitação”.
Mais outra bobagem de pesquisador de gabinete. No Afeganistão, na Palestina, na Chechênia, armas e situações de risco é o que não falta. Mas europeus não fazem turismo por lá. Europeus gostam mesmo é da miséria dos trópicos. E turismo rende grana. Os turistas da miséria sabem que as armas dos traficantes estão lá para protegê-los. Afinal, não vão matar a galinha de ovos de ouro. Não é o mesmo na Palestina ou Afeganistão, onde há uma perigosa animosidade contra ocidentais.
Em meio a tantas bobagens, a antropóloga diz algo inteligente. É a chispa da ferradura quando bate na calçada, como diria Agripino Grieco. “Acho que a grande questão é explicar a transformação da pobreza em atração: os turistas estão em busca de uma situação de precariedade que eles desconhecem”. Bingo! Nunca fiz pesquisas científicas sobre essa atração mórbida, mas tenho quase certeza de que o turista europeu ou americano, ao contemplar uma favela, se regozija: feliz de mim que não vivo nestas condições.
A meu modo, até que gosto de favelas. Mas de outras favelas. Se você viajar pela Costa Amalfitana, na Itália, verá a mesma estrutura urbana do Rio em Positano, Amalfi, Ravello, Capri. Casas subindo morro acima. Mas casas de quem tem alto poder aquisitivo. Os ricos, na Itália, não foram idiotas como os ricos brasileiros. Subiram o morro antes que os miseráveis o tomassem. Uma outra cidade que tem esta mesma estrutura é Fira, na ilha de Santorini, na Grécia. Mas... é um dos recantos mais lindos do mundo. Nada de tráfico, quadrilhas armadas, miséria. Apenas beleza (de sufocar), magia, luxo, exotismo. Sobe-se até Fira com mulas. Os cariocas estão planejando teleféricos para facilitar a visita aos redutos de traficantes. Ora, mula é muito mais barato. E tem mais charme.
“Todo turista sabe que pode ser acusado de fazer algo de mau gosto, de participar de um zoológico de pobre. Mas, entre aqueles que entrevistei, não houve um que tenha saído insatisfeito do passeio” – diz a antropóloga. Claro que não. Visitar zoológico de pobre revigora a alma de um europeu. Um francês tem em Paris algo análogo à favela, e subindo um morro, Montmartre. É a Goutte d’Or, reduto de árabes logo abaixo da basílica de Sacré-Coeur. Parisiense evita a Goutte d’Or. À medida em que a mancha árabe se expande, cai o preço do metro quadrado. Miséria só tem charme ailleurs. Là-bas, como se diz por lá.
Segundo a antropóloga, “há coisas que não podem faltar. Não pode faltar a laje, onde os turistas tiram foto da paisagem e ouvem um discurso explicativo, coisas como "Ali embaixo, você vê a escola americana, que custa tão caro, e isso mostra como esse país é desigual. A laje é um momento pedagógico, impactante para o turista, que dali vê um oceano de casas, com o mar azul ao fundo."
Laje por laje, prefiro as de Santorini. Ou Positano. Quanto a oceano de casas, prefiro um oceano de águas. Tampouco viajo para contemplar do alto a finada luta de classes. Os turistas de zoológicos de pobres parecem não se dar conta de que, ao visitar favelas, estão financiando – e legalmente – os redutos de traficantes.
No fundo, o que em francês se chama de mauvaise conscience. Má consciência. Como isto é coisa que jamais alimentei, prefiro as favelas do Tirreno ou do Egeu.
25/02/2010
![]()
quinta-feira, dezembro 12, 2013
O SÉCULO DE NETCHAIEV
Em 1946, Camus publicou em Combat uma série de artigos, sob o título genérico de "Ni victimes ni bourreaux", reflexões que antecipam O Homem Revoltado. Se o século XVII foi o século das matemáticas, argumenta Camus, se o XVIII foi o século das ciências físicas, se o XIX foi o da biologia, o homem contemporâneo vive o século do medo.
"Dir-me-ão que isto não é uma ciência. Mas, primeiramente, a ciência aí está para qualquer coisa, pois seus últimos progressos teóricos a levaram a negar-se a si mesma, dado que seus aperfeiçoamentos práticos ameaçam a terra inteira de destruição. Além disso, se o medo em si mesmo não pode ser considerado como uma ciência, não resta dúvida alguma que seja uma técnica".
Camus morreu em 1960, e quando escreveu estas linhas, o século nem havia chegado à sua metade. Muita água ainda haveria de correr pelas próximas décadas. Vivesse até nossos dias, talvez definisse o século XX como o século do terror. Pois desconheço século em que o terrorismo tenha sido tão prestigiado.
Em meados do século XIX, surgiu na Rússia tzarista um pequeno manifesto intitulado O Catecismo do Revolucionário, escrito na Suíça e assinado por dois revolucionários russos, Serguei Guennadovich Netchaiev e Mikhail Bakunin. Este panfleto tem sido até hoje a cartilha que inspirou todo terrorismo do século seguinte, desde Lênin, Stalin, Yasser Arafat, George Habash, Wadi Haddad, Carlos, o Chacal, Che Guevara, Aloysio Nunes Ferreira, Lamarca, Marighella e Fernando Gabeira, etarras ou OLP. Entre milhares de outros, bem entendido. (Se alguém não lembra mais quem foi Aloysio Nunes Ferreira, eu ainda lembro. Foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique). As estratégias do catecismo influenciaram todo o século passado e foram utilizadas pela Frente de Liberação Nacional na Argélia, pelo Vietcong no Vietnã, e pelos movimentos guerrilheiros latinoamericanos, entre outros.
Netchaiev tinha 22 anos na época da publicação do panfleto. Sem poder matar um tirano, acabou matando um estudante, Maxim Ivanov - suspeito injustamente de ser agente duplo da Ochrana, polícia política tzarista - o que lhe valeu o afastamento de Bakunin, que reprovou sua "repugnante tática". Netchaiev, condenado a 25 anos de prisão, continua conspirando mesmo entre as grades, planejando inclusive o assassinato do tzar. Morre nas masmorras da fortaleza Pedro e Paulo, em São Petersburgo, após doze anos de reclusão.
A diferença entre Netchaiev e os terroristas do século passado é que Netchaiev morreu na prisão, com a pecha de terrorista. Os assassinos de multidões do século passado passado foram cultuados como deuses. Quando Stalin morreu, muitos não acreditaram, pois um deus não pode morrer. Mao, o assassino maior, foi o Grande Timoneiro, o libertador da China. Pol Pot, genocida menor – apenas dois milhões de cadáveres – foi preso pelo Khmer Vermelho. Não por seus crimes, mas por ter se tornado seu inimigo político. Fidel Castro, genocida medíocre – consta que míseros cem mil mortos – até hoje é reverenciado como libertador de um país que não era pobre e hoje vive à míngua. Che Guevara, assassino de gatilho fácil e responsável pela atual miséria de Cuba, é tido ainda como libertador do continente.
Quanto aos nossos – Marighela, Lamarca, Aloysio e Gabeira – os que morreram são cultuados como mártires e os vivos aí estão, ocupando postos importantes no país.
Mas o coroamento do século só ocorreu na semana passada, com a morte de Mandela. Condenado à prisão por seus crimes, conseguiu passar a imagem de herói na luta contra o racismo na África do Sul. Veja não teve pudores em dar-lhe a capa – com o título “o guerreiro da paz” – mais seis páginas de hosanas, que o saúdam como o “último grande homem do século XX”. Em algo a revista tem razão, é quando fala de último. Pois não sobram mais terroristas do estoque do século passado a serem cultuados.
A imprensa toda – no Brasil e no mundo – esqueceu o terrorista e teceu loas ao homem que oficializou o racismo oficioso da África do Sul, confiscando propriedades de brancos e privilegiando negros na política e na economia.
Ainda há pouco, citei artigo de Daniela Pinheiro: “O desemprego atinge 40% da população, mais que o dobro do registrado há duas décadas. Nas áreas rurais, 60% dos negros não têm ocupação. O número de pessoas que sobrevive com menos de 1 dólar por dia também duplicou nos últimos vinte anos. Um terço da população continua sem saber ler ou escrever. O índice de repetência aflige 70% das crianças negras. Com a maior epidemia de Aids do planeta (5,8 milhões de contaminados) e índices de criminalidade assustadores, a expectativa de vida dos sul-africanos caiu de 63 para 49 anos na última década”.
Mesmo assim, Mandela continua sendo herói. Durante anos estrela da lista de terroristas dos Estados Unidos, seu nome dela foi retirado em 2008, não por acaso o ano da eleição de Obama. Pela primeira vez na história, um presidente dos Estados Unidos – acompanhado por uma centena de dignitários – comparece aos funerais de um terrorista.
Decididamente, o século passado foi o de Netchaiev.
![]()
sábado, dezembro 07, 2013
DIAMANTES NEGROS
Como o partido de Nelson Mandela criou uma elite negra na África do Sul
por Daniela Pinheiro
A três meses da Copa do Mundo, o recém-reformado aeroporto de Joanesburgo já dava os sinais da agitação que está por vir. Corredores apinhados de turistas, longa espera por táxis e uma multidão que se acotovela nos quiosques da Fifa atrás de um broche, de uma bandeirinha ou da mascote do evento, um leopardo verde e amarelo. Na livraria do terminal de desembarque, numa manhã recente, a fila do caixa serpenteava pelo corredor porque havia apenas uma balconista. Um homem alto, gordo e de cabelo comprido se dirigiu a ela com passos duros, arrastando pelo braço um jovem negro com a barba por fazer e pulôver puído. "Esse homem roubou esses seis dvds!", ele berrou. "Eu o vi saindo com isso dentro da blusa! Chamem a segurança!"
Em um tom de voz contido, o negro dizia estar só olhando os filmes, ao que o loiro o desmentia. Ficaram alguns segundos no bate-boca até o acusador chamar os atendentes aos berros. Foi quando o outro falou: "Você está dizendo isso porque eu sou preto, é?" Alguns clientes desistiram de suas compras e outros permaneceram petrificados. Os cerca de dez funcionários da loja, todos negros, olhavam a cena com desdém.
A mulher do caixa, enfim, examinou os dvds. Colocou-os em cima do balcão e chamou o próximo cliente. O sujeito que parecia encarregado da segurança ficou cochichando com um colega. Outra atendente nem interrompeu a arrumação das estantes. Percebendo o hiato de providências, o jovem que pegara os dvds saiu da loja e desapareceu. O loiro, estupefato, comentou com outro branco: "Você viu como os funcionários não fizeram nada? É de propósito, eles são assim. Um protege o outro. Esse país acabou, não tem mais jeito."
O país onde será disputada a Copa é um dos maiores exportadores de minérios do mundo. Tem um Produto Interno Bruto de 278 bilhões de dólares (o do estado de São Paulo é de 490 bilhões). Conta com uma população de 49 milhões de habitantes (São Paulo tem 41 milhões), dividida entre 80% de negros, 10% de brancos, e outro tanto de mestiços e asiáticos.
Os negros pertencem a etnias e tribos que têm línguas, costumes e religiões diversas, como a xhosa, a zulu, a ndebele, a swazi, a tsonga e a venda. Já os brancos vieram em sua maioria da Holanda e da Inglaterra. Os asiáticos têm origem indonésia e indiana. A maioria dos sul-africanos, mesmo os mais pobres, fala inglês e pelo menos outras três línguas e dialetos. A maioria da população é cristã, mas integra uma miríade de igrejas e designações protestantes e pentecostais, por vezes combinadas com religiões autóctones.
Quando Nelson Mandela foi eleito presidente em 1994, ele conclamou os sul-africanos de todas as origens a formar uma "nação arco-íris", na qual a raça deixaria de ser um fator de distinção social e a renda seria distribuída de maneira mais equânime. Desde então, porém, o seu partido, o Congresso Nacional Africano, implementou uma política baseada fortemente na cor da pele. E a concentração da riqueza aumentou.
Catapultada por ações afirmativas, e por negociatas nascidas no interior do governo e da máquina do Estado, uma pequena elite negra emergiu. Os brancos continuam a controlar a vida econômica e financeira, se sentem acuados pelos "diamantes negros", como são chamados os novos ricos, e começam a falar em "racismo às avessas". Há três anos, a África do Sul superou o Brasil no índice de desigualdade social e se tornou o segundo pior no ranking mundial, atrás da Namíbia.
O desemprego atinge 40% da população, mais que o dobro do registrado há duas décadas. Nas áreas rurais, 60% dos negros não têm ocupação. O número de pessoas que sobrevive com menos de 1 dólar por dia também duplicou nos últimos vinte anos. Um terço da população continua sem saber ler ou escrever. O índice de repetência aflige 70% das crianças negras. Com a maior epidemia de Aids do planeta (5,8 milhões de contaminados) e índices de criminalidade assustadores, a expectativa de vida dos sul-africanos caiu de 63 para 49 anos na última década.
"Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres", comentou numa tarde de janeiro o professor Patrick Bond, da Universidade de KwaZulu-Natal. "A oferta de serviços de água, eletricidade, saneamento, saúde e educação está, em geral, pior e mais cara para o povo do que durante o apartheid", afirmou.
Apesar disso, o Congresso Nacional Africano não perde eleições há dezesseis anos. Mandela é considerado unanimemente o herói nacional por excelência. E pesquisas atestam que a aprovação do atual presidente, Jacob Zuma, é de 77%. Mais de 13 milhões de sul-africanos dependem de benefícios do governo para viver. Eles contemplam negros com mais 63 anos, mulheres com mais de 60, portadores do vírus da Aids, adolescentes de até 15 anos e deficientes físicos. Água e eletricidade são subsidiadas até certo patamar de consumo. Mais de 2 milhões de casas populares foram construídas nos últimos quinze anos (a promessa era de 10 milhões de casas).
Situado na rota comercial para as Índias, o sul da África foi colonizado por holandeses, aos quais vieram se juntar flamengos, alemães e franceses. Foram eles que, a serviço da Companhia das Índias Ocidentais, haviam montado um posto de abastecimento para suas fragatas, em meados do século xvii, e deram origem aos africâneres, chamados pejorativamente de bôeres. Desde o seu estabelecimento na região, travaram inúmeras disputas com os nativos por terra e gado. Ainda que os africâneres tivessem se apropriado de boa parte do território, as tribos nativas permaneceram independentes. Os escravos vinham da Indonésia, colônia holandesa.
Em 1860, no quadro das disputas imperialistas europeias, os ingleses desembarcaram com artilharia pesada, canhões e soldados para dominar o sul da África. Entraram em conflito com os africâneres e os nativos. Os xhosas resistiram por mais de dez anos e os zulus, em uma batalha sangrenta, chegaram a vencer os britânicos. Vinte anos depois, foram definitivamente derrotados. Os ingleses trouxeram escravos da Índia.
Nessa época, um jovem brincava no jardim de sua casa quando achou uma pedra enorme e brilhante. Era um diamante de quase 22 quilates. No ano seguinte, um pastor encontrou um de 87 quilates. O feito provocou uma migração em massa. Em menos de dois anos, mais de 50 mil pessoas chegaram à região.
Foi quando três ingleses - Cecil Rhodes, Charles Rudd e Barney Barnato - se embrenharam na exploração de minas de pedras preciosas. Começaram alugando bombas de água para os escavadores, e pouco a pouco foram adquirindo pequenas cotas nos lucros. Assim nasceu a De Beers, hoje sob o comando do grupo Oppenheimer, que há quase 130 anos domina o mercado mundial de diamantes.
Com o território dominado, africâneres e britânicos se entenderam e proclamaram a União Sul-Africana. Foram promulgadas as primeiras leis de segregação racial, como o passaporte que restringia o ir e vir dos negros e os proibia de comprar terras fora das reservas tribais. Mas foi só no final da década de 1940, quando o Partido Nacional ganhou as eleições, que se montou o regime do apartheid, da separação racial. O casamento inter-racial virou crime. As escolas e bairros foram divididos. Os negros perderam o direito de votar, ter propriedades e de frequentar praias, piscinas, cinemas e hospitais destinados aos brancos. O Partido Nacional criou também os bantustões - dez nações tribais pretensamente autônomas, instaladas em áreas descontínuas correspondentes a apenas 13% do território nacional.
No livro The Afrikaners: Biography of a People [Os Africâneres: Biografia de um Povo], o historiador Hermann Giliomee coloca a seguinte questão: como um povo educado no Iluminismo e na piedade cristã edificou uma nação com base na exploração racial? A resposta, diz ele, seria a vontade dos africâneres em preservar a identidade. Nas colônias que se tornaram independentes a partir do século xix, os europeus derrotados desenvolveram três estratégias: voltaram às metrópoles, se acomodaram ao novo poder ou então continuaram mandando, por meio dos governantes em exercício. Na África do Sul, os africâneres foram minoria populacional e classe dominante por quase 350 anos. Não se consideravam um poder exterior porque não tinham para onde retornar. A integração racial, no seu modo de ver, significava suicídio.
A África do Sul lembra o Brasil. Joanesburgo é uma metrópole parecida com São Paulo. Pretória é um centro governamental como Brasília. E a Cidade do Cabo, com suas montanhas à beira-mar evoca imediatamente o Rio. Aqui, 50% da população é composta por negros e pardos, que engrossam a base da pirâmide social, em oposição aos brancos que dominam o topo. A semelhança entre os povos também é grande.
Como a maioria dos brasileiros, os sul-africanos são expansivos, alegres e falam alto.
Há detalhes diferentes. Nas áreas ricas das grandes cidades sul-africanas as ruas são mais limpas que as do Leblon ou dos Jardins, é raro ver pichação em muros, os prédios são bem conservados, a frota de transporte público parece nova. E há disparidades significativas: não há no Brasil um restaurante como o 8@The Towers, no bairro de Sandton. Ele é um ponto de encontro dos diamantes negros de Joanesburgo.
Da varanda do restaurante, via-se a frota dos clientes: um Hummer, três bmw e dois Jaguar. Na parede principal, lia-se "Veuve Clicquot" em letras garrafais. Os garçons, assim como 90% dos frequentadores, eram negros e tinham a cabeça raspada. Os fregueses estavam de terno escuro com gravata rosa ou vinho. As mulheres usavam saltos altíssimos, perucas de cabelos lisos e vestidos curtos, colados em corpos torneados a alface e malhação.
Sentados em um sofá baixo, um casal pediu a segunda garrafa de Dom Pérignon. Aos 25 anos, Lungu (que não quis dizer o sobrenome) disse ser montador de filmes para a televisão. A moça, praticamente deitada em seu colo, também não quis se identificar, mas informou ser uma "modelo muito famosa". Novelas e seriados das emissoras de tevê retratam os novos ricos como hedonistas profissionais. Eles sempre aparecem bebendo uísque doze anos ou conhaque, usando grifes de luxo, jogando golfe ou dirigindo carrões importados. Quase nenhum trabalha.
Lungu contou que seu tio havia sido guarda-costas de um "importante membro do cna" e que a família havia entrado no ramo de exportação depois do fim do apartheid. Durante o regime viviam em Soweto, a cidade negra no subúrbio de Joanesburgo, onde seu pai trabalhava como motorista e a mãe era dona de casa.
"Essa insistência de ficar falando em problemas de raça na África do Sul é coisa dos brancos", disse Lungu enquanto a modelo se servia de mais um pouco de champanhe. "Isso é um problema que ficou para trás. Eu não tenho problema algum com raça. Os brancos é que têm." Em cima da mesa, um jornal estava aberto na página de uma notícia impensável até pouco tempo atrás: a foto de uma trombada entre uma Ferrari e um Lamborghini, cujos donos, e não os motoristas, eram negros.
Havia apenas duas mesas ocupadas no 8@The Towers por brancos e nenhuma com brancos e negros. Na maioria dos restaurantes ainda é assim. A não ser que o encontro seja uma reunião de trabalho, negros e brancos frequentam o mesmo espaço, mas não se misturam. Casais multirraciais são raríssimos. Em vinte dias, vi dois. Em um deles, a moça era australiana.
Fundado em 1912, o Congresso Nacional Africano foi o primeiro partido a se propor a representar a maioria negra. Reunia uma parte das elites tribais, intelectuais brancos contrários à segregação racial existente e uma classe média negra formada por advogados, professores, comerciantes, médicos e engenheiros. Não era um partido de base popular, que se organizava nos sindicatos. Quando o Partido Nacional aprofundou a diferenciação salarial nas indústrias, em detrimento dos negros, as organizações operárias, com o Partido Comunista à frente, se aproximaram do cna. Mas, até o final dos anos 40, o partido não tinha maior expressão.
Uma nova geração de líderes, formada por Nelson Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu deu vida nova ao partido ao criar a sua Liga da Juventude, que atuava nos sindicatos e fazia agitação nas cidades usando táticas de desobediência civil usadas por Mahatma Gandhi na Índia. Em 1955, o cna aprovou o documento que orientou a sua luta durante os próximos quarenta anos, a Carta da Liberdade. Ele declarava que a África do Sul "pertence a quem nela vive, negros e brancos, e que nenhum governo pode proclamar sua autoridade com base na justiça, a não ser que esteja baseado na vontade do povo."
O governo branco reagiu acusando o partido de ser comunista e passou a prender e processar os seus líderes. Em1960, uma manifestação pacífica para protestar contra a obrigatoriedade de os negros portarem passaportes internos foi reprimida pela polícia com selvageria - 67 pessoas, entre elas dez crianças, e todas negras, foram mortas a tiros.
Colocado na ilegalidade, e integrando a vaga terceiro-mundista que se espalhou pelas colônias africanas, o cna adotou a luta armada. Formou-se o Umkhonto we Sizwe (A Lança da Nação), o braço armado do partido, que tinha como objetivo "revidar com todos os nossos meios e forças em defesa do nosso povo, do nosso futuro e da nossa liberdade". Um dos seus dirigentes era Nelson Mandela. Em um ano e meio, a nova organização fez mais de 200 atos de sabotagem (sem vítimas fatais). De seu lado, o governo instituiu a pena de morte para conspiração e sabotagem, e tornou legal a prisão por até noventa dias sem necessidade de acusação formal.
Mandela foi preso e, com outros sete líderes, foi condenado à prisão perpétua no presídio da ilha Robben. Boa parte dos dirigentes do cna partiu para o exílio na Suazilândia, Lesoto e Zâmbia, onde montaram campos de treinamento armado, em parte financiados pela União Soviética. Mesmo assim, internamente, a mobilização contra o apartheid prosseguiu, organizada por operários, estudantes e universitários com pouco ou nenhum contato com os líderes exilados. Da prisão, Mandela enviou uma mensagem à militância: "Tornem esse país ingovernável."
A África do Sul, progressivamente, de fato se tornou ingovernável. Graças às denúncias, à propaganda e às ações políticas do cna no exterior, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, o regime do apartheid passou a ser visto como moralmente funesto. Com base nesse sentimento, grandes empresas e conglomerados multinacionais foram obrigados a limitar o comércio com o governo do Partido Nacional. A África do Sul não podia participar de olimpíadas nem de Copas do Mundo de futebol. Atos públicos, concertos de rock, boicotes a quem contribuía com o apartheid (foi o caso da Land Rover, que fornecia furgões à polícia sul-africana) e abaixo-assinados reivindicavam a liberdade de Mandela e o fim do apartheid.
Nesse aspecto, nenhum movimento de libertação nacional foi tão bem sucedido, a partir dos anos 70, quanto o Congresso Nacional Africano - se compararmos, por exemplo, à Organização para a Libertação da Palestina, a olp de Yasser Arafat. Regionalmente, o governo sul-africano também sofreu revezes: na guerra civil em Angola, foi derrotado pelas tropas cubanas e subsaarianas. A África do Sul havia se tornado uma ilha. E dentro da ilha, as manifestações antirracistas só faziam aumentar.
Em uma quarta-feira de fevereiro, os jornais noticiavam nada menos do que dezesseis manifestações violentas em favelas sul-africanas. As imagens de pneus queimando, moradores correndo e a polícia armando barricadas lembravam as dos conflitos da época do apartheid. Os manifestantes pediam água, luz e saneamento. Como o governo ampliou o acesso à eletricidade sem investir no setor elétrico, os apagões são frequentes. Recentemente, havia sido autorizado um aumento de 25% nas tarifas. Como a inadimplência é alta, a energia é cortada com frequência.
Elias Motsoaledi foi um militante do Congresso Nacional Africano assassinado em 1994. Hoje ele dá nome a uma das 182 favelas ao redor de Joanesburgo. Ali, vivem 30 mil pessoas em barracos construídos com telhas de alumínio e pedaços de madeira sobre chão de terra batida. Em um início de manhã, Cat Qobongwane, de 28 anos, que mora há sete em Elias Motsoaledi, usava uma camisa polo listrada de vermelho e azul, bermuda cáqui e botas creme com meias até a canela. Ele é magro, baixo e cultiva um cavanhaque à D'Artagnan.
O esgoto corria a céu aberto, havia lixo em terrenos baldios e algumas crianças soltavam pipas. "Os políticos só aparecem às vésperas das eleições", disse. Ele explicou que a comunidade era "autogovernável. Cada casa tem um apito. Se há algum crime, tocamos o apito e as outras pessoas vêm. Problemas, resolvemos por aqui mesmo."
Outros moradores também faziam as vezes de guias para turistas com máquinas fotográficas e filmadoras, levados à favela por motoristas contratados em hotéis de luxo, que cobram 180 reais por um "passeio turístico a Soweto". (No Rio, uma visita à Rocinha custa 100 reais.) Na porta de uma das quatro casas que ocupavam um pequeno terreno, cinco mulheres conversavam. Uma delas amamentava um bebê. Cat insistiu para que eu entrasse na casa de uma delas para "conhecer um barraco por dentro". As mulheres não disfarçaram o desconforto. Quando ele chamou pela dona, ela bufou e gritou palavras em zulu.
Era uma construção de dois cômodos, com paredes de madeira e restos de papelão, e carpete fazendo as vezes de chão, onde moravam três adultos e cinco crianças. Havia um fogão a gás, uma fruteira com uma dúzia de batatas escuras e baldes com água. No outro cômodo, um colchão de casal estava abarrotado de sacolas, caixas e pacotes que chegavam quase no teto. Ao lado, uma bacia, onde todos tomavam banho. A mulher disse que estava bem, ali. "O governo está prometendo melhorias. Muita coisa já ficou melhor, eu vou esperando", disse.
A intenção do governo é que cada quatro barracos de uma favela dividam um tanque com água encanada e um sanitário com descarga. Em muitas delas, existe a torneira, mas não o encanamento. A privada fica em uma casinha de madeira que lembra uma cabine telefônica, com uma chave pendurada na porta. O chão era de terra batida e, em vez de papel higiênico, havia pedaços de jornal rasgados. Aquele era partilhado por 23 pessoas.
Elias Motsoaledi estava sem eletricidade. Ao constatar a imensa quantidade de ligações ilegais, o governo mandou cortar todo o fornecimento de energia. À noite, os moradores se viravam com velas, lampiões a parafina e lanternas.
Mesmo não sendo o voto obrigatório, quase todos os moradores tinham título de eleitor e votavam no cna, disse Cat Qobongwane.
Perguntei se ele se incomodava com o fato de a vida dos negros ligados ao governo ter melhorado muito mais do que as dos moradores de favelas. "Eu vou achar ruim que um negro ficou rico? Pelo contrário, eu também quero ficar", disse. Andando para a entrada da favela, ele continuou: "Mas se continuarem a nos deixar sem luz, eles vão ver o que vai acontecer nas próximas eleições." Despedimo-nos e ele me pediu 70 reais. Explicou: "Isso faz parte do acordo com todos que moram aqui. O turista vê a casa das pessoas, paga e o dinheiro vai para a comunidade. Só fico com 5%."
No final de março, depois de mais um protesto, o governo religou a luz, mas informou que, se alguma ligação clandestina fosse descoberta, o fornecimento seria interrompido novamente. Na mesma semana, noticiou-se mais um escândalo: a Eskom, a empresa estatal elétrica, mantinha contratos irregulares com 138 empresas privadas para as quais fornecia energia a preços baixíssimos.
Às vésperas de completar 92 anos, Nelson Rolihlahla Mandela é o político vivo mais respeitado do mundo. Na África do Sul, só setores da extrema esquerda e uns poucos africâneres lhe fazem restrições. De uma linhagem aristocrática, ele perdeu o pai ainda criança e foi morar na tenda do chefe de sua tribo, os thembu. Foi o primeiro de sua família a ir à escola, uma instituição privada que atendia a realeza tribal. Era um aluno aplicado, metódico e um orador nato.
Mandela renunciou à liderança de seu clã quando soube que um casamento lhe havia sido arranjado. Expulso da faculdade por ter se envolvido em um boicote contra a política universitária do governo, mudou-se para Joanesburgo, onde trabalhou numa imobiliária e terminou o curso de direito por correspondência. Ali conheceu Walter Sisulu, com quem fundou o primeiro escritório negro de advocacia do país. O prédio onde trabalharam corre o risco de ser demolido até abril para dar lugar a um estacionamento. Sisulu o convenceu a militar no Congresso Nacional Africano.
Mandela tinha características que o diferenciavam dos líderes do partido. Além do carisma e da modéstia, deixava transparecer uma ausência de qualquer sentimento de vingança em relação aos brancos. Demonstrava uma confiança inabalável em si próprio, tinha o dom de ouvir e uma memória prodigiosa. Tais atributos o levaram à liderança do partido e, depois de passar por um treinamento militar na Argélia e na Etiópia, à coordenação da guerrilha do cna. Depois de quinze meses de perseguição, foi capturado e condenado à prisão perpétua por atividades subversivas. O prisioneiro passava o tempo entre trabalhos forçados, leitura e meditação. Era autorizado a receber visitas apenas a cada seis meses. Suportou as frequentes prisões da mulher e a morte mal explicada, em um acidente de carro, de seu filho do primeiro casamento. Casou-se três vezes. A primeira com Evelyn Ntoko Mase, da qual se divorciou em 1957, depois de treze anos de casamento, e com quem nunca mais teve contato. Em seguida, conheceu a assistente social Winnie Madikizela, 18 anos mais jovem, com quem ficou por 37 anos, sendo que quase três décadas se relacionando através do vidro da prisão da ilha Robben. O casal se divorciou em 1996 depois que divergências políticas e pessoais vieram a público. Em seu octogésimo aniversário, Mandela casou-se com Graça Machel, viúva de Samora Machel, líder da independência e primeiro presidente de Moçambique.
O movimento para sua libertação tomou proporções mundiais e a frase "Free Mandela" estampava broches, camisetas, agendas, bandeiras e guardanapos. Quando sua casa foi atacada pela polícia, congressistas norte-americanos se cotizaram para reconstruí-la. Seu aniversario de 70 anos, quando ainda estava preso, foi comemorado em comícios combinados em mais de vinte países. O governo branco se reuniu com Mandela em 47 ocasiões. Por seis vezes propôs libertá-lo em troca do compromisso do cna de abandonar a luta armada. Recusou todas. "Não posso e não farei nenhuma concessão num momento em que eu e meu povo não somos livres. A sua liberdade e a minha não podem vir separadas", escreveu em 1985, numa carta a sua filha. Quem cedeu foi Frederick de Klerk. Em 2 de fevereiro de 1990, o presidente anunciou à estarrecida tribo branca que as coisas nunca mais seriam como antes. Nove dias depois, Mandela foi solto.
Para o historiador Allister Sparks, a libertação de Mandela, a legalização e a desmontagem do apartheid foram uma "revolta negociada". Na época, o Salomon Brothers, o grande banco americano de investimentos, classificou o processo como "o mais substancial realinhamento de poder político, militar, social e econômico jamais acertado numa mesa de negociações, em lugar do campo de batalha, incluindo o Oriente Médio, a Europa Oriental e a ex-União Soviética". Anos antes da saída de Mandela da cadeia, dirigentes do cna e do Partido Comunista se encontravam regularmente com diplomatas americanos que serviam na África do Sul.
Mas houve outras cláusulas na "revolta negociada". Elas me foram expostas pelo economista Michael Kahn, um dos diretores do Conselho de Pesquisas em Ciências Humanas, durante um almoço na Cidade do Cabo: "O apartheid só acabou quando os brancos tiveram a certeza de que nada mudaria para eles, como de fato ocorreu." Na transição, acertou-se que o ministro das Finanças e o presidente do Banco Central do governo do apartheid seriam mantidos durante o mandato de Mandela. O cna também concordou que De Klerk fosse o vice-presidente. E garantiu o direito à propriedade privada (para evitar a desapropriação das terras dos brancos, como havia acontecido no Zimbábue) e se comprometeu a honrar as dívidas interna e externa e os empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional. Tudo foi cumprido.
Num artigo publicado em piauí, intitulado "Hegemonia às avessas", o sociólogo Francisco de Oliveira traçou um paralelo entre os governos do Congresso Nacional Africano e do Partido dos Trabalhadores. Ambos expressariam a dificuldade das classes dominantes dos dois países em exercer o poder diretamente. Só os representantes dos oprimidos, pt e cna, teriam autoridade política para tanto, com o objetivo de manter o sistema econômico e político. Ambos precisaram renegar partes significativas da sua história. Desenvolveram simultaneamente políticas assistenciais de compensação, enquanto garantiam a continuidade macroeconômica. Tornaram-se, assim, partidos da ordem.
Se a Carta à Liberdade foi o resumo das aspirações do cna durante quase meio século, o Programa de Desenvolvimento e Reconstrução representou o projeto a ser implantado quando ele chegasse ao poder. Mandela sintetizou o programa em seu slogan de campanha: "Uma vida melhor para todos." O plano previa a construção de milhares de casas populares, hospitais, escolas, a criação de empregos e a estatização das minas e dos bancos do país. "Era o desenho de uma sociedade socialista com a riqueza distribuída entre a maioria, que era a dos menos favorecidos", explicou-me Patrick Bond, um dos seus autores.
O Programa, no entanto, não saiu do papel. "Um dia, o governo apareceu com outro programa chamado Crescimento, Emprego e Redistribuição, e enterrou para sempre o projeto original", disse Bond. "Desde então, o cna nunca mais foi o mesmo." O novo plano previa privatizações, redução do déficit fiscal e juros altos. "Durante muitos meses, executivos do Banco Mundial faziam visitas à África do Sul. O fmi condicionou um empréstimo ao país ao compromisso de uma política salarial austera e corte de custos", afirmou o professor.
Foram lançados nos últimos meses quatro cartapácios sobre a história do pós-apartheid escritos por jornalistas e historiadores sul-africanos de renome. Em comum, têm o fato de reservar a Mandela um papel secundário na história e jogar luz sobre um personagem enigmático: seu sucessor, Thabo Mbeki. Se Mandela evitou que o fim do apartheid desse origem a uma guerra civil - é o argumento comum a vários ensaios da série -, foram as ideias de Mbeki que orientaram as políticas do cna nos últimos vinte anos.
Primeiro como vice de Mandela, cargo que dividiu com De Klerk, e depois como presidente efetivo entre 2000 e 2008, Mbeki teve como objetivo primordial a recuperação econômica. E conseguiu: no seu governo, a África do Sul cresceu em média 5% ao ano. Já a política social que implementou foi desastrosa, sobretudo no que diz respeito à epidemia da Aids.
Thabo Mbeki é filho de uma professora comunista e de um militante histórico do Congresso Nacional Africano que ficou preso com Mandela por quase trinta anos. Desde cedo, aprendeu que não deveria confiar em brancos ou em alguém que não fosse do cna. Foi o partido que financiou seus estudos, transferiu-o para a Tanzânia e depois determinou que estudasse economia na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Foi o segundo estudante negro da instituição.
Ali adquiriu gostos mundanos como fumar cachimbo, usar ternos de tweed e citar poetas britânicos. E começou a formar sua visão política de culto ao individualismo, desprezo pelo populismo, e a noção de que se deveria fazer o certo para o povo, mesmo que ele não percebesse. Em 1969, quando foi mandado para um curso de liderança ideológica no Instituto Lênin, na União Soviética, tornou-se um crítico exacerbado do modo de vida ocidental.
Morou depois na Zâmbia, em Botsuana, na Suazilândia e na Nigéria, mas viajava boa parte do tempo pela Europa e pelos Estados Unidos, na condição de responsável pela propaganda e porta-voz do cna. Durante 28 anos não pôs os pés na África do Sul, criando uma distância que seu biógrafo Mark Gevisser chamou de "desconexão permanente". Enquanto a maioria dos jovens líderes do cna se formou nos movimentos estudantis, sindicais e em associações de combate ao apartheid, Mbeki foi lapidado em reuniões fechadas, em aparelhos partidários e na segurança do exílio.
"Mbeki era pelo povo, mas não era do povo", escreveu Gevisser. Isso explicaria o seu desconforto em lidar com os conterrâneos, ao mesmo tempo em que parecia tomado pela ideia de que a África, e ele mesmo, eram vítimas de conspirações. Ele foi uma figura central na negociação da transição. As reuniões com o fmi e o Banco Mundial só ocorriam em sua presença, o "homem de Sussex" do cna, como diziam seus interlocutores. Foi dele a ideia de trocar o reformismo do Programa de Desenvolvimento e Reconstrução pelo neoliberalismo do plano de Crescimento, Emprego e Redistribuição. Mas como um militante do aparelho do cna, com curso na União Soviética, abandonou os princípios socialistas em favor de uma política de submissão ao mercado? Gevisser diz que a sua estadia no Instituto Lênin foi fundamental, mas num sentido inverso ao esperado: Mbeki teria percebido os problemas do sistema soviético e abandonou todas as ideias reformistas e socializantes. Mas manteve a visão aparelhista e conspiratória.
Era previsível que, à época do apartheid, o governo pouco se interessasse pela Aids, doença que atingia basicamente negros e pobres, e pouco fizesse para enfrentá-la. A maneira que Mbeki tratou a epidemia foi ainda mais chocante. Para ele, havia uma conspiração dos brancos imperialistas e dos laboratórios estrangeiros baseada numa visão racista sobre os hábitos sexuais dos negros. Mbeki chegou a dizer que era a pobreza (má nutrição e falta de água potável) e não o hiv, a causa da doença. Recusava-se a fornecer tratamento para os doentes e acusou os negros que tomavam os coquetéis de azt como "fracos de cabeça".
Para aplacar os críticos, Mbeki nomeou um comitê que incluía representantes de organizações não governamentais, jornalistas e sanitaristas para debater as causas da Aids. O comitê, escolhido a dedo, apegou-se ao trabalho de um bioquímico americano, Peter Duesberg, cuja tese era de que a Aids era um conjunto de doenças, sem ligação umas com as outras, resultado do uso de drogas ilícitas e de medicamentos.
Em 1997, Mbeki procurou seus camaradas de direção do Congresso Nacional Africano para falar sobre o Virodene. Uma médica portuguesa lhe dissera ter descoberto uma droga que impedia a reprodução do vírus hiv. O medicamento, testado sem o consentimento dos pacientes, teria feito com que eles recuperassem o peso e melhorado o aspecto geral.
Mbeki anunciou que a África do Sul havia descoberto a cura da Aids. Era a oportunidade, ele disse, de os africanos se livrarem das amarras da "caridade internacional", uma causa histórica da subjugação dos negros. Menos de três meses depois, descobriu-se que o medicamento era altamente tóxico e provocava a falência do fígado, e dos rins. Mbeki se recusou a desculpar-se e, simplesmente, parou de falar do Virodene.
Anos depois, soube-se que vários empresários ligados ao cna e a Mbeki - entre eles, Max Maisela, seu principal consultor quando vice-presidente - haviam investido milhões de dólares no Virodene. Um estudo da Harvard School of Public Health estimou que a política de Mbeki resultou em 330 mil mortes pelo hiv, entre 2000 e 2005. A questão racial era sempre alardeada por Mbeki. Quando uma jornalista branca, Charlene Smith, foi à televisão contar ter sido estuprada em sua casa por três homens, ele a acusou de perpetuar a imagem do negro como predador sexual, incapaz de controlar seus instintos. Também usou o racismo para justificar a escolha da Alemanha, e não da África do Sul, para sediar a Copa do Mundo de 2002.
A jornalista Karabo Keepile, do semanário Mail & Guardian, havia me proposto uma caminhada até o restaurante em um centro comercial no bairro de Rosebank, em Joanesburgo. Anoitecia, e o trajeto parecia longo. Perguntei se havia algum perigo em andarmos sozinhas e mencionei estatísticas recentes. Estupros, 100 por dia. Assaltos, 700. Assassinatos, 50. Ela sorriu. "Não, comigo você está tranquila", disse. Pedi que explicasse melhor.
"A violência aqui é igual a qualquer lugar do mundo", disse Karabo Keepile. "A diferença é que ela sempre ficou restrita às favelas, e agora se tornou perceptível por estar batendo na porta dos brancos. Você tem que andar aqui com os cuidados que andaria em Nova York ou no Rio de Janeiro."
No ano passado houve 125 estupros para cada 100 mil habitantes. Calcula-se que, para cada queixa registrada, há outras 35 vítimas que preferem manter-se em silêncio. Ainda assim, chega-se à estatística estarrecedora de um ataque a cada vinte segundos. Quase 10% das alunas sul-africanas já foram violentadas por seus próprios professores nos banheiros das escolas. Nos Estados Unidos, a média é de 39 para cada 100 mil, número compatível ao brasileiro. Estudiosos do tema atribuem a "cultura do estupro" a uma série de fatores combinados: rápido crescimento da população, desemprego galopante, desconfiança na polícia (que ainda é identificada como força repressora racista), pobreza, sentimento de posse tribal em relação à mulher e ignorância. Ainda há quem acredite que ter relações sexuais com uma criança ou com um bebê é capaz de destruir o vírus da Aids.
Em 2001, Mbeki resolveu reequipar suas Forças Armadas. A licitação, de 5 bilhões de dólares, para a compra de jatos, submarinos e corvetas, foi ganha por um consórcio espanhol. Mas o contrato foi fechado com um grupo alemão. Quando suspeitas de corrupção chegaram perto do governo, ele demitiu o vice-presidente Jacob Zuma, seu amigo de trinta anos, que foi acusado de receber propina. Mbeki estava isolado e com a popularidade decrescente, enquanto Zuma, um demagogo afável e agregador, era o favorito para sucedê-lo na Presidência.
Pouco depois, outra acusação levou Zuma aos tribunais. A filha de um amigo, portadora do vírus hiv, disse ter sido estuprada por ele dentro de sua casa. No julgamento, Zuma disse que, como zulu, tinha a obrigação de satisfazer as mulheres. E que o comprimento da saia da moça era sinal do que ela estava lhe pedindo. Quando foi indagado se havia se protegido durante a relação sexual, ele respondeu ter tomado "uma chuveirada", o que diminuía os riscos da propagação da doença.
Durante as investigações sobre os casos, no entanto, descobriu-se que Zuma havia sido monitorado pela Receita Federal e pelo Serviço de Inteligência. Como era vice-presidente, a medida só era possível com a autorização do presidente. Era a prova que Zuma precisava para atribuir a Mbeki uma conspiração para afastá-lo do poder.
A situação logo se inverteu. Diversos grupos de interesse - que em algum momento passaram a atacar Mbeki, fosse por suas medidas, seu modo centralizado de governar, ou até mesmo por sua antipatia pessoal - uniram-se em torno de Zuma. Mbeki foi humilhado e desacreditado. Afastado da direção do CNA, renunciou, em seguida, à Presidência. Desde então, tornou-se um pária no partido ao qual dedicou meio século de sua vida.
A Constituição promulgada depois da eleição de Mandela baniu a segregação racial. Foi proibida a obrigatoriedade de as crianças serem registradas, na certidão de nascimento, como branca, negra, mestiça ou amarela. Mas a política mais ambiciosa do cna para atenuar as desigualdades impostas pelo apartheid obrigou os sul-africanos a serem identificados novamente pela cor da pele.
O Black Economic Empowerement (Fortalecimento Econômico Negro), que todos chamam de bee, previa que todas as empresas que quisessem fazer algum tipo de negócio com o governo deveriam ter em seus quadros funcionários negros e mestiços. Era o momento da compensação. Colocado em prática em 2003, o plano de ação afirmativa tinha como objetivo fazer com que o mercado absorvesse milhões de cidadãos colocados à margem durante décadas. As empresas que cumprissem determinadas metas de inclusão e promoção de negros ganhavam mais pontos, o que as deixava em melhor posição em licitações, contratos e parcerias com o governo.
O bee trazia embutido dois preceitos. Primeiro, o de aumentar os postos de trabalho para os trabalhadores negros pobres. O segundo era de forçar e acelerar, por meio das promoções de negros no interior da hierarquia das empresas, a formação de uma nova classe média. Os executivos negros poderiam, ainda, montar novas empresas, que contratariam preferencialmente negros.
Muitos empresários brancos, porém, passaram a nomear jardineiros ou motoristas como vice-presidentes de suas empresas. Isso fazia com que a pontuação do bee disparasse e eles levassem os contratos. Como a fiscalização era praticamente inexistente, explodiu o número de prepostos negros à frente de empresas já estabelecidas, e também de companhias moldadas exclusivamente pelos critérios do bee, unicamente para ganhar concorrências.
A idéia do bee não partiu do Congresso Nacional Africano. Ela foi inventada em 1992, dois anos depois da libertação de Mandela, pela New Africa Investments Limited, uma empresa branca. Segundo o analista político Moelesti Mbeki (irmão do ex-presidente Thabo Mbeki e um dos maiores críticos do CNA), o empresariado tinha o objetivo de cooptar a nata dos movimentos de resistência, "literalmente, comprando-os com ações de empresas sem qualquer custo". Para os oligarcas, o valor era pífio. Para os militantes, era um meio de subir na vida.
E, de fato, vários dirigentes e quadros do Congresso Nacional Africano mudaram de ramo. Tornaram-se homens de negócios, sócios e donos de empresas que detinham boa parte dos contratos do governo. Cyril Ramphosa, ex-secretário-geral do partido, e Tokyo Sewale, ministro da Habitação Popular, integram a casta dos diamantes negros.
Outra vantagem para os brancos era mostrar que o cna poderia abandonar os planos de estatização, já que conseguia parcerias com empresas estabelecidas no mercado, e com negros nos seus quadros. O bee também permitia que os empresários brancos tivessem trânsito no governo, prioridade nos contratos e proteção contra os concorrentes estrangeiros.
O programa não produziu uma geração empreendedora. "O recado que se passa para os negros é que você não precisa se esforçar, correr riscos, já que os brancos vão te colocar como sócio de uma companhia", defende Moelesti Mbeki. Menos de 1% das empresas na África do Sul estão nas mãos de negros.
O Instituto Unilever de Marketing Estratégico, ligado à Universidade da Cidade do Cabo, estima que 2,5 milhões de negros tenham casa própria, carro e microondas. Num estudo denso e elogiado, o sociólogo Lawrence Schlemmer avaliou que os novos ricos são 330 mil, menos de 1% dos negros do país.
No ano passado, o jornalista e escritor inglês R. W. Johnson, correspondente do Sunday Times e colaborador da London Review of Books, nadava no lago em frente a sua casa de veraneio, na província de KwaZulu-Natal, quando sentiu um raspão nos dedos do pé esquerdo. Saiu da água e viu que sangrava. Meia hora depois, deu entrada em um hospital praticamente morto. Contraíra uma bactéria raríssima e mortal na água poluída. Para salvá-lo, os médicos tiveram que amputar sua perna esquerda acima do joelho. Os dedos do pé direito ficaram necrosados e o movimento da mão esquerda, comprometido.
Em uma manhã de fevereiro, sua mulher, Irina, professora universitária russa, abriu a porta da casa deles em Constantia, a meia hora da Cidade do Cabo. Eles moram numa região de colinas floridas, de onde se tem uma magnífica vista de vinícolas. Johnson tem 67 anos e mora na África do Sul desde os 13. Foi com dificuldade que manobrou a cadeira de rodas até a mesa abarrotada de recortes de jornais e revistas.
Intelectuais de esquerda consideram R. W. Johnson conservador e racista, mas ele rebate as críticas dizendo ser um dos "poucos a ter coragem de dizer o que todo mundo pensa". Suas opiniões costumam ser baseadas em fatos e estatísticas, que pontuam as 700 páginas de seu livro mais recente, South Africa's Brave New World [África do Sul: Admirável Mundo Novo].
"Todo o imaginário criado em torno do cna - a prisão de seus líderes, as mortes na resistência, o sonho de um governo para o povo - colocou o partido acima do bem e do mal", disse. "Mas o fato é que, quando chegaram ao poder, mostraram o que eram: inexperientes e incompetentes, além de terem rapidamente caído na corrupção", falou.
Ele contou o caso da filha de sua ex-empregada, Carolyn, para ilustrar a tênue linha que separa o público do privado nas relações dos políticos do cna. A moça, pobre, fora estuprada duas vezes na adolescência. Anos depois, Johnson soube que ela havia engravidado de um figurão do partido. Telefonou para ela e perguntou como podia ajudá-la. Ela lhe disse que não precisava nada: havia sido nomeada chefe do departamento de distribuição de livros didáticos de toda a região de Limpopo. "Carolyn mal sabe escrever o próprio nome", disse. "Então, imagine o que nos reserva o futuro desse país".
Irina trouxe chá e biscoitos e Johnson continuou: "A elite do CNA é hoje de milionários, incluindo Mandela, que enriqueceram fazendo negócios dentro do governo. Como um homem que saiu da prisão sem um centavo, hoje tem mansões em Moçambique, Joanesburgo e Cidade do Cabo? Por que ninguém investiga isso?"
Para ele, o bee é, em termos lógicos, uma sandice. "Ação afirmativa faz sentido para ajudar uma minoria e não 80% da população", disse. "O que ocorre é que o Estado vira um refém. Nos Estados Unidos, ação afirmativa é para uma minoria desassistida. Política para a maioria não pode ser a de exceção. Ter dois quintos da sociedade dependendo da ajuda do governo e apenas 5 milhões de brancos pagando imposto de renda, é a prova de que esse país ainda terá muitos problemas pela frente."
Perguntei a Johnson o que mudara na vida dos brancos desde a chegada do cna ao poder. "O crime entrou na vida dos brancos e eles perderam a rede que garantia seu futuro", constatou. "E, o que é mais grave: um jovem branco de 15 anos, que nem sabe o que foi apartheid, não vai ter emprego na África do Sul."
Foi o que quase aconteceu com a capitã Renate Barnard. Com vinte anos de trabalho na polícia nacional, a capitã se candidatou a uma promoção por duas vezes no ano passado. Foi preterida em ambas, apesar de um comitê tê-la recomendado como melhor candidata à vaga. Em março, o Tribunal Superior do Trabalho lhe deu ganho de causa no processo em que ela acusava seus chefes de "racismo às avessas". Ela disse aos jornais: "Sou uma profissional excelente, sacrifiquei minha vida e a da minha família todos esses anos pelo meu trabalho, e não me escolheram porque sou branca." Segundo seus advogados, o veredicto dava nova "direção às ações afirmativas" no país.
Uma empregada negra uniformizada e de turbante na cabeça atravessou a sala. Quando ela cruzou o corredor, Johnson retomou seu raciocínio. "Essa ideia de que 'agora é a nossa vez', que é a hora da revanche, está muito presente", disse. Ele contou que, quando convida amigos negros para jantar, "eles assumem que sou eu quem vai pagar a conta". Mencionou ainda o caso de um conhecido do Congresso Nacional Africano, a quem ele havia ajudado a arrumar uma bolsa de estudos em Oxford. "Ele jamais me ligou para agradecer", comentou. "E não é uma questão de ser educado ou não. Ele simplesmente acha que era minha obrigação fazer isso."
O Congresso Nacional Africano tem quase 70% das cadeiras no Parlamento. É apoiado pelas duas maiores forças da esquerda, a Cosatu, a maior central sindical, e pelo Partido Comunista. A Aliança Democrática, que venceu as eleições na província da Cidade do Cabo, a única a não ser governada pelo cna, é acusada sistematicamente pelo governo de ser um partido branco e racista. O passado de luta antiapartheid da governadora Helen Zille é ignorado. Políticos negros de outros partidos são chamados pelos militantes do cna de cocos: pretos por fora e brancos por dentro.
Em um fim de tarde, num restaurante ao lado do Parlamento, na Cidade do Cabo, o deputado Philip Dexter, do Congresso do Povo, o Cope, tomava vinho branco com gelo (como é de praxe em todo o país) com outros seis companheiros de partido. Formado em 2008, o Cope é uma espécie de psol. Ele agrupa militantes que, insatisfeitos com os rumos tomados pelo Congresso Nacional Africano, criaram uma nova legenda. Dexter e os amigos discutiam a formação de um novo sindicato para concorrer com a Cosatu, que, segundo eles, é "cúmplice das vilanias do governo". Imaginavam arrebanhar cerca de 1,5 milhão de trabalhadores que "não se sentem representados pelo cna". Chamavam-se de "camarada" e citavam Marx e Lênin.
Dexter é branco, tem os olhos verdes e o cabelo frisado. Na paleta sul-africana, é considerado mestiço. Usa óculos de armação preta pesada e gravata vermelha com estampa pouco discreta. Foi casado com uma brasileira e tem um filho que mora em Florianópolis. "Aqui não é mais possível falar em esquerda e direita", ele me disse. "O cna não representa mais o povo. Como você pode achar que esses sujeitos com bmws, quatro ou cinco mansões, são a cara da maioria pobre sul-africana?"
Juntou-se à mesa outro deputado, Willie Madisha, um clone do ator Lázaro Ramos, ex-presidente da Cosatu. Nos anos 80, Madisha conheceu Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, a quem disse admirar: "Ele fez do Brasil uma potência e ainda está melhorando a vida dos pobres."
Na véspera, o governo havia anunciado as metas para o orçamento de 2010. Uma delas era ampliar a distribuição de benefícios para jovens de até 18 anos, mas se manteve a estrutura assistencialista. "Nem o governo do Bush faria algo tão de direita", brincou Madisha. Do outro lado da mesa, Dexter disse: "Houve progressos, como os benefícios sociais, mas, do jeito que foi feito, eles tornam o cidadão dependente do Estado. Esse populismo tem similaridades com o que ocorre na Venezuela. É um cesarismo presidencial travestido numa retórica de esquerda. Pensam na luta de classes em termos tão rudimentares e falam em estatização não para distribuir riqueza, mas para concentrar mais poder."
A mesa se serviu de mais vinho e gelo e Dexter continuou: "A classe mais perigosa é a burguesia. Porque ela só quer o poder para proteger o seu poder. E o cna virou um partido burguês." Seus camaradas balançaram a cabeça, concordando.
Quando entrei no táxi, o motorista avistou os parlamentares, que também estavam na calçada, e perguntou se "aquele era o pessoal do Cope". E comentou: "Essa gente só quer cargo no governo. Eles acham que vão acabar com o cna e ficar com os cargos. Não querem dar uma oportunidade ao cna, que está tentando fazer as coisas, construir casas. Eles vão ter muito poder sempre, porque eles são gente nossa."
Presidente da Liga da Juventude do cna, cargo já ocupado por Mandela, Julius Malema é o deleite de cartunistas e chargistas. Aos 27 anos, ele se tornou uma das figuras mais expressivas do Congresso Nacional Africano por seu discurso nacionalista, agressivo e de ataque aos brancos. Desconhecido há dois anos, Malema ganhou projeção por ter sido peça fundamental na articulação para eleger Jacob Zuma, que o carrega para quase todos os eventos e sempre sai em sua defesa quando é atacado.
Com um salário de 5 mil reais, Malema é dono de duas casas avaliadas em 1,5 milhão de reais (pagas em dinheiro vivo), tem um Mercedes, um Aston Martin e um Range Rover. Usa um relógio Breitling de 60 mil reais e só se veste com jeans Diesel e camisas Gucci, mesmo quando visita favelas.
Uma reportagem do jornal The Star mostrou que Malema é sócio oculto de mais de dez empresas, todas elas com contratos com o governo. Soube-se que também não declara imposto de renda. Todas as vezes que foi confrontado com o fato, Malena deu a mesma resposta: "Isso é coisa de brancos racistas que não aguentam ver um negro ser bem-sucedido." A popularidade de Malema cresce a cada pesquisa, sobretudo entre a população mais carente. Comentaristas políticos o consideram um candidato potencial à sucessão do presidente Zuma, em 2012.
As denúncias de corrupção entre membros do cna explodiram nos últimos meses. O governador de Limpopo teve que renunciar depois que foi descoberto que sua mulher e filha ganharam a maior licitação da província. Publicou-se também que o ministro das Comunicações, há dez meses, gastava 1 mil dólares por dia (da verba de representação) para dormir em hotéis de luxo. Justificou-se dizendo que não haviam lhe comprado um colchão decente para o apartamento funcional do governo.
Frente aos escândalos, o presidente Zuma prometeu abrir suas contas pessoais. O governo gastava 4 milhões de reais por ano em despesas com as três primeiras-damas (Zuma é polígamo). Sobre os gastos de seus vinte filhos ainda não se sabe quem os financia.
"Muitos integrantes do cna são contrários às investigações de corrupção no governo porque muitos deles estão envolvidos", disse-me Patrick Craven, um inglês magro e grisalho, de aparência pouco amistosa, porta-voz da Cosatu há 22 anos. A central sindical, que fica em um prédio decadente no centro de Joanesburgo, apoia o governo, mas lhe faz críticas pontuais. Ela quer que os políticos tornem públicos seus bens e contas bancárias. "O que a esquerda não entende é que o problema não é a Cosatu ou o Partido Comunista: é o próprio cna. Eles vão explodir", comentou.
Às nove de uma manhã de quarta-feira, o ministro de Indústria e Comércio, Rob Davies, um irlandês barbudo e de expressão grave, tomou a palavra no seminário "bee: uma boa tentativa de compensação ou não?", na Câmara de Comércio da Cidade do Cabo, e disse ao auditório lotado: "Temos que admitir que o bee não está dando certo."
Durante mais de duas horas, Davies falou sobre as distorções do programa. Teve que responder por que não havia um padrão de exigência nas licitações. Explicou a razão de o governo continuar a selecionar empresas sem expertise nas áreas que pretendem atuar. E comentou a denúncia de que um certificado bee pode ser comprado por 300 dólares.
Ele se saía razoavelmente bem até que uma mulher branca, de cabelo vermelho, levantou a mão dizendo que ia fazer uma pergunta "como cidadã": "Quero saber o que o governo me sugere dizer a um branco pobre que se sente discriminado por não ter os mesmos direitos de um negro que também é pobre." Houve silêncio e muitos ouvintes se mexeram nas cadeiras. "Não há discriminação", respondeu o ministro. "Só entendemos que os negros têm uma desvantagem maior." A meu lado, um senhor branco comentou: "A nação arco-íris virou nação cappuccino: muito preto embaixo, uma espuminha de brancos por cima e um polvilhado de diamantes negros no topo."
Depois da conferência, o presidente da Câmara de Comércio da Cidade do Cabo, Yusuf Emeran, um descendente de indianos, me disse: "O bee é um equívoco. Nada mudou no mundo corporativo nesses últimos quinze anos. Os brancos continuam sendo os donos de tudo. O que mudou foi que os nossos militantes se tornaram milionários."
Yusuf Emeran se servia de café com bolinhos quando me contou sua história. "Fui membro do cna por 56 anos. Lutamos pela democracia para que todos pudessem votar. Passei metade na minha vida no exílio, em nome de um projeto maior. E eu digo a você: esse não é mais o cna dos nossos sonhos. Eles venderam o sonho e eu decidi que não voto mais", afirmou. Ele passou 32 anos no exílio. Fixou-se na maior parte do tempo na Inglaterra, onde ganhou dinheiro com uma empresa de saneamento. De volta à África do Sul, ficou ainda mais rico. Sua empresa é responsável pelo fornecimento de água filtrada em quase toda a província do Cabo.
"Podem falar o que quiser, mas antes do cna chegar ao poder as pessoas tinham que andar 12 quilômetros para pegar água, elas não tinham eletricidade nem teto, e hoje elas têm", disse-me Moloto Mothapo. Ele é o porta-voz da bancada do Congresso Nacional Africano no Parlamento. "O povo reconhece isso. Então, temos certeza que vão sempre votar no cna porque foi o partido que mudou a vida das pessoas."
Moloto Mothapo é alto e magro como uma escultura de Giacometti, só que com óculos de grossa armação azul. Ele acha que as denúncias de corrupção são exageradas: "Isso não é privilégio desse país. Em todo lugar onde as pessoas têm conexão com o poder, elas querem se meter nas licitações públicas. Mas estamos criando mecanismos para combater esse problema, é um dos pontos do nosso programa de metas."
Seu celular tocava a cada cinco minutos e ele parecia enfadado em ter que dar explicações sobre o comportamento dos políticos do partido, no qual milita desde os 14 anos. "O problema é que a imprensa aqui exagera, apura mal e, quando erra, publica uma retratação mínima", disse. E a seguir fez uma queixa parecida com as que são feitas do outro lado do Atlântico: "Tanta coisa boa que o governo está fazendo e eles só focam no negativo."
![]()

