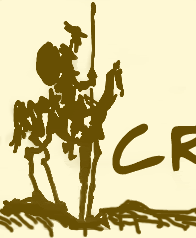


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
terça-feira, novembro 30, 2004
CARLOS HEITOR CONY, JORNALISTA VENAL
"A respeito da celeuma levantada na sociedade brasileira pela altíssima aposentadoria de mais de R$ 19 mil reais mensais concedida pelo governo do PT ao jornalista Carlos Heitor Cony que se apresentou como perseguido pelo governo militar instalado no Brasil em 31 de março de 1964, gostaria de lembrar que esse jornalista, nos dias que antecederam a queda do governo de João Goulart, escreveu dois editoriais violentos no Correio da Manhã, com os títulos de BASTA e em seguida FORA, que provocaram a famosa passeata "Com Deus pela Liberdade", em que milhares de cariocas, principalmente senhoras, foram às ruas, num movimento que pavimentou o caminho para que o general Mourão Filho se despencasse de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, completando o trabalho iniciado por Cony. Eu perguntaria para os que se lembram dessas cenas: se Jango estivesse vivo, ele concordaria com essa premiação?".
E-mail enviado pelo leitor Gilberto Souza Gomes Job, ao "Painel do Leitor" da Folha de S. Paulo
![]()
APEDEUTA CITA BEETHOVEN
"Somos como a Quinta Sinfonia de Beethoven. Nós compomos com o Palocci, com o país e estamos afinados", disse o presidente ao se referir à política econômica do governo.
E por que não a Nona? Quem afina ou desafina é a orquestra, não Beethoven. Sem nada ter feito em meio mandato, Lula tenta um upgrade em sua incultura. Do forró ao sublime alemão. Das parábolas rasas sobre jabuticabas a estultícies sobre música erudita.
Mas não convence. Em quem nunca preocupou-se em adquirir cultura, há lacunas que cargo algum preenche. Pode até ganhar o prêmio Nobel da Paz, esta comenda reservada aos medíocres do Terceiro Mundo. Mas jamais ultrapassará o universo do forró.
![]()
sábado, novembro 27, 2004
MEMÓRIAS DE UM EX-ESCRITOR (XXXVI)
Estocolmo - Cheguei em Estocolmo em um dezembro glacial, em 1971, após revirar a Europa a partir de Barcelona. Não sei como é a vida em Plutão, mas me parecia ter chegado lá. Fugia do Brasil e pretendia instalar-me em um país qualquer longe daqui. Minto, não era para um país qualquer. Estava com a Suécia na cabeça, obsessão irremediável. Hoje, tentando analisar o que me levou até lá, tenho de admitir: a mesma sexualidade submetida a uma camisa de força, que me fez rejeitar o cristianismo, me impeliu ao então chamado paraíso do amor livre. "Quando o sol se deita atrás dos fjordes, que mais resta senão ir para a cama e fazer amor?" - dissera uma atriz norueguesa. Minha pátria é a Escandinávia, pensei. De mala e cuia, para lá rumei, com a decisão de não mais voltar ao país do carnaval e do futebol.
Na mala, dois livros, meus últimos elos com a língua e com o continente sul-americano. O Martín Fierro e a Poesia Completa, de Pessoa. Partia para não mais voltar e precisava de algum antídoto contra a nostalgia. Foram certamente meus melhores companheiros de exílio. Em meio ao silêncio e à solidão glacial de uma cidade hirta de neve, nada melhor para aquecer a alma que um poema em língua da infância.
As fronteiras, afirmei no início destas reflexões, geram dois tipos de homem. Pertenço à segunda espécie, a daqueles que querem ver o lado de lá. Se na época das navegações Magalhães quase havia completado uma volta ao mundo, não me parecia ser difícil, na era da aviação, dar uma espiadela nas antípodas. Meus primeiros estímulos foram recebidos de pessoa que certamente não lembra meu nome, muito menos meu rosto. O que não deixa de ser significativo: muitas vezes jogamos algumas palavras ao léu, sem notar que um outro as colhe.
Nos dias da Universidade Livre da Praça da Alfândega, como chamávamos aquela pracinha ao lado dos Correios, surgiu em Porto Alegre um retornado de Moscou, o José Monserrat Filho, formado em Direito Espacial. Se na época a especialização me parecia solene, hoje a vejo com certa distância, tipo um ofício promissor caso algum satélite americano colidisse com um russo e a ONU ou o Tribunal de Haia tivessem poderes para dirimir a pendenga. Monserrat voltava da universidade Patrice Lumumba, estava ali a meu lado nas madrugadas do Café do Matheus, falava de um universo lá do outro lado do planeta. Adolescente, me era difícil conceber que aquele gaúcho, falando um português como o meu, falava também russo e vivera durante anos numa sociedade socialista. Sentia-me diante de um ser de ficção. No entanto ali estava o homem, concreto, de mão e ombros ao alcance do abraço, falando de sua experiência soviética.
Se por um lado me incitava a viajar, Monserrat terá provocado minha primeira desilusão face ao comunismo. Na Patrice, imaginava este ingênuo, cada estudante teria seu quarto individual, onde poderia receber não só amigos, mas principalmente amigas, e esta era minha concepção de paraíso, um território onde se pudesse dar livre expansão ao sexo sem cães de guarda por perto. O jurista intergalático foi franco: que não me iludisse, os universitários da Patrice viviam em quartos de seis, divididos em dois ou três beliches. Alojamentos a nível de paraíso, só para os príncipes africanos, que podiam inclusive levar seus haréns. Se Moscou queria influir no mundo muçulmano, não podia cortar as regalias dos fiéis ao Islã.
Naquela madrugada, a utopia soviética caiu uns 50 pontos em meu imaginário. Mais tarde, soube que os moscovitas não-participantes da Nomenklatura dispunham em média de cinco metros quadrados para habitar. Ora, em Porto Alegre, mesmo nos dias mais duros de universidade, sempre dispus de pelo menos uns vinte metros quadrados para exercer minha privacidade.
Mesmo assim, pedi bolsa a Moscou. Sair do Brasil sempre seria mais interessante do que ficar. Não fui selecionado. Só em Estocolmo fui descobrir que os deuses do Ocidente zelavam por mim.
No paraíso sexual-democrata, convivi com brasileiros que voltavam da Patrice. Terminado o curso em Moscou, não podiam ficar em território soviético. Muito menos voltar ao Brasil, naqueles dias de regime militar. Permaneciam no limbo dos internationela diskare. Em bom português, lavadores internacionais de pratos, vagando entre Paris e Berlim, Londres e Estocolmo, recebendo esmolas das social-democracias européias. Universitários latino-americanos que jamais se submeteriam a lavar uma louça em suas próprias casas, mas orgulhosos de estar na Suécia lavando pratos para estrangeiros. O que talvez explique em parte o alto nível de suicídios de latinos na Europa. Volto ao Martín Fierro de minha infância:
sangra mucho el corazón
del que tiene que pedir.
![]()
domingo, novembro 21, 2004
MEMÓRIAS DE UM EX-ESCRITOR (XXXV)
Drogas - Em São Paulo, reencontro uma amiga dos tempos de universidade em Porto Alegre. Revisitando o passado, ela se comprazia em ter cumprido as três palavras de ordem dos anos 70, sexo, drogas e rock'n'roll. Queria saber minha posição naquela década. Das três linhas de pesquisa, só havia curtido apenas a que sempre foi eterna, respondi. Drogas e rock deixei-os de lado. Rock, porque sempre considerei o ruído como um insulto à inteligência. Drogas, por detestar modismos.
As drogas, como o rock, vinham dos Estados Unidos. Não que fossem produzidas lá, mas o consumo da juventude norte-americana exportava a moda para os símios ao sul do Trópico de Câncer. Uma edição da revista O Cruzeiro publicou, nos anos 50, uma reportagem significativa sobre a "erva do diabo" como era então chamada a Canabis sativa. Para aproximar-se da droga, que circulava então nas favelas e no presídio, um repórter deixou crescer a barba, como camuflagem junto aos traficantes e consumidores. Maconha era então coisa de submundo, e barba logotipo de marginal.
Bastou os universitários norte-americanos adotarem a marijuana - voz mexicana que indicava a origem do produto - a erva virou moda no Brasil, particularmente nos campi. Como jamais suportei modas, e particularmente as vindas do Norte, meu repúdio à maconha era antes de tudo teórico, político. Por outro lado, o consumo da maconha era vício gregário, e sempre me afastei de cerimoniais coletivos. Os curtidores da canabis eram em geral pessoas de pouca ou nenhuma leitura, e nada me impelia a confraternizar com eles.
Para não dizer que jamais falei de flores... 1972. Era verão em Estocolmo, uma daquelas noites brancas em que o sol ameaça deitar-se mas não se deita, uma luz macia iluminando as madrugadas. Eu despertava de um inverno plutoniano de oito meses, como aliás todos os suecos. Perfume de orgia no ar e eu ilhado em um quarto de estudante. Se andorinha só não faz verão, muito menos um homem solitário faz orgia. Brasileiros do quarto ao lado me convidam para uma festa. Num cubículo de uns vinte metros quadrados, vinte tupiniquins e três adolescentes suecas, o cachimbo da paz correndo solto. Para não ser indelicado, fumei.
Os vinte tupiniquins no nirvana, olhando para o próprio umbigo, curtindo rock e canabis. Eu, com dor de cabeça e vontade de conversar, sem interlocutor à vista. Foi quando uma das suecas aproximou-se. O consumo de maconha era rotina em Estocolmo, a prefeitura financiava inclusive bares para curti-la, mas neles só podiam entrar menores de 18 anos. As suecas não entendiam como alguém podia encerrar-se em um quarto puxando fumo numa daquelas noites cheias de luz. Escasso naquelas paragens era o sol. "Vocês, brasileiros, são todos assim?", me perguntou. Assim como? "Só fumam e não conversam?" Não, eu não era assim. Em meu quarto havia vinhos e conversar era o que mais queria naquela noite irreal. Se a maconha era rotina na Suécia, o álcool tinha - e ainda tem - um sabor de pecado, tanto que nos bares, naqueles anos, era proibido servi-lo. Roubei as três suecas aos vinte monoglotas. De minha sacada frente a um bosque, amanhecemos contemplando aquele sol paranóico rodando quase paralelo ao horizonte. Foi minha primeira e última experiência com maconha. Não me queixo.
O uso das drogas também adquiriu prestígio entre universitários a partir do ensaio As Portas da Percepção, de Aldous Huxley, que já gozava no Brasil a fama de autor de Admirável Mundo Novo. A partir de experiências com a mescalina, Huxley chegara à conclusão que certas drogas desenvolviam a percepção. No Brasil, foi entendido às avessas. Toda uma geração de adolescentes sem leitura passou a consumir desde canabis a LSD, julgando que assim abriam as portas para a genialidade. Esqueciam - ou propositadamente insistiam em ignorar - que antes das experiências com a mescalina Huxley tinha décadas de leituras. E que sem cultura histórica de nada adianta abrir as portas da percepção, aí mesmo é que não se percebe nada.
![]()
terça-feira, novembro 16, 2004
CARLOS FREIRE (II)
- Quantas línguas dominas atualmente e quais são teus critérios para dar uma língua por dominada?
- Dominar completamente uma língua, até mesmo a própria língua materna, é uma empresa extremamente difícil. Pra mim, contudo, dominar uma língua é possuir um conhecimento teórico-prático que me permita comunicar-me nela e de poder traduzir, ainda que com dificuldade, um texto literário. Baseado neste critério, um tanto pessoal, eu poderia dizer que domino umas 30 línguas. Outras tantas posso traduzir, mas tenho pouco conhecimento prático. Quando me perguntam quantas línguas falo (ou domino) prefiro responder que conheço, isto é, que já estudei, com critérios filológicos-lingüísticos, mais de 100 línguas durante um período de mais de 50 anos consecutivos. Depois de me ter formado em Línguas Neolatinas e em Línguas Anglo-germânicas (PUC, 1958), mantenho a tradição de começar a estudar, sistematicamente, ao menos uma nova língua estrangeira no início de cada ano. Já escolhi a próxima, wolof (uólofe), que comecei a estudar no dia 1° de janeiro passado.
- Traduzir é impossível. Mas é necessário. Como é que fica um texto traduzido do chinês para o português?
- Não creio que a tradução seja impossível e, a prova disso é que há traduções realmente notáveis, excelentes, principalmente quando a língua-fonte e a língua-alvo pertencem ao mesmo grupo lingüístico e as culturas que elas veiculam são próximas. Na introdução que faço à minha antologia Babel de Poemas, tento mostrar que a poesia clássica chinesa é quase intraduzível. Pode-se traduzir parte dela, não o todo. Por que? Porque a poesia chinesa é escrita em ideogramas, verdadeira arte plástica. É língua tonal, portanto música. É lirismo, literatura por seu conteúdo poética. O poema chinês é uma combinação dessas três artes: pintura, música e literatura.
A caligrafia chinesa é uma arte que não consiste apenas em caracteres ou palavras para transmitir uma mensagem, mas deve compreender, além disso, um elemento visual que expresse um significado por meio da forma. Os ideogramas têm, portanto, alto valor simbólico, intraduzíveis a outras línguas. A descoberta do imenso valor estético dos ideogramas pelos poetas ocidentais, principalmente Ezra Pound e, depois pelos nossos poetas concretistas, foi uma fonte fecunda de inspiração.
Concluindo, poderíamos dizer que o verdadeiramente intraduzível da poesia chinesa não se escreve, mas se pinta com pincel, arte plástica, ou se ouve, quando se lê em voz alta, combinação de tons, música. O que resta, ao traduzir, é algo abstrato e genérico. É como tirar dessa poesia algo consubstancial ao seu corpo. É justamente essa harmonia intrínseca entre conteúdo, forma e um estilo extremamente conciso o que torna a poesia clássica chinesa quase intraduzível.
- Segundo o lingüista francês Claude Hagège, uma língua desaparece todos os quinze dias. Ou seja, 25 línguas morrem por ano. Mais da metade das 600 línguas indonésias seriam moribundas. O ritmo de extinção de línguas, que já se havia acelerado no século passado, deve atingir grandes proporções neste. Isto empobrece a humanidade? Ou torna mais fácil a comunicação entre os homens?
- O caso das línguas malaio-polinésicas é muito ilustrativo. Elas são faladas desde Madagascar até a Polinésia. Só na República da Indonésia falam-se mais de duzentas línguas diferentes. Como todas essas línguas pertencem à mesma família lingüística foi relativamente fácil elevar o indonésio á categoria de língua oficial do país, pois ela é uma língua veicular, resultado da simplificação e assimilação de muitas outras línguas locais. Somente aquelas línguas antigas indonésias, que têm história e literatura importantes, como o javanês (60 milhões de falantes), o sudanês, o batak, o madurês, o balinês e poucas outras poderão subsistir por muito tempo.
O ritmo de extinção das línguas deverá continuar enquanto os países interessados não tiverem políticas lingüísticas definidas, as condições econômicas necessárias e, acima de tudo, contar com lingüistas competentes que possam estudar e classificar as línguas minoritárias em via de extinção. Para que não desapareçam completamente é absolutamente fundamental que elas não continuem como línguas não-escritas e que haja escolas onde possam ser ensinadas. Teoricamente, é claro que a comunicação entre os homens seria facilitada se houvesse apenas umas poucas línguas, porém é igualmente certo que isso acarretaria um enorme empobrecimento do espírito. As línguas são aspectos fundamentais, únicos e irrepetíveis da experiência humana. E, aliás, a característica maior de nossa espécie. Cada língua que desaparece - principalmente sem deixar vestígios, sem ter sido estudada e documentada - significa a extinção de uma espécie.
- Há um estudo alarmante da Unesco, segundo o qual nada menos 5.500 línguas, entre seis mil, desaparecerão dentro um século. Acreditas nesta possibilidade?
- Se não tomarem, ao menos, as providências acima enumeradas, o desaparecimento de centenas de línguas será inexorável a curto prazo.
- A expansão do anglo-americano e de outras grandes línguas pode ser responsabilizada por este massacre de línguas?
- A expansão do anglo-americano, assim como a de todas as grandes línguas internacionais, é a conseqüência lógica das conquistas militares e econômicas, tanto no passado como no presente. A língua do conquistador, geralmente, prevalece.
- Teu atual projeto é estudar o wolof. Consta que esta língua é tão perigosa para as línguas minoritárias do Senegal como o inglês ou o francês, pois não é considerada língua estrangeira e possui o prestígio das grandes línguas africanas. Tens opinião sobre a polêmica?
- No Senegal existem dez línguas nativas, das quais seis foram promovidas a línguas nacionais. O wolof é compreendido por 80% da população. As seis línguas nacionais - peul, serere, diola, malinke e soninke, além do wolof - são ensinadas nas escolas primárias e difundidas através do rádio e da televisão. O Senegal tem, portanto, uma política lingüística definida e não creio que as outras restantes corram o risco de extinção, não como em outros países. A tendência no Senegal é a de continuar o francês como língua oficial e o wolof como língua veicular mais importante entre as demais etnias.
- Por toda a parte, há esforço de lingüistas tentando salvar línguas faladas por comunidades de até 50 ou 100 pessoas. Vale a pena o esforço?
- Foi justamente o conhecimento de uma das mais antigas línguas pré-colombianas, o aimara, falado por uns dois milhões de pessoas na Bolívia e no Peru, que levou Guzmán de Rojas a constatar que essa língua nativa tem uma lógica do Terceiro Incluído imbuída em sua sintaxe, isto é, uma lógica trivalente e não a lógica dicotômica (verdadeiro x falso), aristotélica, de todas as línguas indo-européias, de toda a cultura ocidental. Há séculos os falantes dessa língua raciocinam segundo esse princípio, hoje reconhecido e defendido por um grande número de cientistas e filósofos: Lobachewsky, Vasilev e J. Lukasiewicz, na matemática. Planck na física, J. Lacan na psicanálise e muitos outros. Esse é apenas um exemplo eloqüente para comprovar o quanto a lingüística aplicada ao estudo de línguas minoritárias e exóticas poderá contribuir para a ciência, para o conhecimento do homem.
Estou plenamente convencido de que o aprofundamento dos estudos de línguas que expressam culturas não-aristotélicas poderá trazer ainda muitas contribuições nesse campo de investigação do Terceiro Incluído. Creio que a investigação sobre a Weltanschaaung, sobre a cosmovisão de falantes de línguas indígenas, assim como a de falantes do chinês, do japonês e do coreano - e de outras línguas não tributárias do princípio da contradição e da lógica clássica - poderá confirmar, definitivamente, a tese do Terceiro Incluído num futuro próximo. É pertinente lembrar que o próprio Einstein admitiu que o princípio do Terceiro Excluído, da ciência clássica, é apenas um postulado metafísico. Não há dúvida! Vale a pena o esforço. Essa é uma tarefa absolutamente prioritária da lingüística.
- No País Basco e na Catalunha, as escolas estão dando mais ênfase ao basco e ao catalão que propriamente ao espanhol. Na Espanha, há pais que já não conseguem se comunicar com os filhos. A teu ver, há algum lucro em renunciar a um idioma falado por centenas de milhões de pessoas e encerrar-se em uma língua minoritária, falada apenas por centenas de milhares?
- O caso do basco (euskera) e do catalão é de outra natureza. O basco continua sendo um enigma para a lingüística. Não tem parentesco cientificamente comprovado com nenhum grupo lingüístico. É uma língua única, amada, estudada e difundida por seus falantes. Ao contrário das centenas de línguas africanas, asiáticas e ameríndias, está longe de desaparecer. Ao contrário, o interesse por ela tem crescido enormemente e está sendo ensinada e difundida pela mídia, em todos os níveis.
- O caso do basco (euskera) e do catalão é de outra natureza. O basco continua sendo um enigma para a lingüística. Não tem parentesco cientificamente comprovado com nenhum grupo lingüístico. É uma língua única, amada, estudada e difundida por seus falantes. Ao contrário das centenas de línguas africanas, asiáticas e ameríndias, está longe de desaparecer. Ao contrário, o interesse por ela tem crescido enormemente e está sendo ensinada e difundida pela mídia, em todos os níveis.
O catalão é uma língua de riquíssima história e magnífica literatura. Está fadado a um crescimento constante. Se a política lingüística do governo espanhol continuar democrática como está sendo atualmente, reconhecendo autonomia às províncias com língua e cultura próprias, a sorte delas estará garantida. Somente se houver ruptura do Estado e essas províncias se tornarem independentes, aí sim os seus falantes preferirão a língua materna em detrimento do espanhol.
- Está sendo proposta uma nova língua na Europa, o europanto. To speakare europanto, tu basta mixare alles wat tu know in extranges linguas. Seria a única língua do mundo que se aprende quase sem estudá-la. Teria 42% de inglês, 38% de francês, uns 15% de um misto de outras línguas européias e uns 5% de fantasia. No est englado, non est espano, no est franzo, no est keine known lingua aber du understande. Wat tu know nicht, keine worry, tu invente. Terá futuro?
- Não creio que o europanto tenha futuro. Aliás, a questão de aceitação de uma língua artificial internacional é mais política do que lingüística. Do ponto de vista puramente lingüístico, o esperanto é uma obra-prima e, no entanto, ainda não conseguiu impor-se como deveria.
- Quantas línguas já esqueceste?
- É uma boa pergunta... Já esqueci muitas, ou melhor, muitas das línguas que estudei estão bastante desativadas. Contudo, com um pouco de esforço elas poderão ser reativadas novamente. Traduzir, por exemplo, é uma das melhores maneiras de não esquecê-las. Por outro lado a idade - estou com 70 anos - é um fator negativo inexorável.
![]()
segunda-feira, novembro 15, 2004
CARLOS FREIRE (I)
Foi lançado, na última Feira do Livro de Porto Alegre, o livro Babel de Poemas, antologia de 60 poemas de 60 línguas diferentes, traduzidos pelo professor e poliglota gaúcho Carlos Freire.
Aos interessados em línguas e lingüística, reproduzo a entrevista que Freire me concedeu há uns dois anos.
--------------------
Considerado pela Universidade de Cambridge como um dos dois mil eruditos do século XXI, ele já estudou sistematicamente mais de cem línguas, das quais domina sessenta. Há mais de quarenta anos vem desenvolvendo o projeto de estudar sistemática e cientificamente duas novas línguas por ano. Uma monografia sua, Los fonemas oclusivos y africados del aymara y del georgiano, foi publicada em espanhol pela Universidade de Sucre e traduzida ao russo e ao serbo-croata. Nasceu em Dom Pedrito, RS, há setenta e um anos e estudou nos Estados Unidos, Espanha, Itália, China, na ex-Iugoslávia, na ex-Tchecolosváquia e na ex-URSS. Vive atualmente em Florianópolis.
- Onde e como surge teu interesse por línguas?
- O meu interesse pelo estudo das línguas estrangeiras surgiu cedo, quando era ainda estudante ginasiano, ao dar-me conta de que ler os clássicos estrangeiros em traduções representava uma enorme desvantagem, isto é, que somente lendo no original eu poderia usufruir do prazer estético que só o original oferece plenamente. Depois, o fascínio pelo estudo, pela descoberta, através das línguas, de outros tantos mundos, culturas e maneiras diferentes de pensar tomaram conta de mim, principalmente com as muitas viagens que realizei mais tarde. O conhecimento de muitas línguas estrangeiras deu-me a oportunidade de fazer amizades com muitas pessoas em vários lugares do mundo. O domínio de línguas estrangeiras nos fornece, talvez, a ferramenta mais eficiente para o conhecimento e a aceitação do diferente.
-Te dedicaste nos últimos anos a um empreendimento insólito em língua portuguesa e mesmo nas demais línguas, a tradução de 60 poemas de sessenta idiomas diferentes. Tens dificuldades para a publicação desse trabalho?
- Há mais de 20 anos venho fazendo traduções, tanto prosa como poesia, de muitíssimas línguas estrangeiras ao português. Primeiramente, comecei a fazer traduções de contos, principalmente, e de poemas como hobby. Ou melhor, como um desafio lingüístico para testar minha própria habilidade e conhecimento das línguas que vinha estudando sistematicamente há mais de 40 anos. Me explico... quando estudo uma determinada língua, me proponho como objetivo final chegar ao ponto de poder traduzir algo dessa língua ao português. E, se possível, conseguir comunicar-me nela oralmente. Comecei com as traduções de pequenos poemas das línguas latinas, germânicas e eslavas. Depois... as demais. Mais tarde, aconselhado por amigos, resolvi reunir todas as traduções a fim de fazer uma antologia multilingüe, na qual constasse o original vis-à-vis com a respectiva tradução ao português. E, como apêndice, pequenas notas biográficas e lingüísticas onde dou algumas informações sobre algumas línguas exóticas ou pouco conhecidas do leitor brasileiro, como georgiano, maltês, romani, papiamento, romanche, indonésio, sauíli, albanês. Etc.
Sim, tenho dificuldade de encontrar um editor. Algumas editoras (universitárias, principalmente) disseram-me que havia problemas técnicos - doze alfabetos diferentes, necessidade de criar vários sinais diacríticos e símbolos diferentes - creio porém que a razão principal foi a constatação de que semelhante edição poderia ser onerosa e com pouco retorno financeiro.
- Onde aprendeste línguas não-latinas, como chinês, russo e árabe?
- As línguas latinas e as germânicas estudei-as em Porto Alegre, na PUC. As eslavas estudei nos Estados Unidos, Itália, Iugoslávia, Tchecolosváquia e na ex-URSS. O russo eu já tinha iniciado aqui no Brasil, com emigrantes, durante a época que estava na universidade. Com o russo criei um método que considero muitíssimo eficiente. Fui morar com uma família russa para ter a possibilidade de aprendê-lo na prática, na necessidade de cada dia. A parte teórica eu estudava sozinho.
O chinês, que tinha começado aqui no Brasil, com nativos dessa língua (o mandarim) tive, mais tarde, a oportunidade de seguir um curso regular na Universidade de Madri e, depois, na Universidade do Texas. Bem mais tarde, por volta de 1985, fiz um curso intensivo na Universidade de Pequim. Estudei o árabe, principalmente, com os muitos amigos palestinos que tinha aqui no Brasil. Depois tive a oportunidade de seguir um curso teórico-prático dessa língua, também na Universidade de Madri.
Em resumo, poderia dizer que estudei umas 30 línguas em cursos regulares, oficiais ou universitários. As demais, estudei-as autodidaticamente. Alguém já disse que as dez primeiras são as mais difíceis. Depois, de acordo com o objetivo em vista ou a necessidade momentânea, a gente inventa o seu próprio método.
- Julgas ser o chinês uma língua simples. Fala.
- Sim, o chinês é muito simples, no sentido lingüístico do termo. Isto é, uma língua simples em contraste com as indo-européias, por exemplo, que são línguas complexas. Creio que esta é, justamente, a razão principal porque a sua aprendizagem se torna tão difícil para nós, ocidentais. Estamos acostumados às estruturas lingüísticas complexas, como a do português. O chinês é extremamente conciso, não tem gêneros nem números gramaticais e o verbo não se conjuga. Simples não é sinônimo de fácil e, no caso do chinês, é antônimo. As estruturas simples tornam-se difíceis, confusas, pois não sabemos como compará-las com as nossas.
- Na Bolívia, encontraste um futuro "não-aristotélico" no aimara. Conta melhor essa descoberta.
- Durante minha longa estada (dez anos) na Bolívia, onde dirigi o Centro de Estudos Brasileiros em La Paz, nomeado pelo Itamaraty, tratei logo de estudar as línguas altiplânicas, com falantes nativos. Essa experiência me foi muito valiosa, pois pouco mais tarde fui convidado a lecionar Lingüística Contrastiva na Universidade Mayor de San Andrés, em La Paz. Foi comparando as estruturas lingüísticas dessas línguas com várias outras, indo-européias ou não, que cheguei a algumas conclusões interessantes sobre as notáveis semelhanças fonéticas delas com as línguas caucásicas e das características estruturais com as línguas altaicas.
Quanto ao aimara, como demonstrou cabalmente o matemático e aimarista boliviano Guzmán de Rojas, "existe uma lógica lingüística diferente, não-aristotélica, claramente incorporada na sintaxe dessa língua".
- Durante minha longa estada (dez anos) na Bolívia, onde dirigi o Centro de Estudos Brasileiros em La Paz, nomeado pelo Itamaraty, tratei logo de estudar as línguas altiplânicas, com falantes nativos. Essa experiência me foi muito valiosa, pois pouco mais tarde fui convidado a lecionar Lingüística Contrastiva na Universidade Mayor de San Andrés, em La Paz. Foi comparando as estruturas lingüísticas dessas línguas com várias outras, indo-européias ou não, que cheguei a algumas conclusões interessantes sobre as notáveis semelhanças fonéticas delas com as línguas caucásicas e das características estruturais com as línguas altaicas.
Quanto ao aimara, como demonstrou cabalmente o matemático e aimarista boliviano Guzmán de Rojas, "existe uma lógica lingüística diferente, não-aristotélica, claramente incorporada na sintaxe dessa língua".
A comunicação deficiente, ou melhor, o desentendimento multissecular entre os indígenas e os conquistadores e seus descendentes explica-se, em grande parte, devido a sua diferente cosmovisão que, no caso dos aimaras, reflete-se nitidamente em sua sintaxe através de morfemas especiais bem definidos. Nós que falamos línguas indo-européias estamos imbuídos da concepção aristotélica, dicotômica, de verdadeiro X falso, certo X errado, sim X não, e temos certa dificuldade em aceitar ou compreender a concepção trivalente: certo-errado-verossímil, do aimara, onde a ambigüidade ou o terceiro não incluído tem valor de verdade.
A fim de tornar mais claro o tipo de lógica trivalente do aimara usarei dois exemplos da notável monografia de Guzmán de Rojas, Problemática Lógico-lingüística de la Comunicación Social en el Pueblo Aimara. Quando um falante nativo aimara, expressando-se em espanhol, diz: "- Mañana he de venir nomás", as palavras usadas não coincidem com o significado que as mesmas têm em espanhol, ou teriam em português. A expressão "nomás", muito típica do espanhol popular da Bolívia e do Peru, em situações semelhantes, revela, na verdade, o pensamento aimara maltraduzido ao espanhol. Em sua língua materna usaria a frase: "-Qharürux jutätki", onde o morfema "ki" traduz ou expressa a dúvida simétrica, o terceiro valor da verdade, o que simplesmente não existe em nossas línguas. Usa, pois, a expressão "nomás" para traduzir o sufixo "ki", indicativo apenas de verosimilhança.
Na realidade, ele quer dizer o seguinte: "amanhã pode ser que eu venha ou pode ser que eu não venha. Não estou me compromentendo". Quando diz, porém "- Mañana he de venir pues", usa o "pues" para traduzir o sufixo "pi" do aimara, que indica certeza. Assim, "- Qharüru jutätpi" é a forma aimara que corresponderia ao nosso "- Amanhã eu virei certamente, me comprometi". Vemos, portanto, que o aimara tem um futuro positivo, um futuro negativo e um futuro de dúvida simétrica. Assim que, se os nossos políticos falassem em aiamara, teriam de escolher bem o tipo de futuro a que se referem.
- Andei pesquisando sobre o Guzmán de Rojas. Não sei se sabes, mas ele criou o Qopuchawi, um ICQ que traduz instantaneamente mensagens a seis idiomas.
- Durante minha longa estada em La Paz, tive o privilégio de fazer amizade com Guzmán de Rojas e de acompanhar, de perto, o seu projeto. E sabes qual é a língua que usa como base para a tradução das restantes cinco? É o aimara, uma língua aglutinante de extraordinária regularidade sufixal.
- Tens um estudo sobre as afinidades fonológicas entre o aimara e as línguas caucásicas, publicado pela Universidade de Sucre e traduzido ao russo.
- A minha monografia se chama Los fonemas oclusivos y africados del aymara y del georgiano, publicado pela Universidade de Sucre. Pouco depois foi traduzido ao russo, pois a comparação com o georgiano sempre interessou os lingüistas soviéticos. Mais tarde, entre 1968-88, período em que exerci a função de Leitor de Língua Portuguesa na Universidade de Belgrado, esse trabalho foi traduzido ao servo-croata, pois despertara muito interesse não apenas aos lingüistas mas também a alguns antropólogos e outros profissionais que assistiram às minhas conferências. Estou convencido de que tanto o quíchua como o aimara são línguas tipologicamente altaicas. Contudo, fonologicamente se assemelham às línguas caucásicas e, particularmente, ao georgiano, a língua materna de Stalin.
- Podes nos contar como chegaste lá?
- Como cheguei lá? Por acaso... Eu estava dando uma aula de fonologia aos meus alunos de Línguas Latinas da Universidade de La Paz. Apresentei-lhes uma fita gravada numa língua desconhecida para eles (e para mim mesmo, naquela ocasião). Depois de terem ouvido o texto várias vezes no laboratório lingüístico eu lhes pedi que transcrevessem com o alfabeto fonético internacional (IPA) as palavras que tinham escutado repetidas vezes. Terminado o trabalho, verifiquei que aqueles alunos, cujas línguas maternas eram o quíchua e o aimara, acertaram mais de 80% o exercício, enquanto que os falantes nativos de outras línguas tiveram um acerto de, no máximo, 20%. A conclusão? Quem ouve pela primeira vez uma língua desconhecida e consegue identificar mais de 80% de seus fonemas é porque, quase seguramente, esses mesmos fonemas existem nas suas línguas maternas.
- Como cheguei lá? Por acaso... Eu estava dando uma aula de fonologia aos meus alunos de Línguas Latinas da Universidade de La Paz. Apresentei-lhes uma fita gravada numa língua desconhecida para eles (e para mim mesmo, naquela ocasião). Depois de terem ouvido o texto várias vezes no laboratório lingüístico eu lhes pedi que transcrevessem com o alfabeto fonético internacional (IPA) as palavras que tinham escutado repetidas vezes. Terminado o trabalho, verifiquei que aqueles alunos, cujas línguas maternas eram o quíchua e o aimara, acertaram mais de 80% o exercício, enquanto que os falantes nativos de outras línguas tiveram um acerto de, no máximo, 20%. A conclusão? Quem ouve pela primeira vez uma língua desconhecida e consegue identificar mais de 80% de seus fonemas é porque, quase seguramente, esses mesmos fonemas existem nas suas línguas maternas.
Depois disso prossegui com minhas investigações, entrei em contato com colegas da Universidade de Tbilissi, capital da Geórgia e, para minha surpresa, fui convidado a fazer pesquisas de campo in loco pela Academia de Ciências da então República Socialista da Geórgia. O meu trabalho, Los fonemas oclusivos y africados del quecha y del aymara é o resultado prático dessas pesquisas. E, de fato, o georgiano, aquela língua desconhecida das aulas de fonologia, tem notável semelhança fonológica com o aimara.
(continua)
![]()
sexta-feira, novembro 12, 2004
NA ERA LULA, CHINA É SUL
Em minha adolescência eu li, tenho certeza, um livro em dois volumes, muito mal editado, cujo título era Brasil/China: futuro eixo do mundo. Perdi o livro em minhas andanças, mas tenho certeza que o li. Não foi sonho meu. Era paranóia do autor. Pois não é que o Supremo Apedeuta acaba de ser acometido pela dita?
Ao encontrar-se com o presidente chinês Hu Jintao, no Itamaraty, disse Lula que o Brasil está dando um exemplo de como é possível se estabelecer um relacionamento Sul-Sul. "Estamos redesenhando o mapa mundial e estabelecendo uma integração de um novo paradigma para a relação Sul-Sul", afirmou.
Sem falar na capacidade estupenda de este país falido redesenhar qualquer mapa, Lula, que já mandou Napoleão à China, que apagou do mapa a fronteira da Bolívia com o Brasil, agora afirma que a China fica no Sul. Enfim, não sejamos tão rabugentos. Todo norte tem seu sul. Ao sul do norte, isto é o que queria dizer o Apedeuta. Suponho.
Sem dúvida alguma, já está redesenhando o mapa mundial.
![]()
quarta-feira, novembro 10, 2004
EFEMÉRIDE INCÔMODA
Transcorreram ontem quinze anos da queda do Muro de Berlim. Os jornais, sempre tão preocupados com efemérides, deixaram passar esta em brancas nuvens. A Folha de São Paulo, por exemplo, deu cinco colunas de meros nove centimetrinhos ao assunto, e isso porque o repórter foi subsidiado pelo Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Não fosse a mordomia, a Folha sequer lembraria o fato. O Estadão foi acometido de uma amnésia profunda: nem um pio. Pelo jeito, alguém por lá andou lendo a Folha e, um dia após a data, resolveram correr atrás do prejuízo. Apelaram a um redator americano, para tratar do assunto, Roger Boyes, do The Times. Os jornais estão preferindo reservar páginas inteiras, nestes dias, à agonia de um terrorista corrupto, Arafat, que carreou milhões de dólares de ajuda internacional à Palestina para suas contas secretas na Suíça.
Escreve-me o leitor Marco Aurélio Antunes, que não tem medo de ter memória:
Prezado Janer:
Ontem, dia 9 de novembro, lembrei os quinze anos da queda do Muro de Berlim, e a minha interpretação sobre o assunto gerou muita polêmica em grupos de debates na Internet.
Penso que a queda do Muro de Berlim foi um fato importante, que significou o fim do totalitarismo comunista. Mas há pessoas que, seguindo as teorias de Anatoliy Golitsyn, autor do livro New lies for old, afirmam que foi tudo uma farsa, uma "estratégia" para enganar o Ocidente, e que o comunismo retornaria no futuro. Acredito que a queda do comunismo aconteceu por causa da ineficiência intrínseca do sistema, incapaz de gerar riqueza, o que, aliás, já fora mostrado pelos economistas liberais austríacos na primeira metade do século XX.
Eu gostaria de saber a tua opinião sobre o significado da queda do Muro de Berlim. Vi no teu perfil do Orkut uma foto tua junto ao Muro. Eu gostaria que tu escrevesses sobre o assunto no teu blog.
Marco:
na foto me vês dando uma mãozinho, ainda que simbólica, à História. Não pude resistir. Em janeiro de 90, quando parte do muro ainda estava em pé, me muni de um martelo e fui lá quebrar meus cacos. A solidez do Muro era tal que quase rebentei os dedos para extrair quatro míseros caquinhos. A meu ver, foi a segunda data mais significativa do século, se considerarmos a Revolução de 17 como a primeira. Vários jornais europeus consideraram o fato e suas decorrências como a segunda revolução do século XX. Em nossa imprensa, perplexidade, luto, dores pungentes no fundo do coração.
Já fiz várias vezes esta experiência: perguntar a pessoas de minha idade, ou mais jovens, a universitários e jornalistas, o que ocorreu em Nove de Novembro de 1989. A data é até fácil de guardar, por ser aliterante. Ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém viu. 11/9 todos lembram. 9/11 já está enterrado nos escaninhos da memória. Ocorre que o 9/11 transformou muito mais o mundo e o século que o incidente do 11/9. Parece que professor algum, jornalista algum, percebeu a importância do fato. Ou, propositadamente, o omite a seus alunos e leitores. Não é de espantar. Imprensa e universidade brasileiras estão contaminadas até os ossos pela nostalgia do comunismo. Viúvas sofrem muito ao relembrar a morte do marido.
Golitsyn pertence à mesma estirpe destes autores que afirmam ter sido Bush quem mandou destruir as Torres Gêmeas, que avião algum foi lançado contra o Pentágono, que a viagem à Lua foi um filme feito por Kubrick. Estranhamente, sempre encontram editores sem escrúpulos, que sabem que ficção sempre vende. (Nada contra a ficção. O problema é produzir versões ficcionais da História, como se História fossem).
Em verdade, o Nove de Novembro foi elegido como data histórica por seu caráter emblemático. O mundo soviético há muito vinha desmoronando, rangendo em suas estruturas. Antes da queda do Muro, alemães do Leste e poloneses fugiam para o Ocidente, via Hungria, que tinha fronteiras mais complacentes. A antiga Iugoslávia era outra porta de entrada para a Europa rica e livre. Hungria, a ex-Tchecoeslováquia e a Polônia já migravam, pouco a pouco, para uma economia de mercado. A vida - dizia-se na Europa - é como uma viagem aos países do Leste: curta e cheia de aborrecimentos. Mas Budapeste, Praga ou Varsóvia já eram palatáveis ao viajante acostumado às liberdades da Europa de cá.
O socialismo soviético caiu de podre. O Nove de Novembro é apenas o evento mais espetaculoso do processo todo. A solidez estúpida daquele muro lhe dava uma certa aparência de eterno. Não era. O comunismo, muito menos. Em parâmetros históricos, durou o que duram as rosas. Este pensamento obsoleto, hoje, só sobrevive nas universidades brasileiras e republiquetas tipo Venezuela, Cuba ou Coréia do Norte.
Abraço, Marco.
![]()
quinta-feira, novembro 04, 2004
MEMÓRIAS DE UM EX-ESCRITOR (XXXIV)
Minha primeira inadaptação na Folha de São Paulo é que eu fora contratado como redator e, afinal, para esta função fiz o concurso. Mas detesto ser redator. É ofício muito honroso, exige alta capacitação e agilidade e tive grande apreço pelos meus colegas de redação. O problema é que não me sinto muito bem na pele de redator. O redator redige, não escreve. Revisa textos alheios, põem-nos em boa forma, titula e só. O espaço que tive na Folha para escrever era curto. Mas o problema não era este, e sim certas práticas que me faziam mal à saúde. Vou citar apenas uma.
Guerra da Iugoslávia, nos dias de independência da Croácia. Eu trabalhava na editoria de Internacional. Nosso correspondente responsável pelo Leste europeu mandava suas matérias de Berlim, que isso de cobrir guerras no front é muito arriscado. Por volta das três horas da tarde, começava a enviar seus despachos, a partir do noticiário dos jornais da manhã. Isto é, os jornais haviam sido redigidos ontem, os fatos ocorridos anteontem e o leitor brasileiro os leria amanhã, com pelo menos três dias de atraso. As agências noticiosas, mais ágeis, nos enviavam notícias fresquinhas.
A nós, redatores, cabia substituir o lead da reportagem por material mais quente. Lá pelas cinco da tarde, o despacho enviado caíra para o pé do texto. Quando o correspondente informava que os iugoslavos planejavam um ataque, nós já tínhamos os alvos destruídos e os aviões de volta às bases. A cobertura da guerra, em verdade, era feita da redação na alameda Barão de Limeira, em São Paulo. Que, de certa forma, estava mais próxima dos fatos que o correspondente na Alemanha. Muitas vezes não sobrava sequer uma linha do despacho original. O texto todo era redigido na redação. Mas a matéria saía assinada por Fernando Gabeira, "enviado especial". Que deveria sentir-se muito surpreso se lesse sua matéria publicada, falando de fatos dos quais ele, o suposto autor do texto, nunca ouvira falar.
Mais ainda: o Gabeira jamais soube onde colocar um acento. Seus textos eram uma tortura para qualquer redator, precisavam ser corrigidos palavra a palavra. Mas sua matéria assinada saía no dia seguinte, corretíssima e atualizada. Ora, estas coisas machucam. É duro para um profissional dar o melhor de si mesmo e ver seu trabalho assinado por um analfabeto. Por vezes, o correspondente assumia essa característica que, até agora, só a Deus foi conferida: a onipresença. O redator ia costurando os comunicados sobre a repercussão nas capitais de cada país e os inseria no corpo da notícia. O efeito era no mínimo curioso: o correspondente estava não só no campo de batalha, mas ao mesmo tempo em Washington, Paris, Londres e Moscou.
Já nos primeiros meses de redação, comecei a vomitar. Todos os dias. Não era exatamente vômito, eram arcadas de vômito sem vômito algum. Sempre pela manhã, lá pelas dez ou onze, quando começa a preparar-me para enfrentar a redação. As arcadas eram tão violentas, que cheguei a pensar, quando ocorreram pela primeira vez, em edema de glote. Consultei médicos, alergologistas e clínicos gerais, e nada feito. Após um ano e meio de trabalho, tirei férias e fui para Paris. Passou tudo. A cura era então Paris? Podia ser, mas saía muito cara. Na volta, estava demitido. Não tive arcadas. Aí fui trabalhar no Estadão. Trabalhei quase um ano, sem problema algum. Voltei então para a Folha. As arcadas recomeçaram na hora. Passei lá acho que quase um ano mais, agüentando como podia as náuseas. Até que não deu mais.
Aconteceu em função do Chile. Deram-me um artigo de Clóvis Rossi para pôr na medida. Segundo o articulista, a prosperidade do Chile era obra do Patrício Aylwin. Fiz minha tarefa e saí da Folha acometido pelas arcadas de vômito. Desta vez, pra valer. Jamais tive carro e sempre voltava a pé para casa. Às duas da madrugada, eu estava me segurando a um poste da avenida São João para não cair, tentando controlar minhas convulsões. Não dava pra continuar mais na Folha. Consultei minha mulher e decidi por pedir demissão. No dia seguinte, não vomitava mais.
Tentando analisar estas minhas reações físicas ao jornal, concluí que a obrigação de redigir textos que me indignavam, a impotência ante esta obrigação, o fato de sentir que eu aperfeiçoava textos que seriam assinados por um outro, tudo isto me levava à náusea. Prova disto é que as arcadas cessaram - pela segunda vez - tão logo me afastei da Folha. É claro que se minha condição não fosse a de redator, mas de articulista que escreve o que bem entende e assina embaixo, eu não reagiria assim. Ocorre que articulista de grande jornal não escreve exatamente o que bem entende. Ou ele tem intuição suficiente para seguir a linha do jornal, ou acaba dançando.
Ou seja, a censura é muito sutil. Em todo caso, vivi um episódio interessante. Foi em 93. A União Soviética, seguindo a insuspeita previsão de Marx, tomara os rumos anunciados no Manifesto: tudo que é sólido se desmancha no ar. Das agências, recebemos em fim de tarde uma charge de alguma revista internacional: em Moscou, uma velhota russa, com uma cesta vazia no braço, procurava abastecer-se no mercado. No balcão de pães, não havia pães, apenas bombas atômicas em formato de pães. Dei vazão a toda minha verve. Titulei com gosto:
O PÃO QUE MARX AMASSOU
Não é todo o dia que a musa desce num fechamento de jornal. Me pareceu ter ganho com garra meu pão naquele dia. No entanto, estávamos no deadline e o caderno não fora fechado. No computador ao lado, o editor suava a cântaros e gemia como em trabalhos de parto. Pousei em seus ombros como um papagaio e notei que tentava um novo título. Mas o meu não está ótimo? - quis saber. Me olhou indignado. Os minutos corriam e o novo título não dava os ares da graça. Desesperado, o editor retomou o antigo e substituiu uma palavra:
O PÃO QUE STALIN AMASSOU
Assim não vale, protestei. Xingar o Stalin é chutar cachorro morto. Entre nós, só o Niemeyer e o Prestes ainda o cultuavam. Que mais não fosse, não tinha aquele efeito aliterativo, Marx amassou. O Velho, não! - insistia o editor. Para não atrasar o fechamento, optou pela média:
O PÃO QUE LÊNIN AMASSOU
O jornal quase atrasou. Mas o Velho foi salvo.
![]()
segunda-feira, novembro 01, 2004
PANGLOSS NO VATICANO
O papa João Paulo II afirmou recentemente, em Memória e Identidade, livro que acaba de lançar, que o comunismo pode ter sido "um mal necessário" do século XX. A obra é baseada em conversas particulares que o papa teve com dois filósofos poloneses no verão de 1993, quatro anos após a queda do comunismo na Europa oriental. Sua Santidade é um homem de extraordinária coragem intelectual. Lembra-nos Pangloss, o personagem de Voltaire, para quem tudo vai bem no melhor dos mundos.
Segundo Le Livre Noir du Communisme, de Stéphane Courtois et allia, no século passado o comunismo produziu nada menos que cem milhões de cadáveres. Isso em período não de cem anos, mas de sete décadas. As 846 páginas do livro tornam o relato cansativo. Basta, a meu ver, o resumo: URSS - 20 milhões de mortos; China - 65 milhões; Vietnã - 1 milhão; Coréia do Norte - 2 milhões; Cambodja - 2 milhões; Europa do Leste - 1 milhão; América Latina - 150 mil; África - 1,7 milhão Afeganistão - 1,5 milhão; movimento comunista internacional e PCs fora do poder - uma dezena de milhar de mortos.
Enfim, para um vice-deus, cem milhões de mortes não deve ser algo alarmante em um planeta que conta com seis bilhões de habitantes. No Gênesis, o desastre foi proporcionalmente maior. Morreu todo ser vivente, menos Noé, os seus e os animais de sua arca. Não foi nem genocídio. Foi pancídio, se é que a palavra existe. (Se não existe, eu a crio). Sem falar na hecatombe ecológica. Embora a Bíblia seja omissa sobre o assunto, é de supor-se que os peixes e demais seres marinhos tenham escapado da ira de Jeová. Para quem aceita sem restrições a fúria divina manifesta no dilúvio, cem milhões é café pequeno. É o que diria Pangloss.
Quando a Polônia e outros países do Leste Europeu caíram sob o domínio soviético, após a Segunda Guerra Mundial, considerou Sua Santidade: "Ficou claro para mim, de repente, que o comunismo duraria muito mais tempo do que durara o nazismo. Quanto tempo? Era difícil prever. O que éramos levados a crer era que esse mal era, em algum sentido, necessário para o mundo e para a humanidade. De fato, pode acontecer que, sob determinadas situações concretas da existência humana, o mal revele ser de alguma maneira útil - útil na medida em que cria oportunidades para o bem".
Há males que vêm para o bem, é o que quer nos dizer Sua Santidade. O mesmo não diriam poloneses, tcheco-eslovacos, húngaros e alemães orientais. Mas, se Paris vale uma missa, como disse Henrique de Navarra ao converter-se ao catolicismo, o triunfo da idéias democráticas vale bem toneladas de defuntos. Neste sentido, podemos concluir que o nazismo foi um mal providencial. Não fosse Hitler, não seria criado o Estado de Israel e os coitados dos hebreus viveriam em eterna diáspora, cumprindo a sina de Ahasverus, "o mísero Judeu, que tinha escrito na fronte o selo atroz", como escreve Castro Alves.
Misérrimo! Correu o mundo inteiro,
E no mundo tão grande... o forasteiro
Não teve onde... pousar.
Co'a mão vazia - viu a terra cheia.
O deserto negou-lhe - o grão de areia,
A gota d'água - rejeitou-lhe o mar.
A Inquisição, então, foi mal necessaríssimo, segundo a ótica papal. Construiu a Res Publica Christiana, hoje chamada Europa, e consolidou o poder vaticano, emblema contemporâneo dos maiores faustos do mundo. Certo dia, em Toledo, quis visitar o Museu da Inquisição, na época lá instalado. Perguntei a uma toledana onde ficava, ela de bate-pronto me retrucou: por que o senhor não vai visitar nossa catedral? Ela é belíssima. A catedral eu já havia visitado, sua arquitetura majestosa sempre me faz chorar. Mas o que eu queria ver, daquela vez, eram os instrumentos que haviam possibilitado a ereção da catedral. A vontade é de vomitar. Difícil conceber o talento do humano engenho quando se trata de fazer o próximo sofrer. Mas, enfim, há males que vêm para o bem. Turista algum se comoveria hoje até as lágrimas, visitando aquele templo imponente, não fossem as torturas horrendas pelas quais passaram os homens da época que o erigiram.
Mas mal dos bons, mal divino mesmo , foi a ditadura de 64. Pelo menos para suas supostas vítimas. Em país algum do mundo os derrotados da História foram tão bem agraciados. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça divulgou ontem mais uma lista de pessoas com direito a receber indenizações pelo período em que foram perseguidos pela ditadura militar. Para esse grupo de 76 pessoas que tiveram os resultados dos processos divulgados no Diário Oficial, a União vai pagar R$ 47,7 milhões.
O imortal Carlos Heitor Cony, por exemplo, em processo anterior, passou a ganhar a bagatela de 19 mil reais mensais pelos desserviços prestados ao país. É quantia para estimular a auto-estima não só de imortais, mas de qualquer mísero mortal. Os pedidos de indenização dos militantes, por terem sido impedidos de levar o país à tirania e à miséria, já são 43 mil. Estima-se que essas indenizações possam chegar a quatro bilhões de reais. Mais ainda: os contemplados pela generosidade estatal estão isentos do imposto de renda e contribuições à Previdência. Tais ônus são encargo de quem trabalha e sustenta estes marajás.
Entre os novos agraciados está o jornalista Hélio Fernandes, diretor do jornal Tribuna da Imprensa, que vai receber R$ 1,4 milhão como indenização, além de uma pensão de R$ 14,7 mil mensais como reparação econômica pelo período em que foi impedido de exercer a profissão. Isso sem falar no presidente da República, que se aposentou aos 42. Lula, que obteve a graça divina de passar trinta anos sem trabalhar, teve aposentadoria especial para anistiado político ? sem nunca ter sido anistiado, afinal nunca foi condenado. Concedida em 1996 e requerida um ano antes, o benefício, que hoje totaliza R$ 3.862,57, está devidamente isento do pagamento de imposto de renda. Há males que vêm muito, mas muito mesmo, para o bem. Mais do que Sua Santidade imagina. 1964 foi uma benção para os comunistas e compagnons de route tupiniquins.
Mas há bençãos e bençãos. Uma delas foi decorrente da vitória do PT nas últimas eleições presidenciais. Não fosse esta vitória, que hoje a todos enoja, o PT não teria ontem sido derrotado em capitais-chave como São Paulo e Porto Alegre. Deus não joga, mas em seus momentos de ócio fiscaliza.
Mas há bençãos e bençãos. Uma delas foi decorrente da vitória do PT nas últimas eleições presidenciais. Não fosse esta vitória, que hoje a todos enoja, o PT não teria ontem sido derrotado em capitais-chave como São Paulo e Porto Alegre. Deus não joga, mas em seus momentos de ócio fiscaliza.
![]()
