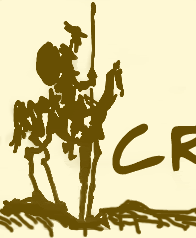


¡Ay de aquel que navega, el cielo oscuro, por mar no usado
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
y peligrosa vía, adonde norte o puerto no se ofrece!
Don Quijote, cap. XXXIV
Email
janercr@terra.com.br
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
janercr@terra.com.br
Tiragem

Janer Cristaldo escreve no
Jornaleco
Brazzil
Baguete
Crônicas Anteriores
Ebooks Brasil Arquivos
outubro 2003
dezembro 2003
janeiro 2004
fevereiro 2004
março 2004
abril 2004
maio 2004
junho 2004
julho 2004
agosto 2004
setembro 2004
outubro 2004
novembro 2004
dezembro 2004
janeiro 2005
fevereiro 2005
março 2005
abril 2005
maio 2005
junho 2005
julho 2005
agosto 2005
setembro 2005
outubro 2005
novembro 2005
dezembro 2005
janeiro 2006
fevereiro 2006
março 2006
abril 2006
maio 2006
junho 2006
julho 2006
agosto 2006
setembro 2006
outubro 2006
novembro 2006
dezembro 2006
janeiro 2007
fevereiro 2007
março 2007
abril 2007
maio 2007
junho 2007
julho 2007
agosto 2007
setembro 2007
outubro 2007
novembro 2007
dezembro 2007
janeiro 2008
fevereiro 2008
março 2008
abril 2008
maio 2008
junho 2008
julho 2008
agosto 2008
setembro 2008
outubro 2008
novembro 2008
dezembro 2008
janeiro 2009
fevereiro 2009
março 2009
abril 2009
maio 2009
junho 2009
julho 2009
agosto 2009
setembro 2009
outubro 2009
novembro 2009
dezembro 2009
janeiro 2010
fevereiro 2010
março 2010
abril 2010
maio 2010
junho 2010
julho 2010
agosto 2010
setembro 2010
outubro 2010
novembro 2010
dezembro 2010
janeiro 2011
fevereiro 2011
março 2011
abril 2011
maio 2011
junho 2011
julho 2011
agosto 2011
setembro 2011
outubro 2011
novembro 2011
dezembro 2011
janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012
janeiro 2013
fevereiro 2013
março 2013
abril 2013
maio 2013
junho 2013
julho 2013
agosto 2013
setembro 2013
outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013
janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
novembro 2014
segunda-feira, outubro 31, 2011
GORBACHOV MAS NÃO MOLHA
Maxim Gorki, o luxuoso transatlântico soviético, chocou-se com um iceberg a 300 quilômetros a oeste do arquipélago norueguês de Spitzbergen, no mar de Barents, é o que informam, para meu desconforto, as agências internacionais. Para meu desconforto porque há pouco escrevi crônica sobre a penúria endêmica — Nomenklatura à parte — do regime soviético. As manchetes da imprensa internacional constituíam um cabal desmentido às minhas calúnias imperialistas, particularmente nesta era gorbachoviana. Mergulhei com avidez na notícia, vai ver que só os membros da Nomenklatura faziam turismo pelo Ártico, com o que minha reputação estaria salva.
Acontece que na insensata nau não navegavam nem mesmo as elites soviéticas. Noves fora a tripulação, no Maxim Gorki viajavam nada menos que 551 alemães, em sua maioria idosos, e 16 passageiros de outras nacionalidades. Alemães ocidentais, bem entendido, já que os orientais, se a este luxo quisessem dar-se, teriam primeiro de vencer um muro protegido por cães, soldados com metralhadoras, arame farpado e terrenos minados. Sem falar, é claro, que o orgulho da marinha soviética jamais levaria a bordo cidadãos munidos de marcos da RDA, tão ou mais desmoralizados que nosso cruzado-louvado-seja-Machado.
Falar nisso, outro dia uma pesquisa feita em Porto Alegre escandalizava literatos, pois jovens diziam achar Machado um chato.
Escândalo que constitui um duplo equívoco. Em primeiro lugar, Machado não é leitura para adolescentes. Em segundo, é um chato mesmo e a única coisa que me alegra em nossa inflação galopante é que, dentro em breve, sua efígie de medalhão deixará definitivamente de passar por minhas mãos. Mas falava do muro. Ou melhor, do Maxim Gorki, orgulho da frota soviética. Depois volto a Berlim.
Coisas da perestroika. Gorbachov mas não molha. Em uma ditadura socialista que proíbe seus cidadãos de dela sair, seus dirigentes põem a menina dos olhos de sua marinha a serviço de macróbios capitalistas. Marx deve estar se revirando na cova. Mas o que mais me surpreendeu no fato, é que Fernão de Magalhães, cinco séculos atrás, sem radar algum e com um grumete sonolento medindo a velocidade com uma ampulheta, havia atravessado o perigoso estreito que hoje leva seu nome, sem trombar com icebergs. Titanic, vá lá! Mas em pleno século XX, atropelar um iceberg distraído, é dose. A tripulação deve estar bêbada, pensei com minhas pedrinhas de gelo. Dia seguinte, nos jornais, não deu outra: 70 por cento da tripulação estava mais para lá do que pra cá. Enquanto esta moderna versão proletária do bateau ivre rimbaudiano continua encalhada nas neves do Ártico, volto com meus macróbios a Berlim.
Nasci em Santana do Livramento e não é por acaso que, em Ponche Verde, tenho um personagem santanense que perambula pelas ruas de Berlim. Em Livramento, pode-se almoçar em um país e tomar a sobremesa em outro, bastando para isso atravessar a rua. Poucos gaúchos — já nem falo de brasileiros — terão se dado conta da importância simbólica desta fronteira sempre aberta. Se um dia não for possível almoçar em Rivera e tomar o cafezinho em Livramento, ou vice-versa, algo de muito grave e triste terá ocorrido na América Latina. O muro de Berlim pode chocar qualquer homem livre, nascido em país onde seus cidadãos são livres. Mas choca ainda mais um santanense. Escrevia, em crônica passada, que toda e qualquer discussão sobre as utopias deveria ser antecedida, entre outras coisas, pela derrubada do muro. Gorbachov, sensível a este anseio de todo homem livre, afirma na mesma semana: “O muro não é eterno”.
Assim não fosse. Pois o muro, mais do que triste símbolo da barbárie contemporânea, é a sustentação armada das tiranias do Leste europeu. Jamais existiram duas Alemanhas. Jamais existiu uma Alemanha Oriental. Como escrevia há pouco Gilles Lapouge, há uma Hungria eterna, há uma Polônia eterna. Mas não há uma Alemanha Oriental eterna. Privada do alicerce comunista, ela afundaria.” A derrubada do Muro seria a morte da Alemanha Oriental e a emergência de uma nova potência na Europa, que reduziria França e Inglaterra a economias de segunda linha. De onde decorre que, ao lado das ditaduras de Cuba e da Romênia, a RDA é hostil a todo e qualquer aceno liberalizante de Gorbachov.
A propósito, na semana passada, o presidente da Alemanha Oriental apoiava publicamente o massacre da Praça da Paz Celestial. Entschuldigung Sie, bitte, perestroitchiski tovaritch Gorbachov, mas não será tão cedo, infelizmente, que os berlinenses gozarão da singela liberdade dos santanenses e riverenses, aos quais basta atravessar uma rua para abraçar um amigo ou tomar um café em outro país.
Mas falava do bêbado barco soviético abalroando inocentes icebergs em Spitzbergen. Tais cruzeiros, hoje em dia, são geralmente comprados por clientes em fim de vida, detentores de fortuna e ócio suficiente para tais luxos. Outro dia, ancorou cá na ilha, ao largo de Jurerê, o Ocean Princess, que fazia cruzeiro semelhante. Em um botequim de praia, encontrei uma jovem alemã que, ao descer do barco, fez com que a média de idade dos passageiros subisse mais que o dólar na Argentina nestes dias de Menem. É possível que no imaginário de algum cronista social, tais cruzeiros evoquem volúpias de palácios orientais. Mas bem outra é a realidade. Tais naus mais parecem um asilo flutuante repleto de argentários caquéticos.
E não seria eu a negar-lhes razão. Por que não morrer no mar? Em todo o caso, o Ocean Princess era um barco coerente. Içava bandeira capitalista e transportava autênticos milionários oriundos dos States. Já o Maxim Gorki, a meu ver, naufragou em suas dialéticas contradições, só solúveis no álcool. Tais navios carregam em seus porões um certo número de caixões, correspondentes, em geral, a um quinto do total de passageiros. Caixões de defunto, bem entendido, pois presume-se que vinte por cento dos turistas voltem ao lar de pés juntos, isso se seus cadáveres não forem jogados ao mar.
Na Inglaterra, tive a ocasião de assistir a uma cena tétrica. O Eugenio Costa atracara em Southampton, para apanhar quatrocentos membros do clube Saga. Até aí, nada demais. Acontece que o tal de clube só aceitava sócios com mais 65 anos. Como eu estava na ponte mais alta do barco, tive o privilégio — ou talvez o horror — de ver as quatrocentas velhinhas, ao som de uma banda, entrando pela proa, ao mesmo tempo que oitenta esquifes eram embarcados pela popa. Ocorreu-me então a atroz imagem de um café da manhã no decorrer do cruzeiro, os comensais olhando em torno e contando as baixas, tentando descobrir quem ou quantos haviam morrido na noite, reformulando mesas e fazendo novas amizades, mas... enfim, por que não confraternizar no naufrágio?
Mas, ao que tudo indica, não era chegada a hora dos turistas terminais do Gorki. Após tiritar algumas horas, foram recambiados ao aconchego de Berlim ocidental onde, pela primeira vez, desde que o muro é muro, um dirigente soviético ousou afirmar: o muro não é eterno. Mal Gorbachov acena com uma tênue esperança, um pouco mais ao sul, Nicolau Ceaucescu, o ditador romeno, começa a erguer uma cerca de arame farpado, ao longo dos 400 quilômetros de fronteira com a Hungria.
Mesmo pertencendo ao bloco socialista — não por vontade própria, é claro — a Hungria, por ter aderido a uma economia de mercado, é hoje certamente o país menos pobre do Leste europeu. Como na Romênia, há mais de década, a população vive com fome, os camponeses da Transilvânia começaram a dar no pé rumo à casa do primo rico. A pauperização crescente dos países socialistas, decorrente dos dogmas econômicos do marxismo, começa a gerar novos muros entre países irmãos, como diria o Joãozinho.
Ou talvez nem se chamasse Joãozinho. A piada, eu a ouvi na Iugoslávia. Em meio a uma aula, a professora pergunta ao Joãozinho lá deles quais são os países amigos da Iugoslávia. Joãozinho vai citando os que conhece, Romênia, Bulgária, Hungria... A professora quer o nome de outros países amigos. Joãozinho puxa pela memória: Polônia, Checoslováquia... Mais um, meu filho, pede a professora. Joãozinho consegue lembrar: a República Democrática Alemã. Mas não é ainda o que a professora quer ouvir.
— E a União Soviética, Joãozinho, não é um país amigo?
— De jeito nenhum, professora. A União Soviética é um país irmão.
— E qual é a diferença, Joãozinho?
— É que amigo a gente escolhe. Irmão é uma fatalidade.
Joinville, A Notícia, 02.07.89
![]()
domingo, outubro 30, 2011
AOS NOVOS INQUISIDORES
Cristo decide voltar à terra, mostrar-se a seu povo sofredor e miserável e para isso escolhe Sevilha, em pleno século XVI, quando mais intensamente crepitavam as fogueiras acendidas ad majorem Dei gloriam. No dia anterior, o cardeal Grande Inquisidor havia feito queimar uma centena de hereges. Cristo surge discretamente, sem se fazer notar, mas todos o reconhecem. Ressuscita uma menina e o cardeal manda prendê-lo nos porões do Santo Ofício. À noite, vai visitá-lo.
— És Tu? Tu?
Face ao silêncio do Cristo, ajunta:
— Não diz nada, cala a boca. Por que vieste nos atrapalhar?
Assim vê Dostoievski o Cristo. No livro V de Os Irmãos Karamazov, o genial e histérico místico russo, católico ortodoxo e sempre hostil à igreja de Roma, desenvolve o eterno paradoxo do cristianismo, a oposição entre um Cristo humilde e pobre e uma igreja rica e arrogante. O Grande Inquisidor, considerando os homens excessivamente débeis e mesquinhos para viver segundo os mandamentos de Jesus, decidira corrigir sua obra: a fé na liberdade e no amor é substituída pelo poder, pelo milagre e pela autoridade.
— Não há nada mais sedutor para o homem do que o livre arbítrio — acusa o cardeal — mas também nada mais doloroso. Tu ampliaste a liberdade humana em vez de confiscá-la e assim impuseste para sempre ao ser moral os tormentos desta liberdade.
O inquisidor vai longe em seus considerandos e Dostoievski é à prova de síntese. Transcrevo apenas as palavras finais do cardeal:
— Amanhã, a um sinal meu, tu verás essa tropa dócil trazer carvões ardentes para a fogueira onde subirás, por ter vindo atrapalhar nossa obra. Pois se alguém mereceu mais que todos a fogueira, foste tu. Amanhã, eu te queimarei. Dixi.
Voltarei em breve, diz Cristo ao final do Apocalipse. Se ainda não voltou, totalitário e triunfante como o quer João, tem seguidamente reaparecido nas artes e particularmente na literatura, sempre provocando em crentes e sacerdotes a mesma inquietação manifestada pelo Inquisidor: por que vieste nos atrapalhar?
E sempre que volta, atrapalha. Perturba até mesmo a vida dos que mais o veneram. Nietzsche, por exemplo, não saiu ileso de seu corpo-a-corpo com ele: em seus dias de insânia, assinava-se “O Anticristo”. Ernest Renan, outra das maiores sensibilidades do mesmo século de Nietzsche, tampouco escapou a seu charme. Vida de Jesus, qualificado como um dos grandes acontecimentos do século passado, é um poema em torno ao Cristo, travestido em ensaio histórico. Para escrevê-lo, Renan preparou-se estudando línguas semíticas e refazendo o percurso do biografado na Galiléia e Palestina. Em 1862, ao assumir uma cátedra no Collège de France, teve de interromper seu curso por ordem do governo: em sua primeira aula, ousara falar de Jesus como “um homem incomparável”.
Giovanni Papini, outro apaixonado pelo nazareno, escreveu uma História de Cristo e nem por isso escapou ao Index Prohibitorum. E hoje em dia, tanto Dostoievski como Nietzsche, tanto Renan como Papini, são anatematizados pelos inquisidores, grandes ou pequenos, de qualquer igreja.
Qualquer dia destes, até Hegel cai em desgraça, pois na juventude escreveu — o que muito marxista ignora — uma Vida de Jesus, onde o sentido espiritual da revelação cristã e mesmo o drama da vida, morte e ressurreição do cristo estão explicados através da doutrina ético-religiosa de Kant.
Martin Scorsese, cineasta americano, está sendo vítima de insultos e interdições no mundo todo, por ter levado às telas o romance A Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis. Curiosamente, o livro foi recentemente traduzido ao brasileiro, está em todas as livrarias e, pelo que me consta, os novos inquisidores, cientes de que seus seguidores são mais ou menos analfabetos, pouco estão ligando para a difusão literária da obra. Cinema já é mais perigoso, pode gerar idéias no mais inculto dos espectadores. Perigoso a tal ponto que um distribuidor catarinense, em crise de atroz provincianismo, proibiu o filme em suas salas. Freira de dia, puta à noite, tudo bem, tais obras-primas parecem não ofender credo algum. Já uma madura reflexão, oriunda sensibilidade de um criador fascinado pelo Cristo, esta merece a fogueira.
Pois uma grande injustiça está sendo cometida em relação à Kazantzakis e sua obra. Para começar, duvido que a literatura deste século tenha produzido autor tão febrilmente religioso como este cretense, que já conhecíamos através de Zorba, o Grego. Ou será ateu e herege quem escreveu “Três espécies de alma, três preces”?
a Eu sou um arco em tuas mãos, Senhor; tende-me, senão apodreço.
b Não me tende muito, Senhor; eu quebrarei.
c Tende-me quanto quiseres, Senhor, e tanto pior se eu quebrar.
Poeta, tradutor, místico e viajante, Kazantzakis percorreu o mundo em busca de fé e encontrou nessas andanças quatro degraus decisivos para sua ascensão: Cristo, Buda, Lênin e Ulisses. Como funcionário do Ministério de Assuntos Sociais de seu país, salvou da fome, na Rússia, 150 mil gregos expulsos da Ásia Menor, no final da II Guerra. Os cardeais e inquisidores menores que têm condenado o filme de Scorsese certamente não ignoram tais fatos e, caso os ignorem, deveriam procurar conhecê-los antes de abrir a boca para dizer bobagens.
Mas o fascínio de Kazantzakis pelo Cristo não se esgota em A Última Tentação. Em Cristo de Novo Crucificado, um dos momentos culminantes da novelística contemporânea — também já traduzido e disponível em qualquer livraria — o cretense volta à carga e desta vez com artilharia de grosso calibre. A ação se desenrola em Licovrisi, aldeia grega encravada em território turco. Seus habitantes seguem a religião grega ortodoxa e têm por hábito, a cada sete anos, representar o drama da paixão. Os atores são escolhidos e cabe a um pastor de olhos azuis e barba curta e loura, Manolios, representar o Cristo. A partir da escolha, os atores devem imbuir-se de seus papéis, procurando identificar-se, na vida cotidiana, com os personagens interpretados.
É quando acontece o imprevisível: um grupo de gregos, perseguidos pelos turcos, pede abrigo em Licovrisi. Os aldeões, liderados pelo pope Grigoris, o organizador da Paixão, recusam-se a recebê-los. O final, este sim, é previsível. Manolios e seus companheiros, os que deviam representar os apóstolos, imbuídos do espírito evangélico, advogam pelos gregos. A paixão se consuma, só que desta vez não é teatro. Manolios é assassinado na igreja, por instigação do pope, pelo aldeão que fazia o papel de Judas.
Estamos em pleno Dostoievski, novamente. Os que se dizem seguidores do Cristo não hesitam em crucificá-lo quando volta. Não terá sido por acaso que, ao perguntar a um sacerdote grego o que pensava de seu conterrâneo de Creta, obtive resposta curta e grossa: “louco, doido varrido”.
Quanto a mim, se por um lado abomino a santa ira dos moralistas de cueca que hostilizam o filme de Scorsese, por outro não partilho do enamoramento de Renan ou Kazantzakis. Vejo o Cristo como um iluminado, como tantos outros que brotavam às margens do Jordão como cogumelos após a chuva. Sua doutrina, é verdade, rejeita o ódio imanente ao Antigo Testamento, mas pouco ou nada tem de original. Para o leitor atento, os evangelhos já estão todos embutidos nos textos judaicos. E como homem — já que só assim posso vê-lo — Cristo desaparece se comparado, por exemplo, a um Sócrates, Platão, Aristóteles ou Alexandre.
Há um certo zelotismo, diga-se de passagem, na impermeabilidade de Cristo à cultura grega e em seu recurso exclusivo à cultura judia. Paulo, que desde menino falava grego, a língua comum de Tarso, é quem efetivamente inventa o cristianismo a partir de fontes helênicas, mesclando conceitos do gnosticismo e das religiões de mistério, particularmente do culto de Átis.
Sócrates, por exemplo. Guerreiro e pensador, ousou contestar os deuses de Atenas e, uma vez condenado à morte, acusado de introduzir novas divindades e corromper a juventude, não pediu a seus juizes clemência, como era praxe pedir. Nem quis fugir, como poderias ter feito. No momento de contrapor à pena imposta pelos juizes a pena que julgava merecer, Sócrates ri dos que o condenam ao declarar que merecia não uma punição, mas um prêmio, por seus serviços prestados à Atenas. Morreu por não querer humilhar-se e bebeu serenamente a cicuta, rodeado de amigos e discípulos. Quando vemos um Cristo lamuriento, balbuciando Eli, Eli, lama sabachtani?, aceitando sem revolta alguma a crucificação, salta-nos aos olhos a superior fibra moral do ateniense.
Ou um Alexandre, que desbravou a pata de cavalo e a ponta de espada a Ásia Menor, fundando cidades por onde passava e criando a primeira universidade da História, a Biblioteca de Alexandria, isso três séculos antes de Cristo. Rei, ao entrar em combate ia sempre à frente de seus comandados. Quase perdeu a vida quando, impaciente ante o vagar com que seus homens tomavam uma fortaleza, apanhou uma escada e nela penetrou sozinho, para perplexidade dos inimigos, que não sabiam se enfrentavam um louco ou um deus. Quando os sacerdotes do Sinédrio perguntam a Cristo se é lícito ou não pagar tributos a César, Cristo tenta fugir: “Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. Mas tarde piou.
Decididamente, se busco homens a cultuar, antes e depois de Cristo, a história nos oferece centenas de nomes ornados pela decisão, coragem e feitos e não pela indefinição, covardia e palavras dúbias. As visões de Dostoievski, Renan ou Kazantzakis, ainda que respeitáveis, a meu ver são românticas. Apenas acho que os novos inquisidores, que se presumem defensores da civilização cristã, deveriam examinar carinhosamente — e não condenar sem ler — as obras destes escritores fascinados pelo Cristo.
Joinville, A Notícia, 18.12.88
![]()
sábado, outubro 29, 2011
SOB AS SAIAS DO VATICANO
Florianópolis — Quando comecei a escrever estas linhas, Ceaucescu estava cai não cai. Na segunda lauda, já havia caído e tive de reformular a crônica. E antes que me ocorresse qualquer reflexão sobre as novas notícias, já fora fuzilado. A libertação da Polônia exigiu dez anos de luta. A libertação da Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoeslováquia e Bulgária, coisa de cem dias. A da Romênia, dez horas.
Na América Central, Noriega não dirige mais sua base de narcotráfico e Castro que se cuide. Decano dos ditadores contemporâneos, tem seus dias contados e sabe disso. Basta Gorbachov cortar-lhe os dólares e boa-noite! Claro que qualquer desejo de liberdade custará aos cubanos um alto preço em sangue, como está custando aos romenos. Caindo Castro, a Nicarágua perde seu apoio logístico. Caindo Ortega, os meninos mimados — e irados — da classe média brasileira não terão mais onde treinar guerrilha na América Latina. Resta um pós-grad na Líbia, é claro. Mas no deserto impera o islamismo e Alá não gosta de cerveja.
O ano que passou foi de muitas lágrimas, muitas de dor e muitas mais de alegria. Choraram alemães de contentamento e chineses de perplexidade. Romênia à parte, libertação sem sangue no Leste europeu e retrocesso sangrento na China Comunista. Neste macabro balanço, ousaria afirmar que o saldo foi positivo. Resta agora a Albânia como última vergonha dos Balcãs e Cuba e Nicarágua como últimas vergonhas da América Central. Restam outras vergonhas mundo afora, é verdade, mas voltemos à Romênia.
Foi um dos raros países onde antes de entrar já senti medo. Em Paris, embarquei em um Tupolev caindo aos pedaços, tipo aquele nos quais o Tio Patinhas envia o sobrinho Donald para alguma missão longínqua. Coincidiu que o espaldar de meu assento não se mantinha na vertical, caindo sobre os joelhos do passageiro de trás. Em suma, decolei sem o cinto de segurança, pois tive de utilizá-lo para firmar o assento. Durante cinco horas de vôo, escuridão absoluta no avião e reiterados avisos de não usar máquinas fotográficas. Como se, nesta época em que satélites conseguem fotografar uma página de jornal, a maquineta de um turista voando em meio à escuridão pudesse revelar algum segredo militar às potências inimigas.
Mais caquéticas que o avião, só mesmo minhas companheiras de viagem, uma excursão de múmias com esperanças de recauchutar-se nas clínicas de Ana Aslan. A média de idade de meus parceiros de vôo estaria em torno dos 80 anos e isso que eu — e apenas eu — tinha menos de quarenta na época. No que não vai nenhuma derrisão.
Aterrissamos em Bucareste, no meio da noite. Dezenas de soldados, metralhadoras em punho e baionetas caladas, formavam um corredor polonês para recepcionar os perigosos estrangeiros que, diga-se de passagem, mal podiam manter-se em pé por si sós. Isto aconteceu há dez anos, quando, aparentemente, tudo era paz no país. Digo aparentemente porque outros indícios me fizeram intuir que a paz romena trazia em si um ódio embutido.
Em Mangália, cidade turística às margens do Mar Negro, passei duas semanas em “hotel de luxo”, e não é por acaso que o ponho entre aspas. No “hotel de luxo” da cidade turística, vivi quase no limiar da fome, e isso que pagava em dólares. Tentei então imaginar como viveria e comeria um romeno. Não necessitei de muito esforço. Em um supermercado de prateleiras vazias chegou um pedaço de carne. Os nativos disputavam a tapas um naco, e isso que disputavam aqueles que tinham condições de pagá-lo.
Nas ruas, mal um romeno me abordava, logo surgia atrás dele um anjo da guarda equipado com aquelas sinistras metralhadoras com baioneta calada, e ainda apoiado por um cão policial. O transeunte anônimo que ousara falar com o estrangeiro tinha de identificar-se e se expunha a conseqüências que desconheço. Diz-se que o turista tem sempre uma visão superficial da própria viagem. É verdade. Mas quando chegamos em um país com baionetas nos espetando a barriga em tempos de paz, e a polícia identificando qualquer nacional que ouse abordar um estrangeiro, não precisamos de maiores intuições para saber em que tipo de regime estamos. Quando o turista, com dólares e de passagem, tem tratamento de suspeito, já podemos ter uma idéia do que sofre o cidadão comum.
Na Romênia, vi miséria, corrupção, opressão, medo. Principalmente medo. Pessoas com medo de falar e, se falavam, falavam baixinho. Este clima de medo chegou a contaminar-me. Escrevera alguns postais para a França e Brasil, contando o que havia visto por lá. Na hora de postá-los, hesitei. Com tamanha vigilância, sei lá o que poderia acontecer. Preferi deixá-los para o dia do embarque. Quando a Securitate — a polícia política de Ceaucescu — os tivesse traduzido, eu já estaria voando.
Contei estas e outras coisas ao voltar, em palestras e artigos, para incredulidade de quem me lia ou ouvia. “Não pode ser, estiveste apenas duas semanas no país, lá existe comida e educação para todos”, etc. e tal, em suma, a costumeira apologética empunhada contra os que ousam denunciar a ignomínia dos sagrados regimes socialistas. Dez anos depois, aí estão as manchetes. A ditadura familiar dos Ceaucescu gerou tanto ódio que os romenos sequer conseguiram esperar o julgamento merecido. Sabemos agora que tanto Ceaucescu, “o gênio dos Cárpatos”, quanto Honecker, o “presidente” da Alemanha Oriental, mantinham gordas contas em bancos suíços. E viva o socialismo!
FUZILADO DITADOR ROMENO, alardeiam as manchetes dos jornais. O que muito me surpreende, pois Ceaucescu era ditador há vinte e quatro anos e, ao que tudo indica, jornalista algum havia percebido o fato. Leitor inveterado de jornais, não lembro ter lido, neste último quarto de século, referência alguma na imprensa brasileira ao ditador romeno. Após o fuzilamento, Ceaucescu vira uma espécie de Drácula.
“Ele também era” — escreve tardiamente Luís Fernando Veríssimo — “uma representação quase mítica nos seus extremos, da nova aristocracia da região, a dos pequenos tiranos criados pela ortodoxia comunista nos países satélites, além de ser o exemplar mais antigo da espécie”. E aqui se equivoca o cronista. O conducatur foi ditador por apenas duas décadas e meia. O mais antigo exemplar da espécie dos pequenos tiranos criados pela ortodoxia comunista nos países satélites está no poder há mais de três décadas. Chama-se Fidel Castro e gere sua ilha particular onde recebe as esquerdas do mundo todo, seja para treinar guerrilha e exportar seus métodos ditatoriais, seja para difundir a idéia de que seu gulag é um paraíso.
Enquanto isso, Noriega se esconde sob as saias do Vaticano, último regime ditatorial da Europa de cá. O maior traficante internacional de drogas — não é o cristianismo uma droga poderosa? -, do alto de sua curul no Vaticano, alberga e protege o traficante menor do Caribe. Excitação nas esquerdas latinas, protestos contra a intervenção ianque. Mas o que está em jogo não é a doutrina Monroe, sempre invocada quando Castro é ameaçado, sempre esquecida quando o solitário deão dos ditadores latinos invade Angola. O que mais preocupa as esquerdas é o acesso aos arquivos de Noriega e a constatação de que o comunismo, na América Latina, depende do narcotráfico.
Com a mesma aisance com a qual homiziou um cardeal ligado à Máfia e perseguido pela justiça italiana, o Vaticano subtrai aos tribunais americanos um criminoso comum. Cuba lhe oferece albergue. Tudo fecha.
Porto Alegre, RS, 13.01.90
![]()
sexta-feira, outubro 28, 2011
ARTE SACRA EM TOLEDO
“A Idade Média não foi tão ruim assim, nela se desenvolveram extraordinariamente as artes sacras”, dizia-me certa vez uma colega de magistério, deixando transparecer no olhar uma certa nostalgia daqueles dias cinzentos. Lembrei-me muito dela, em um destes ensolarados domingos de maio, quando fui revisitar Toledo. Realmente, as artes se desenvolveram extraordinariamente naqueles dias. Particularmente uma que, que por hedionda que pareça, não deixa de ser arte.
Foi instalado em Toledo, em 1896, um museu particularíssimo, diante do qual muitos visitantes preferem desviar o olhar e tratar de ver outras coisas. Afinal, Toledo tem uma soberba catedral, duas sinagogas, a casa de El Greco, O Enterro do Conde de Orgaz, sem falar nos cochinillos y lechales, pelo menos isto é o que alegam os guias turistícos, padres ou piedosas senhoras, quando perguntamos: “Mas onde é mesmo que o Museu de Instrumentos de Tortura da Inquisição?”
O problema, leitor, é saber se o cochinillo ou o lechal devem ser degustados antes ou depois da visita ao museu. Se visitamos antes, perdemos o apetite. Se o visitamos depois, para estômagos mais sensíveis, a vontade é de vomitar. Pois ali estão os instrumentos que permitiram à igreja manter-se no poder e erguer, ali ao lado, a majestosa catedral da antiga capital espanhola.
Por onde começar a visita a este circo de horrores? Comecemos logo pela entrada, onde reina, soberana, a Donzela de Ferro. Para quem já viu antigos filmes de terror, nada de novo. A donzela é uma espécie de sarcófago com duas portas, no interior das quais estão fixados pregos que penetram o corpo da vítima quando o aparelho é fechado. Foi muito utilizada a partir do século XVI e tem seus requintes: os pregos estão fixados em posições que não atinjam órgãos vitais, que isso de a vítima morrer mal se fecha o sarcófago, decididamente não tem graça. Diz a crônica da época, a respeito de um falsificador de moeda submetido ao amplexo da donzela: “as pontas afiadíssimas lhe penetravam os braços, as pernas, em vários lugares, e a barriga e o peito, e a bexiga e a raiz do membro, e os olhos e os ombros e as nádegas, mas não a ponto de matá-lo; e assim permaneceu fazendo grande gritaria e lamentações durante dois dias, depois dos quais morreu”. Nos filmes de terror de nossa adolescência, o herói sempre dava um jeito de escapar do abraço da donzela. O mesmo não acontecia na Idade Média.
Ainda na mesma sala, estão o machado e a espada de decapitar, instrumentos que animaram grandes festas públicas na Europa central e nórdica há uns 150 anos, e ainda hoje a televisão ou os jornais nos mostram algumas práticas da antiga arte nos países orientais. Se o verdugo era hábil, sorte da vítima. Caso contrário, teria de sofrer na carne as várias tentativas do aprendiz de carrasco.
Adelante! Ainda na entrada do museu, solene, sinistra, está a guilhotina, que durante a Revolução Francesa foi considerada um instrumento de humanização da pena de morte, tanto que mereceu o apodo de l’amie du peuple. Luis XVI e Maria Antonieta, no 21 de janeiro de 1793, mereceram sua homenagem, após o que a máquina passou a chamar-se de la Louisiette. Seu inventor, o médico francês Joseph-Ignace Guillotin, teria sido mais tarde submetido a seu próprio invento, o que não é historicamente verdadeiro, pois morreu pacificamente em 1821. O que é verdadeiro, isto sim, é que a guilhotina só foi abolida na França há dez anos, durante o governo Mitterrand.
Villiers de L’Isle-Adam, um dos desconhecidos precursores do modernismo em literatura, há cerca de duzentos anos preocupava-se com o novo instrumento de execução. Em um de seus Contos cruéis, um médico, imbuído do espírito de investigação do Iluminismo, tenta convencer, um condenado à morte a prestar uma última colaboração à pesquisa neurológica: no momento da execução, ele, o médico, estaria do outro lado da guilhotina, junto ao cesto que recolhe a cabeça do condenado. Não poderia este, em nome da ciência, é claro, responder com um ligeiro piscar de olhos, após a descida da lâmina, para confirmar a continuidade da consciência após a separação da cabeça do corpo? O condenado aceita a proposição, mas seu gesto é tão vago que não permite ao pesquisador conclusão alguma. Hoje se sabe que uma cabeça cortada por machado ou guilhotina continua consciente enquanto roda ou cai no cesto. O que deve ser uma percepção no mínimo desagradável.
Logo após vem a roda. Todos teremos visto, em pinturas ou xilogravuras medievais, ou mesmo em filmes alusivos à época, intermináveis seqüências de corpos agonizantes, atados a uma espécie de roda de aranha erguida sobre um alto poste. Muitas vezes em minha vida vi a reprodução de tais cenas e sempre imaginei que lá estariam os cadáveres dos condenados, para exemplo e edificação da plebe. Pois não é nada disso, feliz do condenado se assim fosse. A roda para despedaçar — que assim era chamada — constituiu o instrumento de execução mais comum depois da forca na Europa germânica, desde a baixa Idade Média até o século XVIII. E seu emprego é um pouco mais sofisticado do que eu imaginava.
A vítima, nua, era espichada, com a boca para cima, no chão ou no patíbulo, com os membros distendidos e atados a estacas ou argolas de ferro. Sob os punhos, cotovelos, joelhos e quadris eram colocados, atravessados, pedaços de madeira. O verdugo, assestando violentos golpes com a roda, ia quebrando osso após osso, articulação após articulação, incluindo os ombros e quadris, sempre procurando não assestar golpes fatais. Segundo uma crônica anônima do século XVII, a vítima transformava-se então em “uma espécie de grande títere gemente retorcendo-se, como um polvo gigante de quatro tentáculos, entre rios de sangue, carne crua, viscosa e amorfa misturada com lascas de ossos quebrados”.
Mas tudo seria muito simples se a tortura terminasse neste ponto. Após o despedaçamento, a vítima era desatada e introduzida entre os raios da grande roda horizontal, no extremo de um poste que era então erguido. Logo entravam os corvos em ação, arrancando tiras de carne e vazando os olhos até a chegada da morte, constituindo talvez o suplício da roda a mais longa e atroz agonia que o poder era capaz de infligir.
Junto à fogueira e o esquartejamento — diz o catálogo de horrores que apanhei no museu — este era um dos espetáculos mais populares entre os muitos outros semelhantes que tinham lugar diariamente nas praças européias. Multidões de nobres e plebeus deleitavam-se com um bom despedaçamento, de preferência quando a ele eram submetidas várias mulheres em fila.
Há também a gaiola, este bem mais simples. Pendura-se a vítima a uma gaiola de madeira ou de ferro, até que morra de frio, fome ou devorado pelos corvos. Uma versão mais simples e prática desta modalidade é simplesmente pendurar o condenado pelos pés em uma vara horizontal, na qual também são pendurados, um cada lado, dois lobos famintos.
Depois vem a serra, muito usada no século XVIII, criação espanhola. A não ser pelos dentes mais espaçados, em nada difere de uma prosaica serra de madeira. Pela xilogravura que explica a utilização do instrumento, pareceu-me que naquele século faltou imaginação ao verdugo: pendurava-se a vítima pelos pés em uma vara, e dois homens passavam a serrá-la, a partir do cóccix. Tortura idiota, pensei, o homem deve morrer já no início do suplício. Santa ingenuidade minha! Devido à posição invertida do corpo, que garante suficiente oxigenação ao cérebro e impede a perda geral de sangue, a vítima só perdia a consciência quando a serra alcançava o umbigo e, às vezes, o peito.
Embora se associe este suplício à Espanha, sua origem vem de época em que nem se pensava em Espanha. Os leitores atentos da Bíblia devem lembrar que o sábio rei Davi (II Samuel 12:31) exterminou os habitantes de Rabbah e de todas as outras cidades amonitas submetendo homens, mulheres e crianças ao suplício da serra e sofisticações outras da época. Era aplicada preferentemente a homossexuais de ambos sexos. Na Espanha foi utilizada como método de execução militar, na Alemanha luterana era destinada aos líderes camponeses rebeldes e, na França, fazia justiça às mulheres emprenhadas por Satanás.
Mais adiante, encontramos a “cunha de Judas”, uma pirâmide pontiaguda de madeira sustentada por um tripé. Sua finalidade não exige maiores esforços de imaginação. A vítima, nua, é içada por cordas, de forma que todo seu peso repouse sobre o ponto situado no ânus ou na vagina. O carrasco, conforme determinação dos interrogadores, pode variar a pressão do peso do corpo e inclusive sacudi-lo repetidamente sobre a cunha.
Em meio a estes instrumentos mais brutais, o museu exibe outros aparentemente anódinos, mas que não deixam de ter sua eficácia. Por exemplo, os látegos com correntes. Na ponta, uma bola de ferro com pontas agudas. Sua utilização não requer maior prática ou habilidade. Mas há um outro látego, de aparência bem mais inocente, porém de atroz eficácia, é o látego para esfolar. É um chicote de couro, com dezenas de cordas, aparentemente inofensivas. Na extremidade de cada cordel há uma ponta de ferro afiadíssima. Os cordéis eram empapados em uma solução de sal e enxofre dissolvidos em água, de forma que a vítima, ao ser fustigada, tinha sua carne reduzida a uma polpa e ao final do suplício ficava com pulmões, rins, fígado e intestinos expostos. Durante este procedimento, a zona afetada ia sendo umedecida com a solução quase em estado de ebulição.
Ou algo ainda mais prosaico, que imaginação para fazer seu próximo sofrer é o que não falta ao ser humano: um funil e alguns baldes de água. A vítima é inclinada com os pés para baixo e obrigada a engolir quantidades imensas de água através do funil, enquanto o nariz é tapado, o que a força a tragar todo o conteúdo do funil antes de poder respirar um hausto de ar. Sem falar no terror da asfixia, a todo instante repetido, quando o estômago se distende e incha de maneira grotesca, inclina-se o supliciado de cabeça para baixo. A pressão contra o diafragma e o coração ocasiona sofrimentos inimagináveis, que o verdugo intensifica golpeando o abdômen. Esta prática é bastante utilizada ainda nos dias atuais, por ser fácil de administrar e não deixar marcas delatoras.
Que mais? Pois afinal mal entramos no museu. Continuando, há as aranhas espanholas, também chamadas de aranhas de bruxas. O instrumento é de uma estrutura elementar: garras metálicas com quatro pontas em forma de tenazes, usadas tanto frias como em brasa, para içar a vítima pelas nádegas, pelos seios ou pelo ventre, ou ainda pela cabeça, em geral com duas pontas nos olhos e as outras duas nos ouvidos. Efetivamente, na Idade Média as artes tiveram um desenvolvimento extraordinário!
Mas este passeio — que me desculpe o leitor — está ainda longe de seu fim, e isso que estou resumindo. Há por exemplo a cegonha, também chamada de “a filha do lixeiro”. É constituída por quatro hastes metálicas que prendem, ao mesmo tempo, o pescoço, as mãos e as pernas do supliciado. À primeira vista, é apenas um método a mais de imobilização, mas em poucos minutos a vítima é acometida de fortes cãibras que afetam primeiro os músculos abdominais e retais e, depois, os peitorais, cervicais e as extremidades. Com o passar das horas, a cegonha produz uma agonia contínua e atroz, que pode ser intensificada, ao prazer do verdugo, com chutes, golpes e mutilações.
As maneias de ferro, para pulsos e tornozelos, as deixo de lado. Paremos alguns segundos ante um instrumentozinho de concepção elementar, mas efeitos abomináveis. É o esmaga-cabeças, patente italiana, contribuição veneziana às artes do medievo, consta que muito em uso nos dias atuais. É uma espécie de torno munido de um capacete, que comprime a cabeça do condenado contra uma barra metálica. Comentários supérfluos: primeiro são destroçados os alvéolos dentários, depois as mandíbulas, até que o cérebro escorra pelas cavidade dos olhos e por entre os fragmentos do crâneo.
Com a mesma finalidade, há outras versões mais simples do mesmo instrumento, tipo um arco metálico que se cerrando em torno à cabeça, com pregos internos que vão perfurando a calota craniana.
Mas ilimitado é o engenho humano, quando se trata de supliciar outrem. O museu, em verdade, não é nem um Louvre ou Prado, mas cada objeto nos rouba mais minutos do que a contemplação de um Velázquez ou Goya. Há técnicas que parecem ter sido concebidas por um deficiente mental, de elementares que são. A tartaruga, por exemplo: põe-se a vítima estendida no solo e, sobre ela, uma superfície quadrada de madeira, sobre a qual vai-se empilhando vários quintais de peso. Para aumentar o sofrimento, pode-se acrescentar, sob o dorso do supliciado, um calço transversal de forma triangular chamado de báscula.
Ou a forquilha do herege, este um verdadeiro achado, prático, baratinho e eficacíssimo. Imagine o leitor uma espécie de garfo, com duas pontas em cada extremidade. Duas destas pontas são cravadas profundamente sob o queixo, enquanto que as pontas da outra extremidade são apoiadas sobre o externo. Uma pulseira de couro fixa a forquilha contra o pescoço. A forquilha, ao ir penetrando nas carnes, impedia qualquer movimento de cabeça, mas permitia que o acusado de heresia, com voz apagada, pudesse dizer abiuro, palavra que estava gravada em um dos lados do instrumento.
Ou a mordaça, também chamada de babeiro de ferro, uma espécie de colar de ferro, com um tipo de funil achatado na parte interna do aro, que era enfiado na boca do torturado, enquanto o colar era preso na nuca. Tinha por função evitar que os berros da vítima atrapalhassem a conversa dos torturadores. Um pequeno buraco permitia a passagem de ar, o que também permitia que o carrasco sufocasse sua presa, com o simples gesto de obstruir o buraco com um dedo. Giordano Bruno, uma das inteligências mais brilhantes de sua época — e nisto constituía seu crime — foi queimado pela Inquisição dem 1600 e submetido a uma destas mordaças provistas de duas longas puas, uma das quais perfurava a língua e saía pela parte inferior do queixo enquanto a outra perfurava o palato.
Em outra sala do museu, tão solene quanto a donzela de ferro, está a cadeira de interrogatórios, uma espécie de poltrona metálica, toda forrada de pregos agudíssimos, desde o espaldar até o assento e inclusive na parte inferior, que fica junto à barriga da perna e sob os pés. O suplício podia ser aumentado mediante pancadas nos membros ou com um fogareiro aceso sob o assento. Versões modernas deste instrumento são muito apreciadas pelas polícias de todos os países e no Brasil — todos devem ainda estar lembrados — tivemos recentemente a cadeira do dragão.
A fogueira, todos conhecemos, que mais não seja das festas juninas. Só que na saudosa Idade Média não era utilizada exatamente para assar pinhões, inclusive a Igreja deu-se ao luxo de fazer churrasco de uma santa. Aliás, quem quiser maiores detalhes sobre o assunto, pode ler romance recentemente publicado no Brasil, de Michel Tournier, Gilles & Jeanne. A edição é da Bertrand Brasil, São Paulo, e a tradução é deste que vos narra estes horrores. Mas a fogueira em si pouca ou nenhuma arte exige naquela época em que, como sabemos, as artes se desenvolveram extraordinariamente. Verdugos mais criativos bolaram uma versão bastante engenhosa: a vítima era atada a uma escada, que por sua vez era inclinada sobre as chamas, no melhor estilo de um autêntico churrasco gaúchos. Em algumas execuções, atava-se um saco cheio de pólvora junto ao peito.
Havia também o touro, método este já bem mais sofisticado. Era simplesmente um touro de metal, dentro do qual se metia o condenado. Depois, acendia-se uma fogueira embaixo. O touro logo começava a mugir, para deleite do público. Consta que em versões orientais deste instrumento, um complexo sistema de tubos transformava em uma espécie de música os berros do coitado.
Já o potro é de origem italiana, e todos já o teremos visto até mesmo em revistas em quadrinhos, pois tornou-se um dos instrumentos mais simbólicos dos porões da Inquisição. É uma mesa onde o condenado é atado de pés e mãos e um cabrestante passa a espichar os seus membros. Antigos testemunhos narram casos em que se obteve até trinta centímetros a mais em um ser humano, pelo deslocamento de articulações de braços e pernas, pelo desmembramento da coluna vertebral e rompimento dos músculos de extremidades, tórax e abdômen, isso evidentemente antes que o homem morresse.
As mulheres, por sua vez, mereciam atenções e instrumentos específicos, todos mutilando as partes sexuais. Tenazes incandescentes para esmagar mamilos, garras para rasgar seios ou nádegas, etc. Um achado digno de menção é a pêra, um objeto de madeira em forma da dita fruta, que é introduzido na vagina das pecadoras ou no ânus dos homossexuais. Depois, por meio de um parafuso, a pêra abria-se em quatro partes, até sua distensão máxima.
Sei que este desfile de horrores já vai longe, não os compilei todos e creio que nem os próprios organizadores do museu de Toledo conseguirão um dia catalogar todos os métodos que o homem criou para fazer seu próximo sofrer. Mas antes de concluir, permito-me arrolar esta maravilha para comprovar-se se uma mulher era ou não bruxa: atava-se a acusada pelas mãos e pés e se a jogava em um rio. A comprovação era imediata e de clareza meridiana. Sendo a água um elemento puro e inocente, no caso da acusada ser bruxa, a água a recusaria e a faria flutuar, com o que a mulher seria conduzida à fogueira e queimada. Se, ao contrário, a água a aceitava e a mulher se afogava, sua inocência estava comprovada.
Tudo isto em nome de Deus, é claro. E duvido que qualquer inquisidor perdesse o sono em função de sua piedosas tentativas de salvar uma alma pecadora.
Não falta quem afirme que tudo isto são águas passadas — o que, aliás, não é verdade! — e que tal tipo de museu só serve para excitar sádicos e masoquistas. Que tais práticas devem ficar esquecidas no fundo dos tempos. Pois pessoalmente não penso assim. A luta do homem pela preservação da memória, escrevia Milan Kundera, é a eterna luta do homem contra o poder e a tirania.
A inquisição é coisa da Idade Média, objetam alguns. Tampouco é verdade. No século passado, sob Fernando VII, foi restabelecida a inquisição na Espanha. Que mais não seja, Hitler, Stalin, Mao ou Pol Pot são nossos contemporâneos. Aliás, se quero evocar atrocidades contemporâneas, não preciso afastar-me do continente latino-americano, muito menos de meu país.
Agora, que na Idade Média desenvolveram-se extraordinariamente as artes sacras, disso não tenho dúvida alguma.
Blumenau, FURB, Revista de Divulgação Cultural, julho 1991
![]()
quinta-feira, outubro 27, 2011
SANTIAGO SEGUNDO LITTIN
Santiago do Chile — A cidade é feia, pobre e suja. Pelos buracos e lixo acumulado nas amplas avenidas, adivinha-se uma capital que um dia foi próspera e cujos habitantes desfrutaram, em passado pouco distante, um alto nível de vida. Cidadãos pobremente vestidos, em seus ternos ainda restam farrapos de dignidade — e nada mais triste do que ver um homem cheio de remendos, mas elegantemente vestido, estendendo a mão súplice para pedir alguns centavos. Lojas vazias, de vazias e tristes vitrines, restaurantes entregues às moscas, garçons olhando para nada. Mal o sol se põe sobre o Pacífico, a capital escurece e os raros privilegiados da tirania se escondem em suas tocas, temerosos da fome e da justa violência dos deserdados. Mesmo durante o dia, nota-se tensão e medo nos rostos e gestos, como se alguém que agora circula livremente pelas ruas, no momento seguinte, sabe Deus lá por que razões, pudesse estar algemado nos porões da ditadura. Um exército parece ter postos suas patas sobre a cidade. Estou em Santiago do Chile. Do Chile de Pinochet.
O poder do tirano é onipresente. Em um país privilegiado pelos deuses, que por sua geografia se permite quatro estações simultâneas, mar e montanha, deserto e neve, os tentáculos da ditadura envolvem o território todo, manifestando-se principalmente na capital. Raríssimas bancas de jornais exibem apenas a imprensa laudatória ao regime. Jornais de oposição, nem em sonhos. A imprensa internacional está banida do país e só pode ser adquirida em hotéis de luxo, onde o cidadão comum só pode entrar se estiver disposto a sérios interrogatórios pela polícia do regime ao sair, mesmo que saia sem jornal algum. As raríssimas livrarias, de paupérrimas estantes, exibem não mais que literatura técnica e alguma ficção de escritores coniventes com a ditadura.
Miséria, lixo, decadência, medo, opressão, silêncio, desconfiança: estes são os odores que todo visitante, isento de quaisquer preconceitos ideológicos, respira em um rápido giro por Santiago. Mas as cidades são como árvores, quem quiser destruí-las terá de cortar-lhes as raízes. Estão vivas as raízes de Santiago. Que um dia será Salvador. Salvador Allende.
Terminasse eu aqui esta crônica, sem ajuntar sequer uma linha a mais, conquistaria platéias e simpatias, sem falar em tribunas, lugar ao sol e quem sabe até mesmo uma sinecura num órgão público qualquer. Acontece que estaria mentindo, transmitindo, é verdade, uma mentira que todos gostam de ouvir. Como não gosto de mentir, renuncio a eventuais simpatias e passo a contar o que vi.
Para quem está acostumado a bater pernas pelas ruas de cidades como Porto Alegre ou São Paulo, Santiago exerce um poderoso impacto pela conservação e limpeza de suas ruas e passeios. Nas capitais brasileiras, há muito resignei-me a enfrentar ruas sujas e esburacadas, sem falar no lixo cotidiano nelas jogado por transeuntes sem noção alguma de cidadania, meros habitantes, nefastos usuários da cidade. Passear pelas margens do Mapocho — rio que atravessa um aglomerado de cinco milhões de almas — parece milagre, suas águas preservam a limpidez com que descem da Cordilheira. Para quem sofre a Beira-Mar Norte de Florianópolis — já nem falo do riacho Ipiranga ou Tietê — o Mapocho mais parece miragem de viajante perturbado pela travessia dos Andes.
Pelo Paseo de la Ahumada, rua Estado, Huérfanos, uma fauna humana e bem vestida (insisto em dizê-la humana, pois os transeuntes das ruas centrais do Rio ou São Paulo, sem ir mais longe, mais parecem animais machucados na luta pela vida) que há muito não se vê nas metrópoles da América Latina. Antes de Santiago, estive em Buenos Aires e a outrora elegante Florida, hoje, proporções à parte, mais parece rua Direita ou Nossa Senhora de Copacabana. Deixada de lado a agressão idiota — mas não perigosa — de cambistas à cata de divisas fortes, senti no centro de Santiago sensação que brasileiro algum pode hoje sentir em nossas capitais: a sensação de segurança. As ruas da capital chilena têm um ar de praça; nela vi velhos, jovens e crianças sentados, degustando sorvetes e o espetáculo da rua em si, tanto à tarde como à noite, sem preocupação alguma com assaltos ou violência gratuita. Para mim, que já penso duas vezes quando em Porto Alegre ao atravessar a Borges e a Praça XV para freqüentar o Chalé à noite, Santiago me fez evocar a Praça da Alfândega dos anos 60, quando filosofávamos madrugada adentro preocupados com a enteléquia aristotélica ou o ser em Sartre, jamais com punhais ou revólveres.
Outra surpresa, e das melhores, os quiosques de jornais e revistas. Penso que tais quiosques são uma excelente amostragem da cultura e liberdade de expressão de um país, neles podemos auscultar que tipo de informação consomem os cidadãos e, ao mesmo tempo, que qualidade ou quantidade de informação não proíbe o Estado de ser consumida. Pois bem: nesta Santiago que imaginava cidade sitiada e sob censura, vi nas bancas uma profusão e diversidade de jornais que sequer encontrei em Paris ou Madri. Jornais em cirílico do Leste europeu, imprensa de toda Europa, Escandinávia, Alemanha, França, Itália, Espanha, Estados Unidos, América Latina, Brasil. Sabendo como esta imprensa toda é gentil a Pinochet, o espanto do turista vira perplexidade. E mais: jornais chilenos malhando, em primeira página, a ditadura. Ocorre-me evocar os quiosques tristes e monocórdios que vi em cidades do Leste europeu, mas nem preciso ir tão longe. nenhuma banca do Rio ou São Paulo, neste Brasil 88, me oferece tal quantidade e diversidade de informação.
Livrarias imensas, bem sortidas, onde não faltam livros de Fidel Castro ou Garcia Márquez, o mais ferrenho adversário de Pinochet e, curiosamente, defensor incondicional do ditador cubano. Tampouco faltam nas prateleiras obras de José Donoso ou Isabel Allende, isso para citar apenas dois opositores do regime chileno já conhecidos do leitor brasileiro. O que é no mínimo insólito em uma ditadura.
Nas vitrines e gôndolas das mercearias, víveres e bebidas do mundo todo, desde arenques do Báltico a foie gras trufado, dos mais diversos uísques da Escócia a vinhos alemães, franceses, italianos, espanhóis. E chilenos, naturalmente. Preços? Abordáveis. Para se ter uma idéia, pode-se comprar um scotch — com a certeza de que não são da reserva Stroessner — a partir de dez dólares, ou seja, o preço de um Natu Nobilis hoje. Que mais não seja, qual intelectual de esquerda não gostaria de viver em uma sociedade onde uma dose de um bom escocês custa, em bares, um dólar? Conheço não poucos exilados traumatizados com a democrática França de Mitterrand, onde um gole de uísque só é viável a partir dos cinco dólares. Piadas à parte, a farta oferta de tais produtos evidencia uma sociedade habituada a comer bem e com requinte, afinal comerciante algum seria insano a ponto de importar iguarias para turista ver.
Contava eu estas e outra coisas a uma moça ilhoa e bem-nascida, cidadã da Santa e Bela Catarina, dessas que julgam ser todo empresário um canalha, mas que jamais recusam uma cobertura facilitada por um pai empresário, dessas que jamais subiram o morro do Mocotó mas estão preocupadas com a colheita do café na Nicarágua, em suma, falava eu com um espécime típico da raça que chamo de os Novos Cafeicultores, e a objeção — a primeira objeção — caiu como um raio:
— E a miséria? Aposto que não foste visitar os bairros pobres, a periferia de Santiago.
Tinha razão em parte a jovem cafeicultora. Não visitei os bairros pobres de Santiago, afinal se troco as margens do Atlântico pelas do Pacífico, não será para ver miséria que conto meus parcos dólares. Não tenho a psicologia do francês médio, por exemplo, que mal chega ao Brasil, quer visitar favelas. Este comportamento, a meu ver doentio, parece-me ser vício de europeu inculto e de consciência pesada, que insiste em ver a miséria do Terceiro Mundo que explora, para depois contribuir com avos de seu bem-estar para guerrilhas suicidas. Se junto meus trocados para visitar um país, quero receber o que de melhor esse país tem a me oferecer. Nos anos que vivi em Paris, descia certa vez de Montmartre e enveredei pelas ruelas da Goutte d'Or, encrave árabe e paupérrimo que se alastra na cidade como mancha de óleo. Senti-me, de repente, em um território miserável para o qual jamais teria pensado em viajar, que mais não seja não será minha indignação ou revolta que resolverá o problema árabe na França. Dei meia volta, enfurnei-me na primeira boca de metrô e só voltei à superfície na Rive Gauche, a margem que mais me fascina do Sena. Não, não vi a miséria de Santiago. Mas consolei a cafeicultora: podes estar certa de que miséria existe, pois miséria está presente em qualquer metrópole do mundo.
Ela sorriu por dentro, parecia dizer: que bom que existe miséria em Santiago. O que me deixou um tanto perplexo, eu sorriria intimamente se soubesse que não existe miséria em lugar algum do mundo, independentemente de regimes políticos ou ideológicos. Ela, por sua vez, admitia a veracidade de meu relato. Ajuntei que a inflação era de seis por cento. Quando digo isto a um brasileiro, a reação normal é: "seis por cento ao mês?" Acontece que é seis por cento ao ano. Isto é sonho que, brasileiros, já nem ousamos sonhar. Se eu passar a alguém os preços de um restaurante que visitei em Santiago no mês passado, e se este alguém visitar o Chile no ano que vem, é provável que os preços continuem os mesmos ou, no máximo, tenham variado em torno de uns dez por cento a mais. Cá entre nós, não conseguimos recomendar para amanhã um restaurante no qual comemos ontem. Caiu, então, fulminante, a segunda objeção:
— Sim. Mas que preço pagaram os chilenos por este bem-estar?
Houve, no Chile, um assalto marxista e armado ao Estado e negá-lo é paranóia. Deste confronto resultaram, segundo alguns, dez mil mortes. Segundo outros, quarenta mil. De qualquer forma, um preço infinitamente inferior ao preço pago pelos russos a Josiph Vissarionovitch Djugatchivili — que oscila entre vinte e sessenta milhões de cadáveres — para dar no que deu: uma confederação forçada de países pobres, alguns vivendo a nível de fome, como a Romênia e a Albânia. Bem mais barato que o preço pago pelos cambojanos a Pol Pot: dois milhões e meio de mortos, em um país de cinco milhões de habitantes, e disto não mais se fala. Sem falar que os que ficaram se jogam ao mar em jangadas, enfrentando tempestades, tubarões e piratas, ou já esquecemos os boatpeople? Sem falar nos que matou Castro — número que nenhum Garcia Márquez aventa — para instalar no Caribe seu gulag tropical. Em Cuba também há farta escolha de bebidas e gêneros alimentícios. Mas só o turista pode comprá-los, e com dólar. O cidadão cubano fica chupando no dedo. Nas praias, cheias de peixe, não há atividade pesqueira alguma, pois quem tem barco vai pra Miami.
— Justificas então tais mortes? — quis saber a moça — referindo-se, é claro, aos mortos do Chile, já que tornou-se tácito, para os fanáticos contemporâneos, que é lícito fazer correr sangue de certas pessoas e criminoso o de outras. Em suma, para usar dois conceitos que não me agradam, porque multívocos, é perfeitamente permissível fazer jorrar sangue da assim chamada direita e constitui sacrilégio, quase tabu, sangrar a assim chamada esquerda. Não justifico morte alguma, a humanidade tem pelo menos uns três mil anos de experiência histórica, milênios suficiente, parece-me, para concluirmos que não é matando que se chega a erigir a cidade humana.
— Cristaldices! — jogou-me na cara minha cafeicultora, digo, interlocutora. Pode ser. Chamo então um cineasta exilado que voltou clandestinamente ao Chile, em depoimento tomado por Gabriel Garcia Márquez, intitulado A Aventura de Miguel Littín Clandestino no Chile, já traduzido ao brasileiro por Eric Nepomuceno e encontradiço em qualquer livraria. No capítulo significativamente intitulado "Primeira desilusão: o esplendor da cidade", depõe Littín:
— Eu atravessei o salão quase deserto seguindo o carregador que recebeu minha bagagem na saída, e ali sofri o primeiro impacto do regresso. Não notava em nenhuma parte a militarização que esperava, nem o menor traço de miséria. (...) Não encontrava em nenhuma parte o aparato armado que eu tinha imaginado, sobretudo naquela época, com o estado de sítio. Tudo no aeroporto era limpo e luminoso, com anúncios em cores alegres e lojas grandes e bem sortidas de artigos importados, e não havia à vista nenhum guarda para dar informação a um viajante extraviado. Os táxis que esperavam lá fora não eram os decrépitos de antes, e sim modelos japoneses recentes, todos iguais e ordenados.
Mais adiante:
— Na medida em que chegávamos perto da cidade, o júbilo com lágrimas que eu tinha previsto para o regresso ia sendo substituído por um sentimento de incerteza. Na verdade o acesso ao antigo aeroporto de Los Cerrillos era uma estrada antiga, através de cortiços operários e quarteirões pobres, que sofreram uma repressão sangrenta durante o golpe militar. O acesso ao atual aeroporto internacional, em compensação, é uma auto-estrada iluminada como nos países mais desenvolvidos do mundo, e isto era um mau princípio para alguém como eu, que não só estava convencido da maldade da ditadura, como necessitava ver seus fracassos na rua, na vida diária, nos hábitos das pessoas, para filmá-los e divulgá-los pelo mundo. Mas a cada metro que avançávamos, o desassossego original ia se transformando numa franca desilusão. Elena (militante da esquerda chilena que acompanha Littín) me confessou mais tarde que ela também, ainda que estivesse estado no Chile várias vezes em épocas recentes, tinha padecido o mesmo desconcerto.
Coragem, leitor de esquerda. Adelante! Leiamos Littín, só mais um pouquinho:
— Não era para menos. Santiago, ao contrário do que contavam no exílio, aparecia como uma cidade radiante, com seus veneráveis monumentos iluminados e muita ordem e limpeza nas ruas. Os instrumentos de repressão eram menos visíveis do que em Paris ou Nova York. A interminável Alameda Bernardo O'Higgins abria-se frente a nossos olhos como uma corrente de luz, vinda lá da histórica Estação Central, construída pelo mesmo Gustavo Eiffel que fez a torre de Paris. Até as putinhas sonolentas na calçada oposta eram menos indigentes e tristes do que em outros tempos. De repente, do mesmo lado em que eu viajava, apareceu o Palácio de La Moneda, como um fantasma indesejado. Na última vez que eu o tinha visto, era uma carcaça coberta de cinzas. Agora, restaurado e outra vez em uso, parecia uma mansão de sonho ao fundo de um jardim francês.
Fico por aqui. Se o leitor ainda alimenta dúvidas, que visite o Chile, preferentemente após ter deambulado por Havana. O homem só conhece comparando. Para finalizar, apenas mais uma observação, não minha, mas de Littín, que talvez elucide a prosperidade atual de seu país.
— Uma das primeiras medidas que ele (Allende) tomou no governo foi a nacionalização das minas. Uma das primeiras medidas de Pinochet foi privatizá-las outra vez, como fez com todos os cemitérios, os trens, os portos e até o recolhimento do lixo.
O que esclarece, a meu ver, o fascínio das ruas de Santiago.
Joinville, A Notícia, 27.11.88. Porto Alegre, RS, 10.12.88
![]()
quarta-feira, outubro 26, 2011
A GRANDE MISTIFICAÇÃO
DO SÉCULO PASSADO
Desde meus verdes anos, considerei a psicanálise uma solene vigarice. E Freud, um talentoso vigarista. Mas de que vale um universitário gaúcho contestar uma sumidade vienense? De nada. Segundo dogma estabelecido por seu criador, quem contesta a psicanálise está precisando de psicanálise. Ou seja, estamos diante de uma religião tão dogmática quanto o catolicismo.
A psicanálise, mal surgiu, foi violentamente contestada. Em Gog, Papini via Freud como um médico fracassado com pendores literários. Incapaz para a medicina, Freud dedicou-se à ficção. Assim nasceu a psicanálise. Surgiu agora na França, obra de um ensaísta que confirma minha posição de 40 anos atrás. Trata-se de Le crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne, de Michel Onfray, que trata Freud como um impostor. Se um intelectual francês faz esta afirmação, é claro que tem muito mais autoridade que um gaúcho de Dom Pedrito. Mas Onfray, é bom antecipar, nada tem original. Antes de entrar na discussão, relato minhas restrições à psicanálise. Não, não li toda a obra de Freud. Li apenas O Futuro de uma Ilusão, quando o pensador dos bosques de Viena dá uma no prego, após dar 250 na ferradura. Minha desconfiança com a nova religião decorre de meus contatos com psicanalistas.
Ao chegar em Porto Alegre, tropecei com um fenômeno do qual jamais ouvira falar em Dom Pedrito, a psicanálise. Defendo a idéia de que há embustes que só conseguem enganar intelectuais, jamais enganam o homem simples. Em Porto Alegre, capital intelectualizada, com universidades e farta massa cinzenta, os psicanalistas tinham um excelente mercado para vender seus peixes podres.
Em meados dos anos 70, na Reitoria da UFRGS, tive a chance de xingar a raça. Gritos e Sussurros, de Ingmar Bergman, era analisado por um crítico de cinema e dois psicanalistas. Como eu estava voltando da Suécia, fui convidado por um terceiro psicanalista para o debate. Porto Alegre, naqueles idos, vivia uma circunstância peculiar: sem produzir filmes, tinha uma crítica de cinema ativíssima. Luis Carlos Merten, o crítico, abriu os debates, com voz empostada: "Dois são os instintos básicos da humanidade: sexo e fome. Como não existe fome na Suécia, os suecos fazem um cinema de sexo".
Sem discutir a veracidade histórica da afirmação (no final do século XIX, Estocolmo era uma das cidades mais pobres e sujas da Europa), considerei que no Brasil ninguém passava fome. Vivíamos em plena época das pornochanchadas e o cinema nacional girava em torno a sexo. Merten mudou de assunto e passou a falar de Bergman, o "cineasta da alma".
Discordei. A meu ver, Bergman era o cineasta das neuroses sexuais. Em sua filmografia, o relacionamento físico entre os personagens é sempre sofrido, doloroso, traumatizante. (Quem não lembra o episódio dos cacos de vidro introduzidos na vagina, em Gritos e Sussurros?). Não por acaso, o cineasta estava em seu quinto casamento. Homem que não se acerta com uma mulher - afirmei - não se acerta com cinco nem com vinte e cinco. Mal terminei a frase, fui interrompido por um dos psicanalistas: "Não podemos invadir a privacidade de Bergman, que está vivo. Falemos de sua mãe, que já morreu".
O debate continuou por outros rumos. Em uma das cenas, a personagem principal, interpretada por Liv Ullmann, após jantar com o marido, pergunta-lhe se quer café ou se vai dormir. Interpretação do segundo psicanalista: "Café ou cama. Temos uma manifestação típica de sexualidade oral". Observei aos participantes da mesa que pretendia convidá-los para um cafezinho após o debate. Como arriscava ser mal interpretado, desistia da idéia. O debate foi rico em pérolas do mesmo jaez. Registro mais uma.
Da platéia, alguém perguntou por que razões Liv Ullmann usava duas alianças no mesmo dedo. Interpretou um dos analistas: "Agressão instintiva ao marido, desejo de viuvez antecipada. Ou ainda, uma projeção homossexual na mãe. Ela vê na mãe os princípios masculino e feminino e usa os dois símbolos no dedo". Lavei a alma naquela noite: o douto analista ignorava que na Suécia as mulheres costumavam usar ambas as alianças, a própria e a do marido.
Se a história terminasse aqui, até que não seria grave. Ao sair da Reitoria, fui abordado pelo Sérgio Messias, o psicanalista que me convidara para o debate: "Por que aquela agressão pessoal ao Meneghini? Tens algo contra ele?" Referia-se àquele que insistia em falar da mãe do Bergman. Ora, não me parecia ter agredido ninguém. E muito menos o tal de Meneghini, que via pela primeira vez em minha vida. "Acontece que ele também está na quinta esposa. E como sempre as leva para morar com a mãe, parece que também não está dando certo". Atirei no que vi, acertei no que não vi. Poucas noites ri tanto em minha vida.
Naquele dia, adquiri a firme convicção de que psicanálise era vigarice.
28/04/2010
![]()
terça-feira, outubro 25, 2011
A PARANÓIA CEDE
Paris — Vista das margens do Sena, a América Latina efetivamente perdeu a década. A moda agora é o Leste europeu. As livrarias expõem esquecidos autores tchecos, poloneses, húngaros e romenos. Os cinemas ressuscitam cineastas proibidos. E as agências de turismo oferecem pacotes para todos os bolsos, para quem quiser dar uma última olhadela nos cacos do comunismo.
Quanto a Nuestra America, esta parece ser preocupação do milênio passado. Castro, se antes teve a sustentação da intelectuália parisiense, hoje é visto como o último caudilho do continente. La Lune et le caudillo: le rêve des intellectuels et le régime cubain, de Jeannine Verdés-Leroux, é um dos bons lançamentos que parece ser onipresente nas livrarias do Quartier Latin. Neste ensaio, a autora não se preocupa em desmitificar Castro propriamente, e sim os intelectuais parisienses que, cachimbando às margens do Sena, com a poltrona assestada na direção do rumo da História, apoiaram a ditadura cubana. E não faltam alguns respingos para o Che Guevara, cuja imagem de santo laico começa a ceder ante o perfil de um psicopata excitado com o cheiro de sangue.
É triste constatar que nós, brasileiros, só daqui a uns dez anos acabaremos chegando a estas conclusões. A propósito, olhando-se o mundo lado de cá, tem-se a nítida percepção de que o Brasil é o último país comunista da América Latina. Ou seja, país onde há uma predominância de uma ideologia obsoleta, que atrasou em um século ou mais os países do Leste.
Ora, direis leitores, e Cuba onde é que fica? Acontece que Cuba não é um país comunista. Lá, ao que tudo indica, só existe um comunista, já desesperado ante a perspectiva, cada vez mais próxima, de largar o osso do poder. “Todos os homens têm direito a tudo que pedem”, disse um dia Fidel a Sartre. “E se eles pedem a Lua” — quis saber Sartre, pensando certamente na peça Calígula, de Camus. “Se eles pedem a Lua” — respondeu o caudilho — “é porque dela necessitam”. Hoje, sabemos que os homens não pedem tanto. Querem algo mais singelo e mais ao alcance da mão, a liberdade.
Os intelectuais franceses estão confusos. Até setembro, outubro ou novembro do ano passado, havia resposta para todo e qualquer problema. De repente, as respostas todas se revelaram falsas, se não safadas. Bernard Henry Lévy, velho-novo-filósofo, tenta recuperar-se parafraseando Marx: “Sonhamos muito tempo em transformar o mundo, chegou a hora de interpretá-lo”. Talvez acabe chegando, depois de velho, a alguma conclusão inteligível.
A Europa Ocidental levará ainda alguns anos para mitigar a perplexidade que lhes foi brindada pelos primos pobres do Leste. O stalinismo impregnou de tal forma os cérebros ocidentais, a ponto de o Muro de Berlim ser considerado como um fato eterno e consumado, mesmo pelos mais obstinados anti-stalinistas. Percebem agora estes pensadores terem esquecido que a alavanca das grandes transformações sociais continua sendo a mesma de sempre: o desejo de liberdade, inerente a todo ser humano. E nisto em nada diferem de nós os homens do Leste.
Nas manchetes da imprensa parisiense, começa a mudar o vocabulário político. Pela primeira vez na França, ouço falar em fascismo eslavo. PC virou piada. Nanni Moretti, corrosivo cineasta italiano, diverte a fauna parisiense com seu último filme, La Palombella Rossa, datado do ano passado. Cenário, uma piscina. Personagem central, um deputado do PC italiano, jogador de waterpolo.
Ao tentar explicar em que consistiria ser comunista hoje, o deputado se deixa emaranhar em uma teia de lugares comuns que conduzem o público a um sorriso interior e amargo. Mas quando fala na “crise geral do capitalismo” nestes primórdios de 1990, não há na sala quem controle a gargalhada. Repetindo à exaustão os slogans do Partido, Moretti deixa claro que a peste que contaminou este século não passou de um amontoado de palavras vazias.
Sem Deus nem ideologia, o deputado italiano pede socorro à mamãe. Assim devem sentir-se, suponho, os últimos comunossauros tupiniquins. O filme, de 1989, revelou-se premonitório. Na França, só um cara-de-pau como Marchais, íntimo de Ceaucescu, consegue defender, ao lado de Castro, os ideais comunistas. “Não nos jogaremos nos braços da social-democracia, nem aceitamos o capitalismo”, insiste Marchais no L’Humanité, órgão oficial do PC francês, precisamente nestes dias em que os países comunistas dissolvem seus PCs e a Polônia cria um partido social-democrata.
Comentaristas angelicais pretendem que social-democracia é uma coisa, capitalismo é outra. Só cai neste conto quem não conhece Alemanha e países escandinavos. Ao clamar pela social-democracia, os sofridos habitantes do Leste em verdade reivindicam, eufemisticamente, um regime capitalista, com todas as suas — boas ou más — conseqüências. E o resto é conversa fiada.
Para os historiadores futuros, o século XX será visto como um vasto laboratório no qual ensaiou-se — às custas de milhões de cadáveres — uma utopia que não deu certo. “O pior fracasso do comunismo” — escreve Jean Daniel, do Nouvel Observateur — “foi ter associado o horror a um dos maiores sonhos da humanidade”.
Enfim, o sonho acabou, conforme expressão das carpideiras. Melhor diriam: a paranóia. Sempre vi algo de paranóico nestes senhores que, beneficiando-se das delícias do capitalismo, apoiavam-se incondicionalmente no regime que oprimia os cidadãos do Leste. Não por acaso, corre uma piada na Romênia pós-Ceaucescu.
Em Bucareste, nos dias do conducator, um cidadão entra em uma farmácia:
— Bom dia, camarada farmacêutico!
— Bom dia, camarada cliente!
— Camarada farmacêutico, você tem algo para a paranóia?
— Para a paranóia, camarada cliente, só tenho respeito.
Joinville, A Notícia, 25.02.90
![]()
segunda-feira, outubro 24, 2011
A LONGA LINHAGEM
Porto Alegre — Pois andei perambulando pela última Feira do Livro de Porto Alegre, com a alegria de quem é um pouco partícipe do Nobel de Literatura, já que me coube a honra — e as peripécias — de traduzir ao brasileiro as duas únicas obras publicadas entre nós de Camilo José Cela, A Família de Pascual Duarte e Mazurca para dois Mortos. Quando um Nobel surpreende e sua obra é totalmente inédita no Brasil, não falta quem reclame de nossa indigência cultural, falta de sensibilidade editorial e resmungos do gênero. Bueno, agora o autor tem traduzidas duas de suas criações fundamentais que, diga-se de passagem, pouca atenção mereceram, tanto de parte da crítica como de parte dos leitores. E muito menos dos livreiros. Na Feira do Livro, inaugurada quase junto com a premiação, não havia um só exemplar de Cela. Mais ainda: não o encontrei em livraria alguma de Porto Alegre.
Encontrei, em compensação, livrinho dos mais significativos, particularmente nestes dias que correm. Falo de Berlim: Muro da Vergonha ou Muro da Paz? , edição da L&PM, com terna homenagem em suas primeiras páginas a Luiz Carlos Prestes, esta alma penada que parece ter perdido a noção da época em que vive, ainda hoje encaracolado em seu stalinismo obtuso, primário e criminoso.
Se viajar ilustra, como dizem as gentes, há pessoas que mesmo dando dez voltas ao mundo não se deixam impregnar do mínimo verniz cultural. É o caso de Antônio Pinheiro Machado Netto, autor desta sintomática ode à tirania. Terá o livro envelhecido tão cedo ou terá sido seu autor sempre senil? Senão, vejamos.
Tendo visitado por duas vezes a URSS, a convite do Comitê dos Partidários da Paz na União Soviética, e uma terceira vez a Tchecoeslováquia, pela Assembléia pela Paz e pela Vida, e sentindo-se na obrigação de pagar suas mordomias em alguma moeda — desde que não dólares — nosso turista apressado entoa loas ao muro que durante três décadas constituiu o mais sinistro e desumano marco erigido pelo comunismo russo. Pincemos, cá e lá, alguns trechos desta cretina defesa do totalitarismo. O livro, é bom lembrar, foi editado em 1985. Se ainda entendo de matemática, há apenas quatro anos. Vamos lá.
Hoje não se pode mais falar em reunificação da Alemanha, pura e simplesmente, com fundamento tão somente na língua e história comuns. (...) Não se pode, todavia, afastar a hipótese de, num futuro mais ou menos remoto, vir a ocorrer a unificação (como aconteceu no Vietnã). Esta hipótese, porém, só pode ser considerada se na chamada Alemanha Federal — RFA — passar a existir também um regime socialista.
Uma das maiores bobagens veiculadas no Brasil sobre o Muro de Berlim é que ele foi erguido para evitar as fugas de alemães da RDA para a parte oeste de Berlim. Esta asneira é veiculada até por pessoas que gozam de alguma credibilidade no Brasil, e por órgãos de comunicação, que se apresentam como veículos fiéis à verdade.
Todos os epítetos lançados contra o muro — afronta à liberdade, vergonha, etc., etc. — escondem apenas o ressentimento e a frustração dos fazedores de guerra que, naquela linha de fronteira, viam o começo da terceira guerra mundial por que tanto sonham, e para cujo deflagrar tudo fazem, com vistas a salvar o capitalismo da crise irreversível em que está mergulhado.
É natural que na RDA e nos demais países socialistas a tendência seja a diminuição do índice de criminalidade, de vez que as infrações penais que têm origem na miséria, numa vida difícil e atormentada, com dificuldades econômicas e financeiras, tendem a desaparecer por completo nos países socialistas, e muito particularmente na RDA.
Mas, decorridas quatro décadas, essa mesma Alemanha Ocidental — eis a grande verdade — não resolveu problemas vitais do povo alemão que vive na região ocidental. Mais do que isso. Hoje a República Federal da Alemanha — RFA- , como todo mundo capitalista, é um país atormentado por uma crise de vastas proporções, crise política, econômica, social e moral.
A realidade alemã ocidental hoje reflete a crise que avassala o sistema capitalista. Na RFA a situação social também vem se agravando. Progressivamente aumenta a pobreza.
Os sindicatos da RFA estão prevendo que até 1990 cerca de 100 mil pessoas perderão seus empregos, atualmente, por força da automação. Afora, evidentemente, o desemprego resultante da crise do capitalismo que existe na RFA e em todo o ocidente capitalista, e que vai continuar.
Os meios de comunicação de massa do Ocidente já “decretaram” que nos países socialistas não há liberdade para os cidadãos e que, especialmente, inexiste liberdade de imprensa. Também “decretaram” que os direitos humanos não são respeitados no mundo socialista.
Daqui cinco anos (ou seja, ano que vem, parêntese meu), na RDA, não haverá mais desconforto habitacional — todas as famílias terão sua casa.
Acho que chega. Visto destes dias, quando centenas de milhares de alemães orientais choram, riem, cantam e bebem comemorando a derrubada — política, por enquanto — do muro, o livro de Antônio Pinheiro Machado Netto nos sabe a sinistra e merencória estupidez. Curiosamente, vereador algum da dita Administração Popular apresenta moção declarando persona non grata a Porto Alegre este entusiasta advogado de gulags. Este senhor, defensor dos restos podres do stalinismo, é Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e dela ainda não foi expulso.
Que um jovem fanatizado, sem leituras nem viagens, profira tais despautérios, é compreensível. Mas tal atenuante não beneficia um homem de idade cujos olhos tiveram a oportunidade de constatar, in loco, o exercício da tirania. Enfim, a paranóia parece ser genética. Um outro Pinheiro Machado, o Luiz Carlos, durante décadas, pretendeu submeter os genes às leis da dialética, defendendo as experiências fajutas de Lyssenko, pupilo de Stalin que por seu dogmatismo quase arrasou com a agricultura russa, tornando-a dependente, até hoje, de grãos do Ocidente. Luiz Carlos teve certa sorte: não teve editores que publicassem suas asneiras. O mesmo não aconteceu com Antônio.
Desde os anos 30, Moscou aprendeu como conquistar intelectuais no Ocidente: basta oferecer-lhes viagens e mordomias, com a nonchalance de quem joga milho às galinhas. A longa linhagem de intelectuais vendidos alberga desde pinheiros natos a expressões mais altas, tipo Kazantzakis, Aragon, Neruda, Brecht, Lukács, Sartre, Simone, Jorge Amado, Graciliano Ramos e vou ficando por aqui, que a lista seria infinda. O stalinismo, dogma já superado na Europa, ainda vige na América Latina.
O muro de Berlim já caiu. Quando cairá o muro mental de imbecilidade que ainda determina o pensamento de intelectualóides de esquerda?
Joinville, A Notícia, 26.11.89
![]()
domingo, outubro 23, 2011
O MURO SEXUAL
Berlim — Um dia antes da derrubada física da parte do muro que divide Berlim, fui até a Porta de Brandenburgo colher meus caquinhos. Se você vem do Leste pela Unter den Linden, mal se aproxima do muro logo começa a ouvir aquele matraquear incessante dos alemães e turistas ocidentais picando o concreto do outro lado, tentando arrancar um souvenir da barbárie. Aproximando-se da porta pelo lado ocidental, pela Strasse des 17 Juni — agora espontaneamente rebatizada por Nove de Novembro — o panorama é mais divertido. Centenas de pessoas dirigem-se ao muro de martelo e punção em punho, enquanto os orientais invadem a avenida com sacolas vazias, em busca de coisas mínimas que por décadas lhes foram proibidas.
Enfim, melhor seria conjugar este passeio no passado, afinal aquela parte do muro não mais existe e, com a derrocada do fascismo eslavo, o mercado de seus cacos está sendo substituído pelos símbolos de um regime também obsoleto, as insígnias, distintivos e medalhas com a estrela vermelha ou a foice e o martelo. (Atenção, velha e jovem guardas stalinistas: o que já foi motivo de prisão terá, daqui por diante, valor crescente. Nestes dias de cruzeiros curtos, titularidades perdidas podem ser compensadas com uma banquinha de relíquias no brique da Redenção). Mas não era disto que pretendia falar. E sim de sexo. Lá no Leste.
Lieb steht nicht auf dem Plan (O Amor não está escrito no Plano), livro redigido a quatro mãos pela jornalista russa Tatiana Suworowa, da agência Tass, e por seu colega Adrian Geiges, da RDA, recentemente lançado na Alemanha Ocidental, nos revela a miséria sexual de boa parte do mundo socialista, a tragédia de sociedades de um puritanismo de fazer inveja a João Paulo II, onde fora do casamento não há salvação.
“Toda experiência erótica enriquece a alma humana”, escrevia Alexandra Kollontai, bolchevique itinerante dos anos 20. O mesmo não pensava o ex-seminarista Joseph Vissarionovitch Djugatchivili, hoje mais conhecido como Stalin. E um universo materialista e ateu, de onde foi expulso o deus cristão, permaneceu décadas — e ainda permanece — sob o império de uma ideologia que odeia o corpo, tão grata ao aiatolá de Roma. Os depoimentos colhidos pelos autores nos fazem voltar às tardes cinzentas da Idade Média.
— A primeira vez que eu deitei com um homem — declara uma russa de 23 anos, empregada da Administração — eu não sabia como se faz um filho. Isto me trazia problemas quando lia livros estrangeiros. Quando li Fiesta, de Hemingway, eu não entendia o que estava acontecendo entre homens e mulheres.
— A masturbação é uma doença — diz uma engenheira de 25 anos — uma doença terrível que se desenvolve durante a infância. É preciso explicar às crianças os danos causados por essa atividade, é preciso levar as crianças a pensar em outras coisas.
— Isto está indo longe demais — protesta fora de si, o secretário do Partido de uma grande empresa moscovita -. Imagine o que esses pretensos autores estão fazendo. Esses tipos interrogam nossos empregados sobre a masturbação! Tais questões sapam a ideologia de nosso Estado e permitem à propaganda burguesa lavar os cérebros de nossos operários. Com o simples fato de mencionar noções como essa, pode-se destruir a moral comunista.
Se a masturbação é doença e tabu, homossexualismo é crime e maldição.
— É preciso liquidar os homossexuais, são todos seres inferiores — diz uma laboratorista de 21 anos.
— É um fenômeno inquietante, eles deviam ir presos — declara uma operária da indústria têxtil.
— A sociedade deve eliminá-los — opina um estudante de jornalismo, 27 anos.
— Devem ser torturados — propõe um chofer, 22 anos.
— Depois dos anos 30 — diz uma estudante de cinema, 20 anos — a alegria de viver não mais existe em nosso país, prega-se o ascetismo. São poucas as pessoas que podem falar livremente da sexualidade, sem preconceitos, sem corar nem sentir vergonha. O sexo tem uma função reprodutiva, e é só.
Segundo os autores, uma grande parte das mulheres interrogadas, raramente — ou nunca — têm orgasmo. As chances de conhecer a satisfação sexual constituem privilégio masculino. Mais de um terço das mulheres admite jamais ter chegado lá, nem se masturbando, nem por ocasião de relações sexuais. A maior parte dos homens acha que o vai-e-vem do pênis na vagina é mais que suficiente para proporcionar prazer à mulher. Raros são os que sabem alguma coisa sobre o papel decisivo do clitóris. Qual muçulmanos, ainda não descobriram o que é bem bom. Que mais não seja, para a reprodução, o clitóris não faz falta alguma.
Exceção feita da Polônia e Hungria, onde a duplicidade da cultura católica deixa certa margem ao prazer, os autores constatam nos demais países do Leste um total analfabetismo do corpo, puritanismo, vigilância incessante, intolerância aos pecados mais veniais e uma legislação anti-homossexual medieval.
Aproveitando o lançamento deste livro que desponta como um dos primeiros bestsellers da era pós-comunista, a revista parisiense L’Evenement du Jeudi enviou seus repórteres às repúblicas socialistas vizinhas para auscultar a saúde sexual dos camaradas do leste. Na Alemanha Oriental, talvez por influência da irmã vizinha, o nível de tolerância às opções sexuais de cada um é bastante satisfatório. Um homossexual arrisca de ouvir na rua perguntas como “eles esqueceram de pôr no forno em 45?”, é verdade, mas já se fala em um partido gay para as próximas eleições.
Claro que a RDA ainda sequer cogita das sexshops da Alemanha Ocidental. Com a derrubada do Muro, as lojas de Beate Hushe, antes entregues às moscas, voltaram a locupletar-se de clientes, famílias inteiras do lado oriental, rindo entre perplexas e nervosas, ante a colorida oferta de gadgets, filmes e revistas pornográficas. Na Tchecoeslováquia, a revolução sexual ocorreu há vinte anos, o adultério sempre foi praticado como esporte e hoje, tanto tchecos como eslovacos estão mais imbuídos do amor a Vaclav Havel do que de outros amores.
Na Polônia católica, sexo continua sendo tabu e os aiatolás polacos conseguiram até mesmo proibir que se fale em contracepção. Na Iugoslávia, que sempre repudiou o stalinismo, liberdade sexual não é novidade. O tétrico da coisa sobrou para a Romênia de Ceaucescu.
— Em dez anos — declara o romancista Florin Iaru — só foi possível publicar um único livro sobre sexualidade e mesmo assim... Quando se chegava ao capítulo dos desvios sexuais, fim para toda e qualquer explicação científica! Dizia-se que era efeito dos costumes podres do Ocidente.
Mihaï Bacanu, redator-chefe do Romana Libera, após ter saído da prisão, conta como fazia para escapar ao arbítrio dos Ceaucescu:
— Para driblar a censura, em vez de dizer “igreja” empregava-se palavras como prédio ou casa. Quanto a sexo, no entanto, não havia palavras possíveis, nenhuma referência, nada senão o não-dito.
Mas o melhor mesmo nos conta Ioanna Craciunescu, atriz de cinema:
— Certa vez, eu interpretava uma francesa que havia combatido no maquis durante a guerra. Ela casava com um romeno e o seguia até Bucareste. À noite, ela jogava as roupas de baixo ao pé da cama. Claro que a cena desapareceu durante a montagem. Mas o pior ocorreu durante a filmagem de Ion, um filme baseado no romance de Liviu Rebreanu. Uma jovem camponesa se deixa seduzir por um homem ambicioso. Esta cena, eu a repeti seis vezes. Meu jeito de gritar enquanto ele me fazia amor parecia por demais sugestivo. No final, eu só emitia um pequeno suspiro, como se alguém tivesse me beliscado.
Em sua tentativa de castrar os romenos, os Ceaucescu obrigaram os criadores a exóticos malabarismos. Florin Iaru, por exemplo, quando tinha de escrever “sexo”, escrevia “caneta esferográfica”. Em vez de “orgasmo”, grafava “marasmo”. A censura nada entendia e deixava passar.
O muro de Berlim caiu. Mas falta ainda derrubar outros. Sem uma perestroika no Vaticano, não vai ser fácil.
Porto Alegre, RS, 14.04.90
![]()
sábado, outubro 22, 2011
TRES APROXIMACOES DA POETICA
GAUCHA CONTEMPORANEA
O Abajur de Píndaro & Fabricação do Real traz de volta Armindo Trevisan, de poesia inteira, plenitude, entre nós, do equilíbrio da forma e do conteúdo. É a voz alta da poesia em devesa de um céu mais amplo para o homem — onde se tem, por referências maiores, justiça e liberdade. Ainda que o poeta saiba das oscilações dos tempos e climas, ele se coloca com coragem, em defesa do Homem.
Coração aberto a cobrir com água tua cidade
ar antes da chama no fundo da luz
pedra em branco sobre o ar preso na rede
cujo peixe constrói o sol
corpo de operário
Com palavras candentes, o autor consegue construir seus poemas em cima de uma visão bem mais complexa das relações entre a sua linguagem e a realidade. E, particularmente, de uma visão complexa e rica de seu instrumento específico de trabalho — a linguagem. Sua técnica fragmentária é conseqüência coerente dos temas escolhidos e da maneira de abordá-los. Não há, em O Abajur de Píndaro & Fabricação do Real, aquela gratuidade de processos que desqualifica tantos poetas novos. Pelo contrário, o experimento poético é, em Trevisan, uma necessidade que nasce da própria temática abordada. Pode-se dizer que o corpo de seus poemas, despedaçado em sua unidade, justapondo coisas heterogêneas numa colagem fascinante, é imagem da própria realidade que o poeta tenta fixar.
A pele do cavalo
vai até o céu
na casa
no poço
de papel
o fuzil bebe o silêncio
Trevisan é um dos nossos poetas mais lúcidos, uma das vozes mais graves e altas de nossa poesia em todos os tempos. É um poeta de faca na bota. Que sabe responder aos desafios intelectuais com um testemunho que sempre procurou expressar a partir de uma proposta ao nível dos mais legítimos interesses do seu povo. E desde Santa Maria, até um lugar esquecido de nossa América, onde alguém morra em luta pela liberdade que nasce no coração do homem, ele canta. E o seu canto cresce como um coro, porque ele pega pela palavra a realidade próxima de cada um.
* * *
Memorial traz de volta Luís de Miranda, de poesia inteira, plenitude, entre nós, do equilíbrio da forma e do conteúdo. É a voz alta da poesia em devesa de um céu mais amplo para o homem — onde se tem, por referências maiores, justiça e liberdade. Ainda que o poeta saiba das oscilações dos tempos e climas, ele se coloca com coragem, em defesa do Homem.
Onde tenho a injustiça
me detenho
não há entrave no meu canto
e canto (prova mais dura
de ser presente — não aparente)
o que resiste e sem demora
veste a roupa de sua hora
Com palavras candentes, o autor consegue construir seus poemas em cima de uma visão bem mais complexa das relações entre a sua linguagem e a realidade. E, particularmente, de uma visão complexa e rica de seu instrumento específico de trabalho — a linguagem. Sua técnica fragmentária é conseqüência coerente dos temas escolhidos e da maneira de abordá-los. Não há, em Memorial, aquela gratuidade de processos que desqualifica tantos poetas novos. Pelo contrário, o experimento poético é, em De Miranda, uma necessidade que nasce da própria temática abordada. Pode-se dizer que o corpo de seus poemas, despedaçado em sua unidade, justapondo coisas heterogêneas numa colagem fascinante, é imagem da própria realidade que o poeta tenta fixar.
“Flores” serás
ainda os dias erguidos
a meia voz
com chumbo nas bordas
pois já armei os dias na esperança
com muitos cavalos de insônia.
De Miranda é um dos nossos poetas mais lúcidos, uma das vozes mais graves e altas de nossa poesia em todos os tempos. É um poeta de faca na bota. Que sabe responder aos desafios intelectuais com um testemunho que sempre procurou expressar a partir de uma proposta ao nível dos mais legítimos interesses do seu povo. E desde Santa Maria, até um lugar esquecido de nossa América, onde alguém morra em luta pela liberdade que nasce no coração do homem, ele canta. E o seu canto cresce como um coro, porque ele pega pela palavra a realidade próxima de cada um.
* * *
Ordenações traz de volta Carlos Nejar, de poesia inteira, plenitude, entre nós, do equilíbrio da forma e do conteúdo. É a voz alta da poesia em devesa de um céu mais amplo para o homem — onde se tem, por referências maiores, justiça e liberdade. Ainda que o poeta saiba das oscilações dos tempos e climas, ele se coloca com coragem, em defesa do Homem.
Encontrei o humano
— o seu rosto inteiro —
não somente traços.
Já posso tangê-lo
posso conferi-lo
O que ele sente
é o estar ausente.
Com palavras candentes, o autor consegue construir seus poemas em cima de uma visão bem mais complexa das relações entre a sua linguagem e a realidade. E, particularmente, de uma visão complexa e rica de seu instrumento específico de trabalho — a linguagem. Sua técnica fragmentária é conseqüência coerente dos temas escolhidos e da maneira de abordá-los. Não há, em Ordenações, aquela gratuidade de processos que desqualifica tantos poetas novos. Pelo contrário, o experimento poético é, em Nejar, uma necessidade que nasce da própria temática abordada. Pode-se dizer que o corpo de seus poemas, despedaçado em sua unidade, justapondo coisas heterogêneas numa colagem fascinante, é imagem da própria realidade que o poeta tenta fixar.
Buscas o que te busca
Escutas a lamúria, sem telégrafo,
dos que a esposam, viúva.
Nejar é um dos nossos poetas mais lúcidos, uma das vozes mais graves e altas de nossa poesia em todos os tempos. É um poeta de faca na bota. Que sabe responder aos desafios intelectuais com um testemunho que sempre procurou expressar a partir de uma proposta ao nível dos mais legítimos interesses do seu povo. E desde Santa Maria, até um lugar esquecido de nossa América, onde alguém morra em luta pela liberdade que nasce no coração do homem, ele canta. E o seu canto cresce como um coro, porque ele pega pela palavra a realidade próxima de cada um.
Porto Alegre, Correio do Povo, 28/02/76
![]()
sexta-feira, outubro 21, 2011
QUE DEVO LER PARA ENTENDER O PATO DONALD?
“Por que Platão é tão simples e o Scarinci tão complexo?”
Aníbal Damasceno Ferreira
Conta Mário Quintana que certa vez uma professora do interior perguntou-lhe que ler para entender Shakespeare. O poeta, simples e sábio, disse:
— Shakespeare, minha filha.
Nos últimos anos, têm surgido em livros e jornais sofisticadas análises das histórias em quadrinhos. Li há pouco um comentário sobre Mandrake onde se analisava a relação patrão-empregado e o binômio empregado-servo no universo ficcional de Falk & Davis, falava-se da saga dos super-heróis e finalizava com a frase do mais prolífico crítico de cinema nacional, que via em Mandrake o “nosso mágico de todos os sonhos”. Ainda recentemente, houve quem quisesse ver, numa inocente historinha de O Tico-tico, profundas implicações kafkianas e mais: o autor da historieta é apontado como precursor de Kafka. E se começamos a ler a bibliografia que está sendo lançada sobre o assunto, chegaremos à conclusão, diante dos complexos esquemas gráficos onde são dissecados os ontossemas, sintagmas e semiemas, que história em quadrinhos é algo muito profundo, fora do alcance do comum dos mortais. Já há mesmo quem veja em Chapeuzinho Vermelho implicações freudianas, e em Branca de Neve o evento do capitalismo e da propriedade privada (a posse exclusiva pelo príncipe) em substituição ao sistema primitivo e coletivista, a posse de Branca pelos sete anões.
Diante de tão doutas considerações, veiculadas por jornais e editoras de prestígio, imagino a inocente professora do interior perguntando-se, confusa:
— Que devo ler para entender o Pato Donald?
Recordo outra época em que esta epidemia intelectualóide grassava em Porto Alegre, em outro campo, a crítica de cinema. O western foi elevado à categoria de culminância da arte cinematográfica, o mocinho era o herói nietzscheano por excelência, um quebra-quebra num saloon não mais era um quebra-quebra num saloon, mas a “instauração do caos no cosmos que compunha a medida demencial do desencadeamento da desordem no mundo”. Os filmes de Maciste tinham implicações mito-teológicas e, no bandido, outrora representação do Mal, via-se a “figura destrágica do anti-herói”.
Um episódio da época vale a pena ser referido. Na noite de estréia de Alphaville, de Godard, no Rex, espectadores confusos perguntavam a um crítico porque determinado personagem, após receber duas balas na testa, reaparecia vivo nas cenas seguintes. Disse então o crítico a seus discípulos:
— Na obra godardiana vemos a destemporalização do tempo, o emprego do tempo psicológico referido por Bergson em L’Intuition créatrice e utilizado por Proust em À la Recherche du temps perdu, que nada tem a ver com o tempo cronológico, este independente de nossas subjetividades.
Soube-se mais tarde o que de fato havia ocorrido: o operador trocara os rolos do filme. A ejaculação mental do crítico foi fugaz. Durou uma noite.
O fenômeno não era local. Tinha suas raízes em Paris, mais precisamente nos Cahiers de Cinema. Como ainda acontece, os movimentos que surgem em Paris, dois anos após suas mortes, reaparecem no Brasil, onde pontificam por cinco a dez anos. (A propósito, quem mais fala ainda no nouveau roman?). Talvez a livraria Coletânea, em boa-fé, tenha sido responsável pelo vírus, pois era ali que os críticos tinham acesso aos virulentos Cahiers.
Na época, utilizando a mesma terminologia dos críticos, fiz uma análise dos personagens de Disney. A confusão intelectual era tamanha que durante uma semana a análise foi levada a sério. Um “quadrinhólogo” (idioma tolerante o nosso!) do centro do País procurou-me para incluir meu artigo numa antologia. Ainda não esqueço seu ar desolado quando lhe afirmei que não passava de uma piada.
O artigo teve efeitos saneadores: desde então, não mais se usou em Porto Alegre aquela abordagem pretensamente complexa, sofisticada e vazia, na crítica de filmes. Mas o vírus não foi extinto e ressurge agora na crítica (a que ponto chegamos!) de histórias em quadrinhos. Haja antibióticos.
Não existe ainda no Brasil uma associação de desenhistas, roteiristas ou enfim, de criadores de histórias em quadrinhos. Mas já há uma Associação dos Críticos de História em Quadrinhos. Aliás, isto é um sintoma típico da crítica. Mal surge, se associa, busca cúmplices. O criador está muito ocupado em seu trabalho, que é fundamentalmente individual, para dispor de tempo para fundar entidades. Não por acaso, recém agora se pretende fundar uma associação de cineastas gaúchos, quando já existiu, há uns sete ou oito anos, a Associação Gaúcha de Críticos de Cinema, de saudosa memória. Cinema, que é bom, nunca houve.
Não me parece ser difícil isolar este novo vírus. É o estruturalismo, mais um “mal gálico”.
O primeiro mal gálico que contaminou o Brasil foi a sífilis. Perguntei-me certa vez porque se usam até hoje, na fronteira, palavras como galica, galiqueira e engalicar. Foi lendo uma História da Prostituição, de Lujo Basserman, e as Memórias do Coronel Falcão, de Aureliano Figueiredo Pinto, que descobri a origem dos termos. A sífilis foi detectada pela primeira vez em uma guarnição militar francesa estabelecida em Nápoles. Os franceses chamavam a infecção de mal napolitano, enquanto que os italianos a chamavam de mal gálico. (Até que um médico com dotes de diplomata resolveu o impasse sugerindo a expressão mal venéreo). A palavra chegou a Porto Alegre e à fronteira através das profissionais francesas importadas pelos fazendeiros gaúchos, que estavam ancoradas no Clube dos Caçadores, que ficava no atual prédio da CEEE, vide o romance de Figueiredo Pinto.
Para a sífilis já existem antibióticos. Mas o estruturalismo ainda continua grassando impunemente. Seus agentes transmissores são bolsistas brasileiros contaminados nas promíscuas salas da Université de Paris, onde há pouco, um professor de comunicações — ó, gênio! — descobriu que a comunicação mais direta entre duas pessoas é a sexual. Mais direta inclusive que a palavra, carta, telefone, jornal, rádio ou TV. Assim é Paris.
Analisadas através dos métodos estruturalistas, tanto a obra de Guimarães Rosa como a de Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, adquirem dimensões grandiosas. Como também os quadrinhos.
Depois de uma rápida olhadela no livro Quadrinhos, de Cagnin, imagino a professora do interior sentindo-se esmagada e inculta ao ler uma Luluzinha ou Capricho, diante das infinitas possibilidades interpretativas que a história oferece.
A moda da crítica de quadrinhos apenas começou. O surto durará mais alguns anos. Até que um outro vírus substitua este. Pois os tempos de uma independência intelectual brasileira estão longe, parece-me.
Nossa época é de pobreza espiritual. O estruturalismo é apenas um sintoma desta pobreza. No fundo, em nada difere dos salões de arte moderna, dos desfiles de moda, dos psiquiatras para cães, da crônica social, do culto do medíocre. Os meios de comunicação multiplicaram milhões de vezes o gesto ou a palavra imbecil de um ídolo qualquer do momento. A fome de uma criança atirada na rua não sensibiliza ninguém. O seio esquerdo da sra. Ford deixa o mundo em suspense, os mais prestigiados jornais lhes abrem manchetes. Ninguém se preocupa em captar a magia dos poemas de Quintana, não vi ainda nenhum estudo sobre sua obra. Aliás, Mário é à prova de estruturalistas. Seus poemas são claros, não admitem interpretações.
No entanto, já existem eruditos estudos sobre os super-heróis americanos. Moacy Cirne está preocupadíssimo com as relações entre Mandrake e Lothar, relações que permitem qualquer interpretação, desde homossexualismo e racismo até colonialismo. Mas a pergunta fundamental — e a única que se impõe — não é feita: quantos milhões de dólares Mandrake transporta num passe de mágica para os industriais norte-americanos?
(Porto Alegre, Correio do Povo, 31/05/75)
![]()
